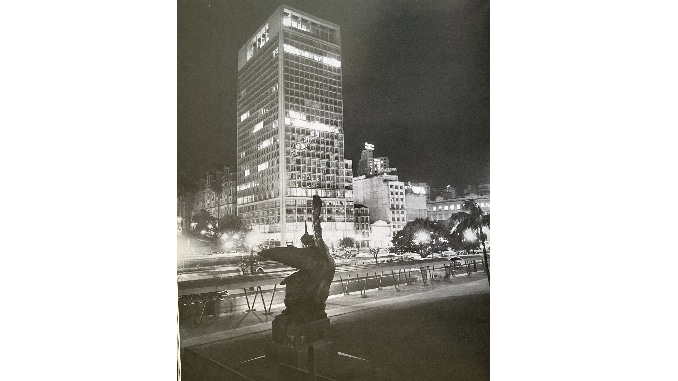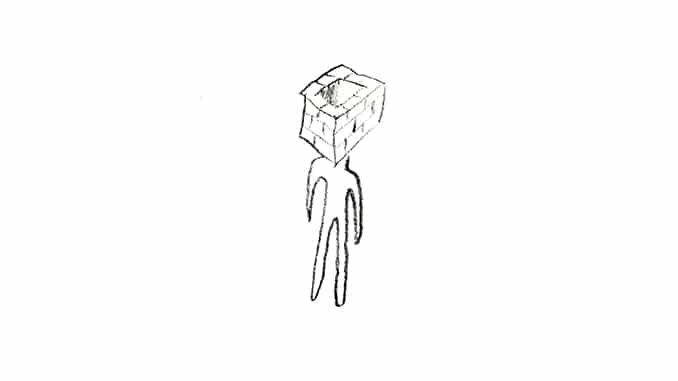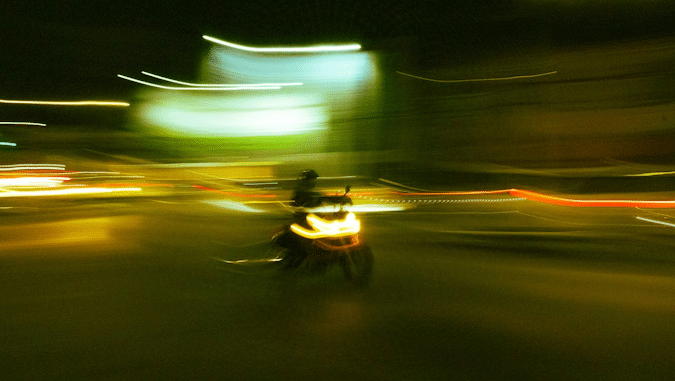Por JEAN MARC VON DER WEID*
Holocausto, genocídio, carnificina, crimes de guerra? Como qualificar o confronto entre o Estado de Israel e o povo palestino?
Desde logo, não se trata de um confronto entre o terrorismo do Hamas e o exército israelense. O que estamos assistindo é uma etapa de um confronto que antecede em muito a existência do Hamas. Ele começa antes mesmo da criação do Estado de Israel, em 1947.
O movimento sionista teve início no século 19 com o financiamento da migração de judeus, sobretudo de europeus do Leste, para o território que hoje se denomina, alternativamente, de Palestina ou de Estado israelense. Inicialmente o processo era o de compra de terras dos habitantes, então súditos do Império Otomano.
Assentamentos judaicos foram se multiplicando aos poucos, sem gerar maiores reações entre os “nativos”, em sua imensa maioria árabes muçulmanos, agricultores pobres. A propaganda sionista, em tempos mais modernos, afirmou a narrativa de que era uma “terra sem povo (Palestina), destinada a ser ocupada por um povo sem terra (judeus)”. Após a Primeira Guerra Mundial, que levou ao desmembramento do Império Otomano e a criação do Mandato da Palestina, protetorado britânico, o movimento se acelera um pouco, mas as estatísticas apontam para a existência de uma população com 93% de árabes para 7% de judeus.
É preciso lembrar que estes últimos eram ainda uma comunidade onde predominavam os judeus nativos na Palestina que conviviam com os árabes há muitos séculos. Os migrantes europeus, porém, eram mais organizados e agressivos no seu projeto expansionista, enquadrado pelo movimento sionista.
O quadro atual começa a se desenhar após a Segunda Grande Guerra. O Holocausto eliminou “cientificamente” seis milhões de judeus. Além dos judeus, os nazistas eliminaram centenas de milhares de ciganos, comunistas, homossexuais e outros, além de milhões de prisioneiros de guerra russos. A chamada “solução final” dos nazistas tinha metas de extermínio através da criação de uma ação policial de identificação, captura, transporte, detenção, eliminação por gás e incineração dos cadáveres em uma verdadeira operação logístico/industrial em larga escala.
Os sobreviventes do Holocausto procuraram um lugar para viver, e os países de origem não constituíam uma alternativa atraente, haja visto a bem conhecida hostilidade antissemita das maiorias em países como Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha, entre outros. Foi neste quadro que ganhou força a proposta sionista da busca da “retomada da terra prometida por Deus a Moisés”.
Quem viu o filme hollywoodiano Exodus, lembrará a música premiada “This land is mine” (esta terra é minha), uma reprodução do lema da campanha sionista. No filme, um barco fretado pelos sionistas repleto de sobreviventes do Holocausto, fica impedido de desembarcar seus passageiros no porto de Haifa, dando origem a campanhas de solidariedade em todo o mundo.
A solidariedade internacional, sobretudo com os sobreviventes do Holocausto, foi fortalecida pelo horror a que foram submetidos os judeus na Europa, mas também pelo sentimento de culpa de muitos países ocidentais, em particular os Estados Unidos, por terem se recusado a receber os refugiados que buscavam escapar das garras do nazismo antes do início da guerra. Este sentimento contribuiu em muito com o crescente apoio à proposta da criação do Estado de Israel, que entrou em debate na recém-criada Organização das Nações Unidas.
Os britânicos, responsáveis pelo território reivindicado pelos sionistas, enfrentaram ações políticas dos emigrados judeus na Palestina que logo adquiriram formas mais radicais, com a criação de organizações terroristas como o Irgun. Com a batata cada dia mais quente, a Grã-Bretanha passou a apoiar a criação do novo Estado. O mapa do novo país foi desenhado pelos negociadores da ONU, com um formato recortado em pedaços que ocupavam a metade da área atual. Apesar da resolução da ONU estipular a criação de dois Estados, não havia um movimento equivalente dos palestinos que permitisse, naquele momento, que isto se efetuasse.
Por outro lado, os Estados árabes vizinhos se opuseram à criação do Estado de Israel, com uma excelente justificativa: mesmo dentro do espaço “outorgado” pela ONU aos judeus, a grande maioria dos habitantes era de árabes muçulmanos. A criação do Estado de Israel foi considerada como uma arbitrariedade ocidental. Em nome de que se fazia esta concessão? O argumento de que se tratava de um território “historicamente” judeu era prá lá de complicado. Se a ONU começasse a rediscutir quem tem direito a que terras por razões históricas seria preciso rever o mapa mundi inteiro. Povos expropriados não faltam, mais notória e recentemente, os curdos e os armênios.
Palestinos e os países árabes rejeitaram o novo Estado e adotaram um programa radical de liquidação do enclave judaico/ocidental no oriente médio. Por outro lado, o movimento sionista não ficou satisfeito com a concessão da ONU e seguiu reivindicando toda a área entre as fronteiras do Líbano, Egito, Síria e Jordânia e o mar Mediterrâneo. Mas o problema mais imediato do novo Estado era o fato de que a população judaica era amplamente minoritária no país. A solução adotada foi a de expulsar, manu militari, milhões de palestinos de suas terras e suas casas. Em poucos anos, com extrema brutalidade que só difere da atual pelo armamento utilizado, milhões de palestinos foram mandados para a Faixa de Gaza e para o Líbano, onde viveram em acampamentos por décadas. E ainda assim os judeus eram minoria, enquanto os palestinos remanescentes tornaram-se cidadãos de segunda classe, com direitos restritos em comparação com os judeus.
A Guerra dos 7 dias, em 1967, foi a oportunidade de Israel de ampliar o seu território, ocupando a Cisjordânia, as colinas de Golã (Síria) e pedaços menores de outros países. O mapa de Israel dobrou e o movimento de ocupação de terras foi se expandindo. No governo de Yitzhak Rabin foi feito um acordo de paz com a Organização de Libertação da Palestina, entidade que coordenou as ações políticas, diplomáticas e militares contra o Estado israelense.
A OLP nasce nos acampamentos de refugiados e, até os acordos de Camp David e de Oslo, foi a única representante dos oprimidos, dentro e fora do território de Israel. Estes acordos foram boicotados pela direita sionista inclusive com o assassinato de Rabin. O fracasso dos acordos, com o recrudescimento do movimento expansionista de colonização da Cisjordânia, o impasse no debate sobre os refugiados fora das fronteiras, e o endurecimento sempre mais à direita da política israelense, a OLP perdeu representatividade e surgiram outros movimentos, mais radicais, como o Hamas e o Hezbollah e outros menores. O governo de Benjamin Netanyahu estimulou o primeiro em Gaza, visando rachar o movimento palestino, o que conseguiu nas eleições de 2006.
Como disse na primeira frase deste artigo, o que se passa hoje na Palestina é mais um episódio de um enfrentamento inexorável desde a origem do Estado de Israel. Os sucessivos governos israelitas não alteraram as políticas de ocupação de território (com a breve exceção do período pós os acordos mencionados acima) e a busca por uma eliminação dos não judeus, em particular dos árabes, para garantir a existência de um país etnicamente homogêneo. Apesar das oscilações políticas, mais ou menos à direita, nos governos israelenses, prevaleceram as posições mais extremadas e coerentes com este objetivo de limpeza étnica.
A minoria antirracista e democrática em Israel não é pequena e, em várias oportunidades, derrotou o extremismo dos Begins e Netanyahus (há outros piores no atual governo). Mas esta minoria está amarrada pela falta de alternativas para o conflito e apenas consegue, eventualmente, frear o processo. Recentemente, o movimento civilista e democrático conseguiu, através de grandes mobilizações de massa, conter as tentativas de ampliação dos poderes do executivo por parte do atual primeiro-ministro.
Para Benjamin Netanyahu, o ataque do Hamas foi uma benção e tudo leva a crer que houve uma facilitação por parte do exército de Israel, já que até os serviços de inteligência do Egito advertiram a iminência da ofensiva terrorista. É provável que o governo de Israel tenha minimizado o risco que ia correr, dada a quantidade de falhas da reação militar. Mas o ataque serviu para unificar o governo e colocar os críticos na defensiva e, sobretudo, para dar a oportunidade de fazer uma ação de limpeza étnica na faixa de Gaza.
A violência da ação do exército israelense não tem a ver com algum objetivo militar, tal como diz o governo de Israel. Não se trata de eliminar o Hamas, seus militantes e militares ou sua liderança. Isto é o pretexto. O objeto é eliminar a população de Gaza, dois e meio milhões de pessoas. Eliminar não significa, necessariamente, matar a todos. O objeto é fazê-los partir. Já conseguiram reduzir a população do norte do enclave (cidade de Gaza) de 1,2 milhão para 300 mil.
Agora a proposta é empurrar quase dois milhões que se aglomeram na parte sul da Faixa de Gaza, na cidade de Rafah, obrigando os egípcios a abrirem a fronteira para os receber. O governo do Egito está resistindo à pressão e mantém fechada a fronteira, mas por quanto tempo vai resistir? O bombardeio crescente em Rafah, as condições de sobrevida cada vez mais difíceis e o horror quotidiano estampado nos meios de comunicação de todo o mundo estão levando a uma situação insustentável.
A aposta do governo israelense é que o desespero dos milhões de palestinos os conduza a tentar atravessar a fronteira egípcia em massa. E o que vai fazer o exército egípcio? Metralhar e canhonear os refugiados? Israel está provocando este desespero, e o bloqueio de alimentos, água, medicamentos e energia é ainda mais brutal do que os bombardeios. Mesmo tão amplos como estão sendo, os bombardeios mataram perto de 30 mil palestinos e feriram provavelmente três vezes mais. Mas o bloqueio atinge a todos os palestinos e já deve ter matado mais do que as armas.
Não há solução para esta crise, cuja raiz está na própria criação do Estado de Israel. A limpeza étnica, se for conseguida, será a um preço gigantesco em vidas humanas e em perspectiva de vida para os milhões de refugiados. E, lembremos, as expulsões em massa de palestinos dos anos 1940 e 1960 não deram paz ao povo de Israel. A direita israelense vende ao eleitorado uma miragem de um país de judeus bem defendidos dentro de suas fronteiras.
Esquece o preço a pagar mais intangível: o custo moral de conquistar a “terra prometida”, imitando seus algozes nazistas na sua política de “espaço vital” no leste europeu embora eu não ache que Benjamin Netanyahu imite Hitler quando a questão é o Holocausto. A não que se estique muito a “metáfora”, os dois processos não são comparáveis, nos objetivos, nos métodos e na escala. Há uma diferença entre matar judeus por serem judeus, e mais, exterminá-los metodicamente em todos os países ocupados pelos alemães e expulsar palestinos de seus lares, terras e territórios mesmo que massacrando milhares dentre eles. O objeto da fúria nazista no Holocausto era o extermínio de uma etnia. O objeto da fúria sionista é a limpeza étnica do território de Israel.
O que o governo israelense está fazendo já é sinistro, horrendo e intolerável sem que seja preciso forçar a comparação com o Holocausto. A meu ver, o uso indevido da comparação por Lula prestou um serviço para a política nefasta de Benjamin Netanyahu ao desviar a atenção do público do debate sobre a gravidade das suas ações para o terreno delicado da singularidade histórica do extermínio dos judeus na segunda guerra. O sionismo saiu das cordas e vai alimentar a polêmica com Lula ao máximo. Enquanto isso, a direita brasileira tenta sair das cordas atacando Lula. Embora a grande imprensa não tenha a coragem de defender Benjamin Netanyahu, as redes sociais do bolsonarismo estão a mil por hora.
No curto prazo, a posição defendida por Lula e pela diplomacia brasileira, apontando os massacres e desumanidades em grande escala perpetrados pelo exército de Israel e apelando para um cessar fogo imediato, é a mais correta e está ganhando espaço aqui e no mundo apesar do tropeço desnecessário.
No longo prazo, a saída através dos dois Estados me parece ilusória. Hoje em dia, no território ocupado pelo governo de Israel, os judeus ainda são minoria, embora a relação seja bem mais equilibrada do que há 85 anos atrás: 49%. E na área de expansão mais estratégica para o sionismo, a antiga Cisjordânia, já são 500 mil os colonos judeus. Onde vai ficar este Estado Palestino?
O impasse histórico provocado pela criação do Estado de Israel tende a se perpetuar e pode ser ainda mais violento e perigoso tanto na região como no mundo como um todo. Os extremistas israelenses estão preocupados com o desequilíbrio na evolução das populações árabe e judaica. Os primeiros se multiplicam mais rapidamente do que os segundos, apesar do esforço reprodutivo dos judeus ultraortodoxos (os mais radicais entre os israelitas), cujas famílias são muito mais numerosas do que entre os outros crentes ou não crentes.
Se os combates, hoje ou no futuro, levarem ao envolvimento dos países vizinhos, a resposta de um Israel acuado deverá ser usar armamento ainda mais pesado e, no limite, suas armas atômicas. Não é segredo o fato de que Israel dispõe de bombas nucleares táticas e o seu uso pode levar a uma escalada com consequências imprevisíveis no Levante, sobretudo se o Irã lograr produzir armamento equivalente. Neste caso extremo, que rezamos para não ocorrer, teríamos vários “holocaustos” na região e o risco de uma guerra nuclear generalizada.
Desarmar este conflito passaria pela rediscussão da distribuição do espaço entre os dois Estados, com a evacuação de centenas de milhares de colonos judeus de todos os territórios ocupados ilegalmente desde a guerra dos 7 dias. Isto implica em uma profunda modificação do estado de espírito da população israelita e de seu governo, mas também da renúncia do programa de eliminação do Estado de Israel por parte dos palestinos e dos países árabes. No curto prazo o essencial é parar a carnificina.
Embora não seja o objeto desta discussão, não custa lembrar que o ocidente produziu carnificinas tão ou mais brutais em escala maior. Vide as bombas atômicas lançadas sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki ou os bombardeios incendiários que mataram ainda mais gente em Tóquio. Ou os bombardeios com bombas de fósforo sobre as grandes cidades alemãs com centenas de milhares de mortes civis nos últimos meses da guerra. No dizer de Roosevelt, em uma justificativa apresentada ao Congresso americano, era uma punição aos alemães pelos bombardeios a Londres. O humanismo não faz parte do ideário das classes dominantes.
*Jean Marc von der Weid é ex-presidente da UNE (1969-71). Fundador da organização não governamental Agricultura Familiar e Agroecologia (ASTA).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA