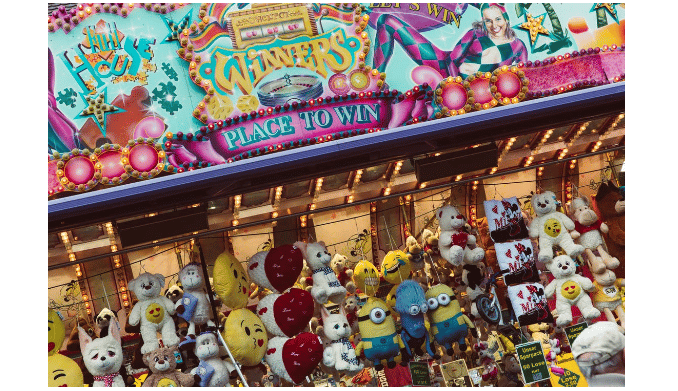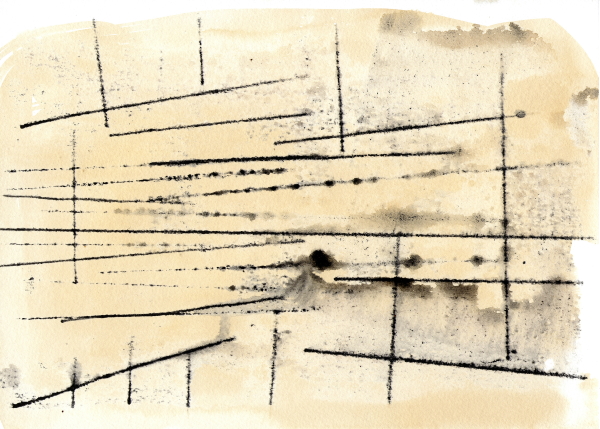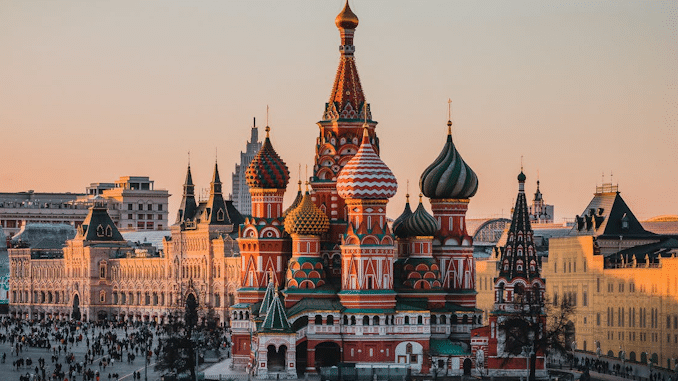Por PAULO BUTTI DE LIMA*
Não é preciso um sinal claro de advertência para que as degenerações políticas mais deletérias ocupem seu espaço na sociedade, em suas instituições e na mente dos indivíduos.
“Se o fascismo se introduzisse nos EUA, seria chamado democracia”. Pronunciada há quase um século, essa frase continua tocando um nervo sensível da reflexão política. Há algo espantoso na constatação de que não é preciso um sinal claro de advertência, ou um breve momento de passagem, para que as degenerações políticas mais deletérias ocupem seu espaço na sociedade, em suas instituições e na mente dos indivíduos. Não se requer um certificado oficial, o aval das escolas de ciência política ou o juízo dos formadores de opinião.
Como o que nos assusta é sempre o que há de mais simples, os fantasmas políticos podem se mover entre nós sem estar amparados na imagem que os atores políticos dão de si mesmos. Permanece, então, o desafio de distinguir um conceito ou forma política na ausência de uma sua representação assumida (ou declarada). Quando, tempos atrás, juristas e sociólogos alemães procuraram separar os tipos ideais das formas empíricas de governo, temiam provavelmente levar para o céu da teoria as utopias socialistas e democráticas, mas acabaram por dar um novo sentido ao problema da recorrência e da inovação no campo das formas extremas do autoritarismo encarnadas na comunidade política (tirania, despotismo, cesarismo, etc.).
Não se sabe ao certo quem pronunciou a frase sobre o fascismo americano. Em seu tom hipotético, ela parece ter sido formulada por alguém que já percebia, no território dos Estados Unidos, a sombra do movimento político então vigente na Itália e tomado como modelo na Europa. Permanecia subentendido que essa forma política é como um corpo que, apesar de estranho, conseguia naquele momento se adaptar às instituições de um dos países que mais utilizaram a palavra “democracia” como um instrumento de autodistinção. Talvez a frase tenha sido expressa, mesmo se não literalmente, por um ex-governador da Louisiana, cuja carreira política foi interrompida bruscamente por seu assassinato; ou senão criada por seus críticos, que o acusavam de populismo, principalmente por favorecer programas de assistencialismo econômico-político. Para esses críticos, o fascismo de então corresponderia ao excesso de intervenção do Estado quando este procura restringir a esfera da ação selvagem das elites econômicas.
Aquela frase foi retomada anos mais tarde pelo jurista de origem austríaca Hans Kelsen, quando professor na Universidade da Califórnia. Era 1955, e pouco depois Charles Wright Mills publicaria uma das mais eficazes descrições da natureza oligárquica do sistema político americano, distante, sem equívocos, de seu autorretrato em vestes democráticas. Kelsen tomou sua citação de uma obra intitulada Symbols of Democracy, em que se descreve, entre outras coisas, o uso positivo que a palavra “democracia” recebia na União Soviética. O valor simbólico do termo chave do vocabulário político contemporâneo permite o viés ideológico da leitura de Kelsen: com a janela americana escancarada diante de si, ele se recusa a olhar para a paisagem e volta ao quarto escuro do qual proviera, onde, junto com o arquirrival Carl Schmitt, praticava exercícios quotidianos de anticomunismo. O que o incomodava era a equiparação entre democracia e igualdade econômico-social, não a negação das formas de participação num mecanismo político cada vez mais restrito e censitário.
Entre as retomadas mais interessantes da declaração sobre o fascismo americano, um tema propalado em anos recentes também por elites liberais abaladas em seu poder político, está a de Bertolt Brecht. Em seu diário, em 1942, no exílio americano, o escritor lembra uma discussão noturna e sombria: “Kline, que fez um filme sobre o México com Steinbeck (música: Eisler) esteve aqui à noite [1]. Ele pensa que se possa esperar em certa resistência ao fascismo graças ao sentimento americano de democracia. Leonhard Frank e Kortner eram céticos. Ora, é verdade que há algo aqui [nos Estados Unidos] chamado comportamento democrático, provavelmente porque toda a sociedade foi improvisada desde o início – não havia feudalismo e o militarismo era supérfluo. Mas isso significa somente que a luta de classes aqui continua sem conversas de salão, ou seja, o vencedor não demonstra também, de sobrancelhas erguidas, desprezo pela vítima e os lucros são esbanjados com certa vulgaridade. O fascismo americano tomaria em consideração essas formas ou ausência de formas e seria, nesse sentido, democrático”.
Para Brecht, o assim chamado comportamento democrático e a vulgaridade se correspondem (uma lição de Tocqueville e antes ainda de Platão). Esta seria uma das faces assumidas pelo fascismo em sua nova encarnação moral no solo americano. O fascismo não seria a negação da democracia, mas somente um desenvolvimento da forma especial que ela revestia na América. A democracia era então, como é ainda hoje, o campo em que se joga a partida das representações autoritárias ou igualitárias – por meio dela entram em combate as diferentes concepções de justiça na esfera política (como ensina Aristóteles).
Hoje o Brasil tomou a vanguarda, no campo das discussões sobre as variadas e mesmo ambíguas formas de neofascismo, tornando-se um verdadeiro laboratório das expressões de violência autoritária. Mas, diferentemente do mundo americano de Brecht, o país já está, em boa parte, desprovido de uma roupagem democrática, ou seja, já joga fora de campo. Muitos, no país, não sentem a exigência de recorrer a qualquer disfarce formal ou institucional como se vê nas apresentações públicas de homens políticos e representantes culturais. Em anos recentes, tornou-se mais habitual falar de valores republicanos, o que logo se transformou (ai, tradição) numa linguagem de bacharéis.
*Paulo Butti de Lima é professor na Universidade de Bari, Itália. Autor, entre outros livros, de Democrazia. L’invenzione degli antichi e gli usi dei moderni, (Firenze-Milano 2019) [tradução em português no prelo pela EdUFF].
Notas
[1] Herbert Kline, o diretor do documentário sobre o México (roteiro de John Steinbeck, fotografia de Alexander Hammid), lembrado acima pela esperança que depositava na democracia americana em sua capacidade de reação ao fascismo europeu, foi em seguida perseguido pelo comitê fascista de atividades antiamericanas e desde então, até sua morte, sua produção de documentários cinematográficos permaneceu extremamente reduzida.