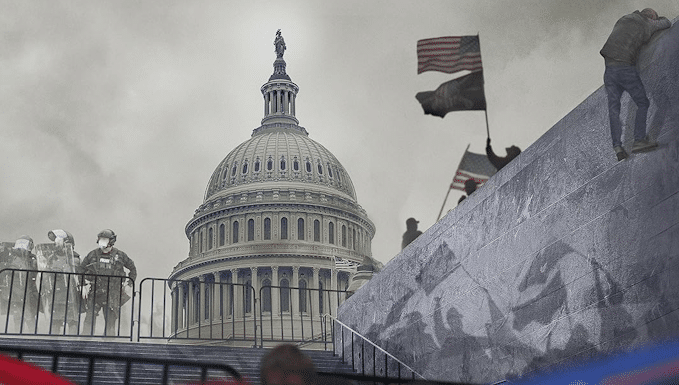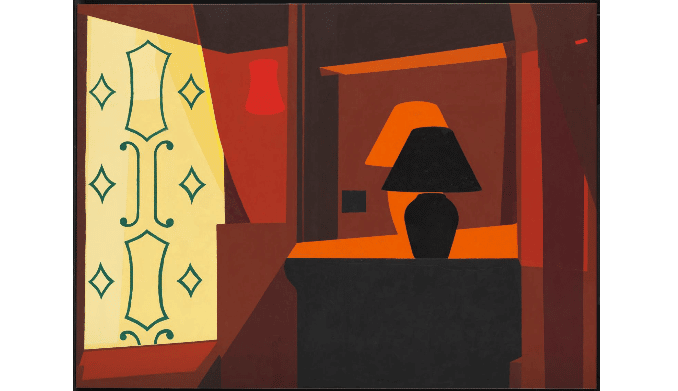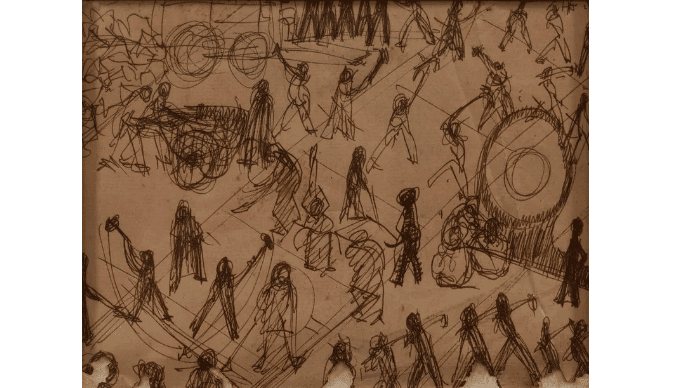Por JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR*
O capital fictício hipoteca o futuro e esgota o presente, convertendo vidas em variáveis de ajuste. As mortes por desespero são a expressão última de uma sociabilidade que, ao confiscar o amanhã, deixa o hoje insuportável.
A única saída é uma luta material e subjetiva para reaver o tempo comum
Introdução
“Mortes por desespero” não são uma nota de rodapé macabra em uma planilha – são um sintoma que ruge uma mensagem. O termo foi usado pela primeira vez por Anne Case e Angus Deaton após observarem que os trabalhadores brancos da classe média baixa nos EUA estavam se matando silenciosamente, se não por corda, então por agulha ou por bebida (CASE; DEATON, 2020).
Poderia ter acabado apenas como mais uma curiosidade mórbida, um flash na panela de um único país e uma única década. Mas não: a coisa aumentou exponencialmente, como uma sombra. Atravessou continentes, cortou classes, deslizou seu caminho por becos e universidades. O que está em questão é uma socialidade incapaz de se relacionar com o futuro.
No Brasil, a lacuna é muito mais ampla. Aqui, a fragilidade do trabalho é combinada com um aperto fiscal que se apodera do fundo público. Não foi meramente o Apêndice Número 95 da Constituição de 1988: foi também a decisão dos acionistas de que o Estado selecionaria os credores e deixaria os trabalhadores de fora. O enredo já estava escrito, e o Marco Fiscal de 2023 o confirmou: os juros devem ser pagos em dia, mesmo que isso custe hospitais, escolas e bolsas de pesquisa (PAULANI, 2019). É um projeto social que exige produtividade dos corpos na medida em que os torna descartáveis.
Karl Marx já havia visto a armadilha: o capital portador de juros gera uma antinomia ilusória de riqueza, um direito de extrair o valor excedente a ser produzido (MARX, 2017). Hoje em dia, essa lógica alcançou independência, a ponto de comandar a política econômica de nações soberanas inteiras. François Chesnais (2005) descreveu isso como a “globalização do capital” da dominação financeira. O resultado? Uma apreensão do tempo. O amanhã não é mais uma promessa; é um penhor.
E o que resta para a pessoa que sente o laço apertando? Ela sabe que nenhum estudo, trabalho ou reinvenção de si mesma fará a máquina girar em seu favor. Em 2023, o IBGE contou 8,4 milhões de desempregados e outros 22 milhões subutilizados. Números? Não. Vidas em limbo; à espera. E quando a sociedade não oferece mais um horizonte, o suicídio deixa de ser tabu – é algo que parece se aproximar.
O fato de lidarmos com as zonas periféricas do sistema mundial torna a situação ainda mais grave. No Brasil, onde a precariedade financeira do trabalho coexiste com regras fiscais de austeridade que apertam o pote público e transformam o orçamento do Estado em um veículo para a remuneração dos detentores da dívida. A Emenda Constitucional 95 – que introduziu o teto de gastos em 2016 – e o novo marco fiscal que entrou em vigor em 2023, são expressões do mesmo movimento: garantir o fluxo de pagamentos de juros mesmo que isso represente a redução sistemática do investimento público em saúde, educação e assistência social (PAULANI, 2019). É um projeto que, através da remoção do Estado como garantidor do bem-estar, produz vidas que são excedentes e exige que essas mesmas vidas sejam produtivas e resilientes.
A arma que pode mobilizar todas as forças nesta máquina de violência e produção é a noção marxiana de capital fictício. No volume III de O Capital, Marx (2017) já apontava que o capital portador de juros é uma duplicação fictícia de riqueza, praticamente uma forma de antecipação do valor excedente futuro. Ao alcançar autonomia da produção, o capital fictício submete o reino da produção às suas próprias regras de valorização, subordina o presente ao imperativo de proporcionar retorno aos investidores.
François Chesnais (2005) refere-se a isso como o “regime de acumulação financeirizado”, onde os Estados-nação se tornam executores de fluxos de renda que são frações rentistas. Essa apropriação do tempo social é também uma apropriação do futuro: o que poderia ser investimento em política pública é forçado a poupança para credores.
O desespero é político, bem como psicológico. Em algum nível, acontece quando uma pessoa percebe que não pode superar sua vulnerabilidade por meio de ajuste, treinamento ou trabalho. O desemprego estrutural, a informalidade e o desânimo registrados pelo IBGE – que ainda indicavam em 2023 8,4 milhões de desempregados e 22 milhões subutilizados – não são apenas números: são sinais de que a promessa de mobilidade social se desacreditou. Quando não há mais um caminho visível à frente na sociedade, agir no extremo – seja isso suicídio ou abandono – torna-se uma opção real.
Segundo a literatura crítica brasileira, a crise não é apenas econômica, mas civilizacional. Ricardo Antunes (2018) afirma que, nas últimas décadas, houve uma metamorfose do trabalho, que, além de aumentar a exploração, fragmentou as identidades e erodiu o sentido coletivo. Ambos mostram que a precariedade não é derivada, mas estrutural, e o sofrimento que causa é cada vez mais visível nos índices de saúde mental, nas vendas de ansiolíticos e no aumento dos suicídios.
Este artigo visa pensar as mortes por desespero através da lente da tese do capital fictício, combinando reflexão teórica e empírica. O argumento é que a progressão da financeirização, que converte o fundo público em um ativo financeiro e a universidade em uma plataforma de produção de valor reputacional, gera um sistema temporal em que o presente está esgotado e o futuro é impossível. O resultado é a era das vidas suspensas – e a rendição é entendida como o ato final de autonomia. Ao longo do texto, tentaremos mostrar que essas perdas não são passagens de morte singulares, mas sintomáticas de uma socialidade incapaz de estender o horizonte do amanhã.
Capital fictício e a produção do vazio do futuro
O conceito de capital fictício é essencial para a análise do funcionamento do capitalismo hoje. Em Marx, é o nome para títulos de propriedade que incorporam uma reivindicação de valor excedente futuro, mas funcionam como se fossem riqueza real. Como aponta Eleutério Prado (2021), é um capital autônomo que se desvincula do processo produtivo, produzindo a aparência de valorização infinita. Essa duplicação virtual do capital é a lógica dominante do capitalismo global uma vez que a financeirização começa a reestruturar não apenas a economia, mas também instituições e formas de vida, a partir dos anos 1970.
Em países dependentes, essa lógica assume características particularmente perversas. O ajuste fiscal permanente que o Brasil entrou em 2015 pode ser datado do início dos anos 2000, quando algumas políticas sociais e de inclusão expandiram o fundo público. A Emenda 95 altera a constituição estadual para estabelecer um teto de gastos que limitará as despesas essenciais por 20 anos, permitindo que aumentem apenas à taxa de inflação do ano anterior.
Traduzido em outras palavras, a política fiscal brasileira foi subordinada ao princípio de remuneração do capital portador de juros: se a economia cresce, as receitas crescem, mas a contenção das despesas sociais, que aperta o espaço para o serviço da dívida, é mantida.
François Chesnais (2005) descreve esse processo de captura do Estado pela finança como um “regime de acumulação financeirizado”, no qual os governos se tornam subordinados ao aumento do preço dos ativos financeiros. Essa captura se materializa em efeitos imediatos na vida de todos nós: desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, redução de bolsas da Capes e do CNPq, depressão da condição das universidades e dos programas de assistência social.
O que está em jogo é uma “redistribuição” do tempo social, para trás: menos tempo para viver de forma saudável, menos tempo para educação, menos tempo para lazer e trabalho protegido.
Sem um futuro, aqui, não é uma atitude da mente, mas um fato da vida. Se o Estado entrega o planejamento do desenvolvimento e a manutenção das políticas de seguridade social, o horizonte coletivo diminui. Famílias se endividam para pagar educação e saúde; jovens atrasam ou renunciam a projetos de vida; trabalhadores trabalham mais horas do que o necessário para manter um nível mínimo de consumo. Isso é o que Piven e Cloward chamaram de temporalidade da financeirização: o futuro está sempre hipotecado.
Conforme mantido por Leda Paulani (2019), a financeirização transforma fundos públicos em ativos financeiros e coloca a política econômica no “fetiche da credibilidade” diante dos mercados, restringindo assim o espaço para a ação governamental. Este ponto é confirmado por exemplos internacionais.
Na Grécia, o memorando de austeridade assinado com a Troika após a crise de 2008 trouxe reduções massivas nas pensões, uma venda de propriedades nacionais e, segundo a Organização Mundial da Saúde, um aumento de 35% nos suicídios entre 2010 e 2012.
Na Argentina, onde houve desvalorização e forte inflação, um acordo semelhante foi feito: um que mistura precisamente o crédito do FMI com arranjos não aprovados pelo Congresso. O novo acordo de 2022 impôs condições ainda mais duras, ampliando a pobreza para mais de 40% da população. O efeito sobre a saúde mental foi devastador.
Exemplos como esses mostram que é a política de “recuperar a confiança do mercado” que constrói um não-futuro: as oportunidades de lucratividade são mantidas pelos portadores de capital fictício, enquanto a vida é sacrificada no altar da credibilidade.
No Brasil, o efeito combinado do teto de gastos e de uma política monetária restritiva trouxe uma perda acumulada de mais de R$ 400 bilhões em investimento social entre 2016 e 2022. Enquanto isso, o pagamento de juros sobre títulos do governo consome cerca de 5% do PIB. Esta redistribuição de dinheiro para rentistas decide, em última instância, quem continua vivendo e quem é descartado.
Quando clínicas fecham, quando municípios cortam serviços e quando bolsas universitárias são suspensas, não é apenas o dinheiro que é retirado – é o futuro que se dissolve. A produção de mortes por desespero é o lado inverso do tempo social capturado. O que o capital fictício exige é a entrega permanente do presente, em nome de um amanhã que nunca chega.
Saúde mental e necropolítica financeira
A demolição das políticas de saúde mental do Estado brasileiro, particularmente a partir de 2016, é uma das características mais notáveis do que Achille Mbembe (2018) chamou de “necropolítica” – somos nós que decidimos quem pode viver e quem deve morrer.
Quando o financiamento para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é cortado e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) colapsa, o Estado não apenas abandona indivíduos necessitados, mas também seleciona silenciosamente quem poderá se tornar uma estatística. O capital fictício, ao exigir compressão das despesas primárias para pagamento de juros, transforma a vida em variável de ajuste. A austeridade é uma política de morte que atinge primeiro os pobres, jovens, mulheres e populações racializadas.
Entre 2016 e 2022, dados do Ministério da Saúde mostram que o orçamento federal destinado à saúde mental caiu quase 30%. No mesmo período, a taxa de suicídio aumentou 11%, com maior incidência em estados que fazem fronteira com a Amazônia e entre populações indígenas – que sofrem, em média, quatro vezes mais mortes por suicídio do que a população geral.
Quando um CAPS fecha em uma cidade de médio porte, perde-se não apenas a estrutura física, mas toda uma rede de apoio composta por psicólogos, psiquiatras e grupos comunitários. O resultado é isolamento, desemprego, endividamento e exclusão social.
Mbembe (2018) observa que o neoliberalismo incorpora a morte como componente normal dos cálculos econômicos. Essa lógica se estende a cada universidade, hospital e serviço público, onde indicadores e metas são definidos sem considerar a complexidade da vida. Em última análise, define quem é investível e quem é descartável.
Segundo Giovanna Buarque de Gusmão (2022), essa é uma forma de “miséria social”: não se trata de doenças isoladas, mas de riscos coletivos que se espalham como epidemia. O suicídio e as drogas passam a ser saídas extremas de uma vida diária insuportável.
Anne Case e Angus Deaton (2020) mostram que nos Estados Unidos uma epidemia de mortes por desespero foi alimentada pela soma da retirada da política doméstica, desindustrialização e colapso comunitário. Cada morte por desespero desorganiza famílias e comunidades inteiras, criando ondas de sofrimento de segunda ordem e aprofundando a sensação de impotência.
Política universitária, capital fictício e o descarte da vida
A universidade pública, tradicionalmente vista como espaço de produção de conhecimento crítico, tem sido engolida pelo capital fictício. Nas últimas duas décadas, o sistema de gestão universitária consolidou-se de forma a transformar ciência em ativo intangível e pesquisa de mercado em ferramenta para valorização institucional. Leda Paulani (2019) argumenta que essa conversão do patrimônio público em capital simbólico opera em sincronia com rankings e métricas internacionais, submetendo a instituição ao “fetiche da credibilidade”.
Eleutério Prado (2021) observa que essa aceleração transforma o professor-pesquisador em gestor de si mesmo, forçado a otimizar sua produção para atender agências de fomento e competir por prestígio. O resultado é uma subjetividade exaurida, marcada por jornadas de trabalho que invadem o espaço doméstico e corroem as fronteiras entre vida pessoal e profissional.
A ANPEd (2022) aponta que 72% dos docentes relataram sintomas de ansiedade e 64% declararam sentir-se sobrecarregados pela multiplicidade de tarefas. Esse sofrimento compromete a qualidade da formação estudantil e a própria função da universidade como espaço de resistência intelectual. Ao mesmo tempo que aumenta o número de publicações, reduz o tempo para reflexão crítica.
Dados da Capes mostram que, entre 2015 e 2021, houve redução de cerca de 20% no número de bolsas de mestrado e doutorado, afetando diretamente a renovação científica do país. Jovens pesquisadores se desmotivam, e muitos partem para o exterior. Everton Fargoni (2023) caracteriza essa fuga de cérebros como “exportação gratuita de força de trabalho altamente qualificada”, com perda estratégica para o desenvolvimento nacional.
A universidade, convertida em plataforma de capital reputacional, deixa de projetar alternativas civilizatórias e passa a funcionar como vitrine de eficiência para investidores. O conhecimento torna-se mercadoria simbólica, mensurada por métricas de impacto e patentes. O desespero docente é duplo: o corpo se esgota e o espírito perde o sentido.
Conclusão
As mortes por desespero são a expressão extrema de um modelo de sociabilidade que esgota o presente e confisca o futuro. Este texto demonstrou que o fenômeno é estrutural, enraizado na lógica do capital fictício que impõe austeridade permanente, subordina o fundo público aos credores e transforma direitos sociais em passivos fiscais. François Chesnais (2005) chamou isso de regime de acumulação financeirizado — e sua brutalidade é ampliada em países dependentes como o Brasil.
O que está em jogo é a reorganização do tempo social. O capital fictício dissolve o horizonte de longo prazo, substituindo-o por um presente contínuo e urgente. Essa captura afeta tanto o trabalhador precarizado quanto o professor-pesquisador. O resultado é uma sociedade cansada, na qual desistir torna-se um gesto de liberdade.
Para reverter esse quadro, é necessário reconstruir o fundo público e reinventar as instituições capturadas pela lógica financeira. A universidade pública ocupa um lugar estratégico: precisa recuperar sua função social, reorientar sua produção de conhecimento para as necessidades da maioria e restabelecer o tempo longo da reflexão crítica. Autores como Licínio Lima propõem uma universidade insurgente, baseada em práticas democráticas de decisão, articulação com movimentos sociais e reapropriação do fundo público. Ela é resposta institucional à ausência de futuro.
Cada morte por suicídio, cada overdose, cada vida ceifada pelo abandono estatal é um chamado ético para interromper o ciclo de financeirização e recolocar a vida no centro da política. Recuperar o futuro significa reconstruir laços comunitários, restituir o sentido de pertencimento e afirmar que nenhuma vida é descartável.
A luta pelo comum é o antídoto para o desespero: precisa ser material, simbólica e subjetiva. Só assim será possível converter desesperança em indignação e indignação em transformação.
*João dos Reis Silva Júnior é professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Autor, entre outros livros, de Educação, sociedade de classes e reformas universitárias (Autores Associados). [https://amzn.to/4fLXTKP]
Referências
ALVES, Giovanni. Dimensões da precarização do trabalho: ensaios de sociologia do trabalho. Bauru: Canal 6, 2013.
ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Relatório sobre saúde mental docente no Brasil. Brasília: ANPEd, 2022.
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.
BUARQUE DE GUSMÃO, Giovanna. Sofrimento social e políticas de cuidado no Brasil contemporâneo. Revista Psicologia & Sociedade, v. 34, e252391, 2022.
CASE, Anne; DEATON, Angus. Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2020.
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 2005.
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017.
FARGONI, Everton Henrique Eleutério. Ciência, trabalho e a fuga de cérebros do Brasil. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v. 32, n. 2, p. 101–115, 2023.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua: Mercado de Trabalho, 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA