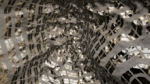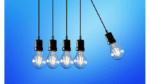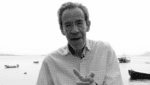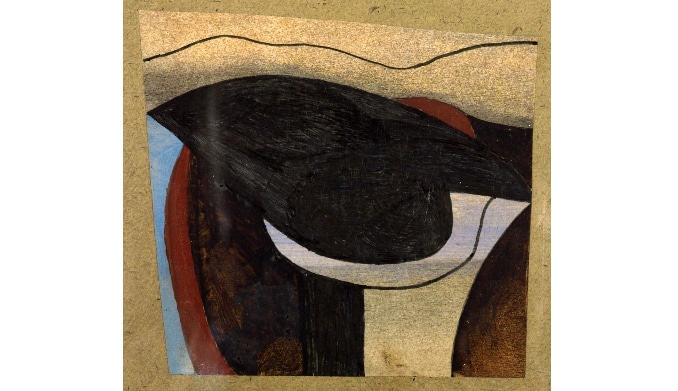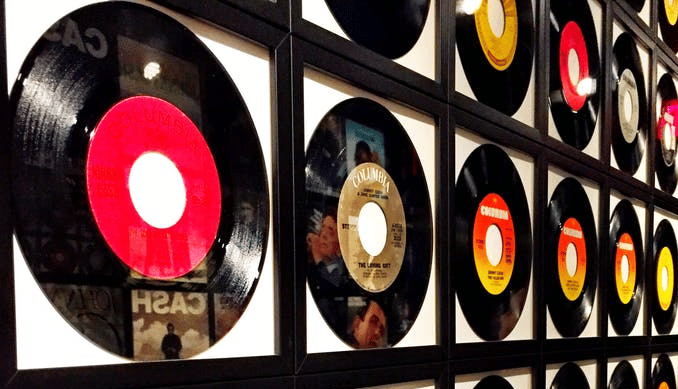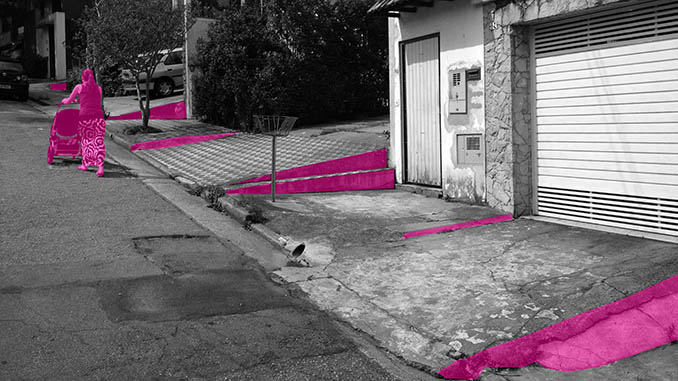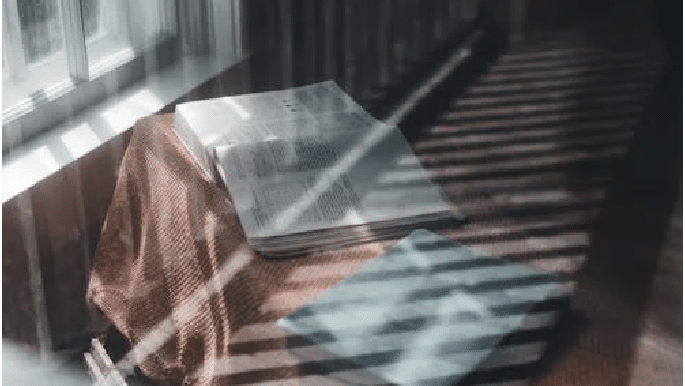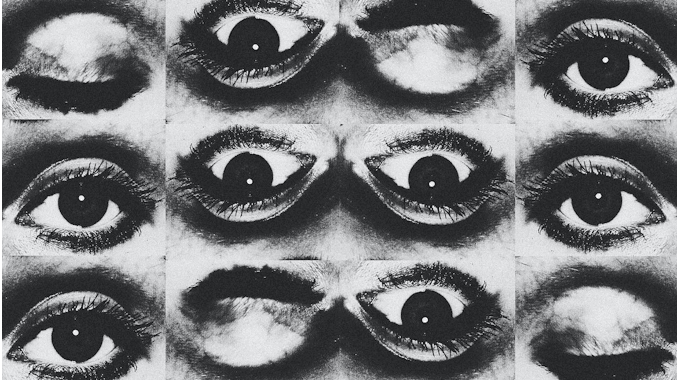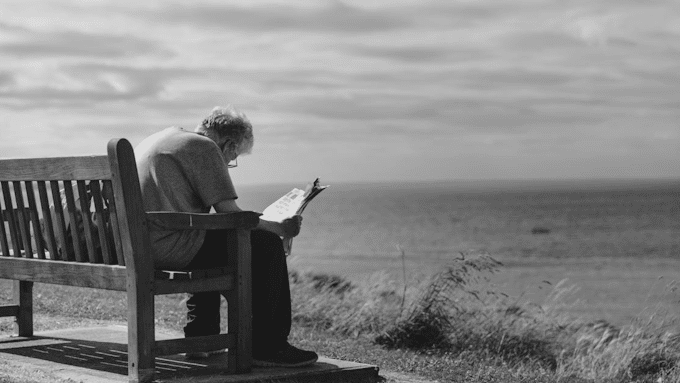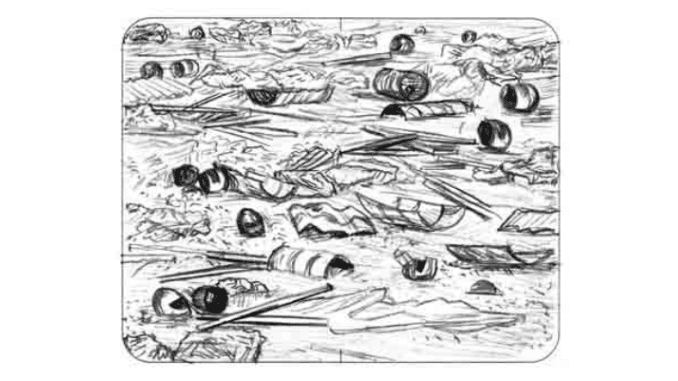Por GABRIEL TELES*
O golpe de 1964 emerge como solução para o problema de crise da acumulação de capital, criando condições para isso a partir de um generalizado processo repressivo
O período da ditadura militar brasileira (1964-1985) significa uma nova reconversão da forma estatal do país. Uma das fragilidades do capitalismo subordinado é o seu aparato estatal que oscila, efemeramente, entre regimes ditatoriais e democráticos. A questão aqui, no entanto, é analisar rapidamente as especificidades da ditadura militar que se iniciou com o golpe de Estado de 1964.
Dois são os elementos elementares para o desencadeamento do golpe militar de 64: as lutas dos trabalhadores, no cenário de crise mundial do regime de acumulação conjugado, e a busca pelo aumento da taxa de extração de mais-valor no capitalismo subordinado brasileiro – significando, portanto, maior exploração. É na década de 60 que aparece os primeiros sintomas da crise do capitalismo oligopolista transnacional: os Estados Unidos, maior potência econômica, apresenta déficits expressivos em sua balança comercial ao longo de toda a década de 50 além da queda da taxa lucro nos países europeus.
Consequência desse processo foi, além de outras ações, a necessidade de aumento da exploração nos países de capitalismo subordinado, especialmente via drenagem do mais-valor pelo capital transnacional. O período dos governos desenvolvimentistas populistas foi fundamental para a integral inserção do capital transnacional no país, sobretudo o governo de Juscelino Kubistchek, com a expansão da infraestrutura do país, significando a já mencionada tríplice aliança no capitalismo brasileiro da época.
Assim, se há o aumento da exploração, há a ampliação, igualmente, da resistência e das lutas dos trabalhadores e dos demais setores da sociedade. Há, então, uma guerra, especialmente no movimento operário, pelo nível salarial, que oscilava e perdia valor com as intensas inflações daquele período histórico.
A oscilação salarial, bem como a resistência operária e as lutas no interior da sociedade civil, interferem direta ou indiretamente no capitalismo mundial. Um dos fundamentos do capital transnacional é a transferência de mais-valor dos países subordinados para os países imperialistas, significando, portanto, uma interdependência. Daí a participação, fundamental, dos Estados Unidos no golpe de 1964. Benevides (2006) evidencia que a participação estadunidense na implementação do regime ditatorial brasileiro significou a necessidade de fortalecimento de uma política econômica que favorecesse, mais ainda, a entrada e consolidação das empresas multinacionais no Brasil.
Em síntese, havia um duplo descontentamento: de um lado, o capital transnacional e o capital nacional insatisfeitos com a queda da taxa de exploração, aprofundada com a crise no regime de acumulação conjugado; e, por outro, o movimento operário e outros setores da sociedade civil, que ficam com seus salários e suas condições de vida pauperizadas a cada ano. Assim, por razões opostas ou antagônicas, o descontentamento é generalizado, contribuindo para um maior acirramento dos conflitos sociais.
A renovação do regime ditatorial brasileiro, no contexto de 1964, tinha como determinação esse processo, obtendo êxito em dilacerar a resistência operária e da sociedade civil, além de expurgar os governos populistas que travavam, na principal forma de regularização da sociedade (Estado), medidas que possibilitassem uma necessária alta da taxa de lucro. Nesse sentido, o golpe de 1964 emerge como uma solução, tanto nacional quanto internacional, para o problema de crise da acumulação de capital, criando condições para isso a partir de um generalizado processo repressivo. É nesses moldes que surge o “milagre brasileiro”.
Gabriel Teles é doutorando em sociologia na Universidade de São Paulo (USP). É autor, entre outros livros, de Análise marxista dos movimentos sociais (Redelp).
Referências
BENEVIDES, Sílvio César Oliveira. Na Contramão do Poder: juventude e movimento estudantil. São Paulo: Annablume, 2006.
MARIANO, Nilson. As garras do condor: como as ditaduras militares da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Brasil, da Bolívia e do Paraguai se associaram para eliminar adversários políticos. Editora Vozes, 2003.
TRAGTENBERG, Maurício. Exploração do Trabalho I: Brasil. In: Administração, poder e ideologia. 3. ed. rev. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
VALENTE, Rubens. Os fuzis e as flechas: História de sangue e resistência indígena na ditadura. São Paulo: Cia da Letras, 2017.
VALLE, Maria Ribeiro do. 1968: o diálogo é a violência – movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. 2° ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2018.
VIANA, Nildo. Acumulação capitalista e golpe de 64. Revista História e Luta de Classes, Rio de Janeiro, v.01, n. 01, p. 19-27, 2005.