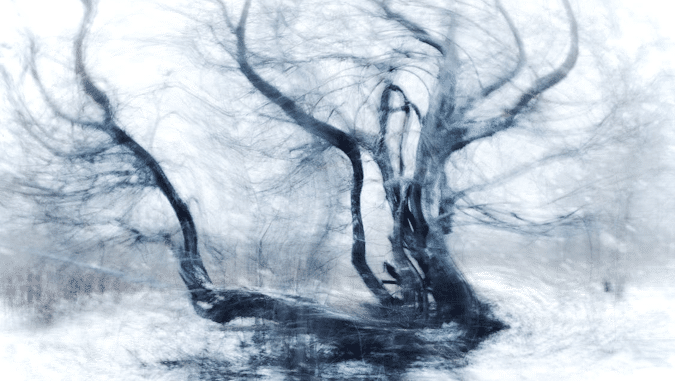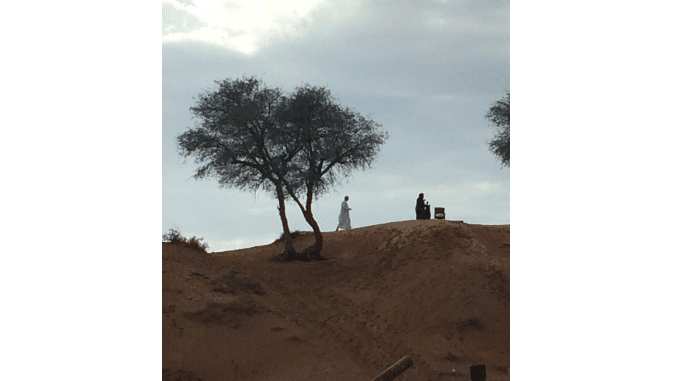Por CLAUDIO KATZ*
A Turquia, a Arábia Saudita e o Irã rivalizam entre si a partir de configurações subimperiais
Turquia, Arábia Saudita e Irã estão competindo pela primazia em um novo contexto de destaque regional das tensões do Oriente Médio. Essa gravitação é registrada por muitos analistas, mas a conceituação desse papel requer o recurso a uma noção introduzida pelos teóricos marxistas da dependência. O subimperialismo aplica-se a esses casos e contribui para esclarecer a peculiar intervenção desses países no cenário traumático da região. A categoria é relevante e comum em vários níveis, mas também tem três significados muito singulares.
Características e singularidades
O subimperialismo é uma forma paralela e secundária do imperialismo contemporâneo. Ela se encontra em potências médias que mantêm uma distância significativa dos centros do poder mundial. Esses países desenvolvem relações contraditórias de convergência e tensão com as forças hegemônicas da geopolítica global, e Turquia, Arábia Saudita e Irã se encaixam nesse perfil.
Os subimpérios surgiram no período pós-guerra com a extinção massiva das colônias e a crescente transformação das semicolônias. A ascensão das burguesias nacionais nos países capitalistas dependentes mudou substancialmente o status dessas configurações.
No segmento superior da periferia, irrompem modalidades subimperiais, em sintonia com o processo contraditório de persistência global da lacuna centro-periferia e a consolidação de certos segmentos intermediários. O principal teórico dessa mutação descreveu as principais características do novo modelo nos anos 1960, observando a dinâmica do Brasil (MARINI, 1973).
O pensador latino-americano situou o surgimento dos subimpérios em um contexto internacional marcado pela supremacia dos Estados Unidos, em tensão com o chamado bloco socialista. Ele destacou o alinhamento dessas formações com o primeiro poder na Guerra Fria contra a URSS. Mas ele também enfatizou que os governantes desses países reivindicaram seus próprios interesses. Eles desenvolveram cursos de ação autônomos e às vezes conflitantes com o comandante americano.
Essa relação de parceria internacional e poder regional próprio se consolidou como uma característica posterior do subimperialismo. Os regimes que adotam esse perfil têm laços conflitantes com Washington. Por um lado, eles assumem posições intimamente interligadas, ao mesmo tempo em que exigem um tratamento respeitoso.
Essa dinâmica de subordinação e conflito com os Estados Unidos acontece com uma velocidade imprevisível. Regimes que pareciam ser marionetes do Pentágono embarcam em atos fraccionários de autonomia, e países que agiram com grande independência se submetem a ordens da Casa Branca. Essa oscilação é uma característica do subimperialismo, que contrasta com a estabilidade prevalecente nos impérios centrais e suas variedades alterimperiais.
Potências regionais que adotam um perfil subimperial recorrem ao uso da força militar. Eles utilizam esse arsenal para fortalecer os interesses das classes capitalistas em seus países, dentro de um raio de influência limitado. Ações bélicas têm como objetivo disputar a liderança regional com concorrentes do mesmo tamanho.
Os subimpérios não atuam na ordem planetária e não compartilham as ambições de domínio global de seus parentes maiores. Eles restringem sua esfera de ação à esfera regional, estritamente em sintonia com a influência limitada dos países de médio porte. O interesse em mercados e lucros é o principal motor das políticas expansionistas e das incursões militares.
A gravitação realizada nas últimas décadas pelas economias intermediárias explica esse correlato subimperial, que não existia na era clássica do imperialismo no início do século XX. Foi somente no período posterior do pós-guerra que essa influência das potências médias veio à tona, e se tornou ainda mais significativa atualmente.
No Oriente Médio, a rivalidade geopolítico-militar entre os atores da própria região tem sido precedida por algum desenvolvimento econômico desses atores. A era neoliberal acentuou a predominância internacional do petróleo, a desigualdade social, a precarização e o desemprego em toda a região. Mas também consolidou várias classes capitalistas locais, que operam com maiores recursos e não disfarçam seus apetites para obter maiores lucros.
Esse interesse pelo lucro impulsiona a engrenagem subimperial de países igualmente situados no meio da divisão internacional do trabalho. Turquia, Arábia Saudita e Irã estão rondando essa inserção, sem se aproximar do clube das potências centrais.
Eles compartilham a mesma localização global que outras economias intermediárias, mas complementam sua presença nessa esfera com poderosas incursões militares. Essa extensão das rivalidades econômicas para o reino da guerra é um fator determinante em sua especificidade subimperial (KATZ, 2018).
Atualidade e raízes
O subimperialismo é uma noção útil para registrar o substrato da rivalidade econômica que está por trás de muitos conflitos no Oriente Médio. Ela permite que esse interesse de classe seja notado, ao contrário de diagnósticos centrados em disputas pela primazia de alguma vertente do Islã. Tais interpretações em termos religiosos obstruem o esclarecimento da real motivação por trás dos conflitos crescentes.
Os negócios em disputa entre Turquia, Arábia Saudita e Irã explicam o caráter único do subimperialismo nesses países. Em todos os três casos, governos belicosos no comando de Estados dirigidos por burocracias militarizadas estão em ação. Todos utilizam credos religiosos para fortalecer seu poder e capturar maiores quotas de recursos em disputa. Os subimpérios têm procurado, na Síria, conquistar os espólios gerados pela destruição de território, e a mesma competição está ocorrendo na Líbia pela partilha do petróleo. Lá, eles estão engajados nas mesmas lutas que as grandes potências.
No nível geopolítico, os subimpérios da Turquia e da Arábia Saudita estão em sintonia com Washington, mas não participam das decisões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) nem das definições do Pentágono. Eles se distinguem da Europa no primeiro terreno e de Israel no segundo, e não estão envolvidos na determinação da batalha que o imperialismo americano está travando para recuperar a hegemonia diante do desafio da China e da Rússia. Sua ação é restrita à órbita regional. Eles mantêm relações contraditórias com o poder dos Estados Unidos (EUA) e não aspiram a substituir os grandes dominadores do planeta.
Mas sua intervenção regional é muito mais relevante do que a de seus pares em outras partes do mundo. Ações subimperiais da mesma magnitude não são vistas na América Latina ou na África. O subimperialismo no Oriente Médio está ligado às antigas raízes históricas dos impérios otomano e persa. Tal conexão com fundações de longa data não é muito comum no resto da periferia.
As rivalidades entre os poderes incluem, nesse caso, uma lógica que remete à antiga competição entre dois grandes impérios pré-capitalistas. Não é apenas a animosidade entre otomanos e persas que remonta ao século XVI. As tensões deste último conglomerado com os sauditas (xiitas versus wahhabitas) também têm uma longa história de batalhas pela supremacia regional (ARMANIAN, 2019).
Essas grandes potências locais não foram diluídas na era moderna. Tanto o império otomano quanto o persa se mantiveram no século XIX, impedindo que o Oriente Médio fosse simplesmente tomado (como a África) pelos colonialistas europeus. O desmoronamento Otomano no início do século seguinte deu origem a um Estado turco que perdeu sua antiga primazia, mas renovou sua consistência nacional. Não foi relegado ao status meramente semicolonial.
Durante a República Kemalista, a Turquia sustentou um desenvolvimento industrial próprio, que não teve o sucesso do bismarquismo alemão ou seu equivalente japonês, mas moldou a classe capitalista média que dirige o país (HARRIS, 2016). Um processo similar de consolidação burguesa ocorreu sob a monarquia Pahlavi no Irã.
Ambos os regimes participaram ativamente da Guerra Fria contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para defender seus interesses na fronteira contra o gigante russo. Eles hospedaram bases americanas e seguiram o roteiro da OTAN, mas reforçaram seus próprios arranjos militares. O subimperialismo, portanto, carrega fundações antigas em ambos os países e não é uma improvisação do cenário atual.
Esse conceito fornece um critério para entender os conflitos em curso, superando a vaga noção de “choques entre impérios”, que não distingue os atores globais de seus equivalentes regionais. Os subimpérios mantêm uma diferença qualitativa com seus pares maiores que vai além da simples lacuna de escala. Eles adotam papéis e desempenham funções muito diferentes das do imperialismo dominante e de seus associados.
Eles também entram em conflito uns com os outros em deslocamentos de alinhamentos externos e em conflitos de enorme intensidade. Devido à magnitude desses confrontos, alguns analistas registraram a presença de uma nova “guerra fria inter-árabe” (CONDE, 2018). Mas cada um dos três casos atuais apresenta características muito específicas.
O protótipo turco
A Turquia é o principal expoente do subimperialismo na região. Vários marxistas discutiram esse status em polêmicas com o contraste do diagnóstico semicolonial (GÜMÜŞ, 2019). Eles enfatizaram os sinais de autonomia do país, ao contrário da opinião de que ele é fortemente dependente dos Estados Unidos.
Esse debate destacou corretamente a obsolescência do conceito de semicolônia. Esse status foi uma característica do início do século XX que perdeu peso com a subsequente onda de independência nacional. A partir de então, a sujeição econômica ganhou preeminência sobre a dominação explicitamente política.
A despossessão sofrida pela periferia nas últimas décadas não alterou esse novo padrão introduzido pela descolonização. A dependência assume outras modalidades na era atual, e a noção de semicolônia é inadequada para caracterizar economias médias ou países com uma longa tradição de autonomia política, como a Turquia.
O status subimperial da Turquia se reflete em sua política regional de expansão externa e em seu relacionamento contraditório com os Estados Unidos. A Turquia é de fato um elo da OTAN e abriga um monumental arsenal nuclear sob a custódia do Pentágono na base İncirlik. As bombas armazenadas nessa instalação tornariam possível destruir todas as regiões vizinhas (TUĞAL, 2021).
Mas Ancara realiza muitas ações por conta própria sem consultar o guardião americano. Adquire armas russas, discorda da Europa, envia tropas a vários países sem consulta e compete com Washington em muitas negociações comerciais.
O papel da Turquia como potência autônoma foi, de fato, reconhecido pelos Estados Unidos como uma peça do xadrez regional. Vários líderes da Casa Branca toleraram as aventuras de Ancara sem vetá-las. Eles fecharam os olhos para a anexação do norte do Chipre em 1974 e permitiram a perseguição de minorias entre 1980 e 1983.
A Turquia não desafia o governante americano, mas aproveita as derrotas de Washington para intensificar suas próprias ações. Erdogan fez várias alianças com rivais americanos (Rússia e Irã) para impedir a criação de um Estado curdo.
As oscilações do presidente ilustram o típico comportamento subimperial. Há uma década, ele inaugurou um projeto de islamismo neoliberal ligado à OTAN e destinado a se conectar com a União Europeia. Esse curso foi apresentado por Washington como um modelo para a modernização do Oriente Médio. Mas nos últimos anos, os porta-vozes do Departamento de Estado mudaram drasticamente de tom. Eles passaram de elogios a críticas e, em vez de elogiar um regime político simpático, começaram a denunciar uma tirania hostil.
Essa mudança na classificação de seu polêmico parceiro nos EUA foi acompanhada pelas próprias oscilações da Turquia. Erdogan manteve sua política externa em equilíbrio enquanto gerenciava as tensões internas com certa facilidade. Mas ele foi desviado por operações além de suas fronteiras quando perdeu o controle do curso local. O gatilho foi a onda democratizadora da Primavera Árabe, a revolta curda e o surgimento de forças progressistas.
Erdogan respondeu com violência contrarrevolucionária ao desafio da rua (2013), às vitórias dos curdos e ao avanço da esquerda (2015). Ele optou por um autoritarismo virulento e repressivo, uniu forças com variantes seculares reacionárias e lançou uma contraofensiva com bandeiras nacionalistas (USLU, 2020). Sob essa bandeira, ele persegue adversários, prende ativistas e dirige um regime que é próximo a uma ditadura civil (BARCHARD, 2018). Seu comportamento se enquadra no perfil autoritário que prevalece em todo o Oriente Médio.
Em poucos anos, transformou seu islamismo neoliberal inicial em um regime de direita ameaçador, o que minou a oposição burguesa. As classes dirigentes finalmente endossaram um presidente que deslocou a antiga elite secular kemaliana e excluiu do poder os setores mais pró-americanos.
Aventuras externas, autoritarismo interno
Erdogan optou por um curso pró-ditatorial após a experiência fracassada de seu colega Morsi. O projeto islâmico conservador da Irmandade Muçulmana foi demolido no Egito pelo golpe militar de Sisi. Para evitar um destino semelhante, o presidente turco reativou as operações militares externas.
Esse curso militarista também inclui um perfil ideológico mais autônomo do Ocidente. Os discursos oficiais exaltam a indústria nacional e pedem a expansão do comércio multilateral a fim de consolidar a independência da Turquia. Tal retórica é intensamente utilizada para denunciar as posições “antipatrióticas” da oposição. Sem abandonar a OTAN ou questionar os EUA, Erdogan se distanciou da Casa Branca.
Essa autonomia levou a sérios conflitos com Washington. A Turquia estabeleceu um “cinto de segurança” com o Iraque, fortaleceu sua presença de tropas na Síria, enviou tropas para o Azerbaijão e está testando alianças com o Talibã no Afeganistão. Essas aventuras – parcialmente financiadas pelo Catar e pagas com recursos provenientes de Trípoli – são até agora de escopo limitado. São operações de baixo custo econômico e alto benefício político. Elas distraem a atenção doméstica e justificam a repressão, mas desestabilizam a relação com os EUA.
Erdogan reforça o protagonismo das forças armadas, que desde 1920 têm sido o principal instrumento da modernização autoritária do país. O subimperialismo turco está enraizado nessa tradição belicista, que padronizou coercivamente a nação através da imposição de uma religião, uma língua e uma bandeira. Essas bandeiras estão agora sendo retomadas a fim de expandir a presença externa e conquistar os mercados vizinhos. Uma variante mais selvagem desse nacionalismo foi usada no passado para exterminar os armênios, expulsar os gregos e forçar a assimilação linguística dos curdos.
O presidente da Turquia preserva esse legado no novo formato da direita islâmica. Ele incentiva os sonhos expansionistas e exporta contradições internas com tropas no exterior. Mas ele age em nome dos grupos capitalistas que controlam as novas indústrias de exportação de médio porte. Essas fábricas localizadas nas províncias têm impulsionado o crescimento das últimas três décadas.
Como a Turquia importa a maior parte de seu combustível e exporta manufaturas, a geopolítica subimperial procura sustentar o desenvolvimento da indústria. A agressividade de Ancara no norte do Iraque, no Mediterrâneo oriental e no Cáucaso está em sintonia com o apetite da burguesia industrial islâmica por novos mercados.
A prioridade de Erdogan é esmagar os curdos. É por isso que ele procurou minar todas as tentativas de consagrar o estabelecimento de uma zona controlada por curdos na Síria. Ele tentou várias ofensivas militares para destruir esse enclave, mas acabou endossando o status quo de uma fronteira invadida por refugiados.
Erdogan não conseguiu impedir a autonomia concedida pelo governo sírio às organizações curdas (PYP-UPP). Essas forças conseguiram repelir o cerco de Kobanî em 2014-2015, derrotaram as gangues jihadistas e ratificaram seus sucessos em Rojava. E o presidente turco não está em condições de digerir esses resultados.
A estratégia americana de apoiar parcialmente os curdos – para criar instalações do Pentágono em seus territórios – acentuou o distanciamento de Ancara de Washington. O uso dos curdos pelo Departamento de Estado como moeda de troca com o presidente rebelde mudou drasticamente. Obama apoiou a minoria, Trump retirou o apoio sem os cortar, e Biden ainda tem que definir sua linha de intervenção. Mas, em todos os cenários, Erdogan deixou claro que não aceita o papel de satélite subserviente a ele atribuído pela Casa Branca.
As tensões entre os dois governos se aprofundaram sobre os interesses concorrentes na divisão da Líbia. Para piorar a situação, Erdogan desafiou o Departamento de Estado com a compra de mísseis russos, o que levou ao cancelamento de investimentos estadunidenses.
O clímax do conflito foi o fracasso do golpe de Estado em 2016. Washington emitiu vários sinais de aprovação para uma revolta que eclodiu em áreas próximas às bases da OTAN. Essa conspiração foi patrocinada por um pastor refugiado nos EUA (Gulen), que lidera o setor mais ocidentalista do establishment turco. Erdogan dispensou imediatamente todos os oficiais militares simpáticos a esse setor. O golpe falhado indicou até que ponto os EUA aspiram a impor um governo fantoche na Turquia (PETRAS, 2017). Em resposta, Erdogan reafirmou sua resistência à obediência exigida pela Casa Branca.
Ambivalências e rivais
O subimperialismo turco equilibra a permanência na OTAN com as aproximações com a Rússia. É por isso que Erdogan começou seu mandato como um aliado próximo dos EUA e depois se moveu na direção oposta (HEARST, 2020).
Na guerra síria, ela estava em desacordo com a Rússia e sofreu um grande choque quando abateu uma aeronave militar russa. Mas, posteriormente, retomou as relações com Moscou e aumentou as compras de armas (CALVO, 2019). Também se distanciou dos principais peões da OTAN (Bulgária, Romênia) e negociou um oleoduto submarino para exportar combustível russo para a Europa sem passar pela Ucrânia (TurkStream).
Putin está bem ciente da falta de confiabilidade de um líder que treina as forças azerbaijanas em conflito com a Rússia. Ele não esquece que a Turquia é membro da OTAN e abriga o maior arsenal nuclear próximo à Rússia. Mas ele está apostando em negociar com Ancara a dissuasão de uma frota permanente dos EUA no Mar Negro.
As tensões com a Europa são igualmente significativas. Erdogan faz pressão sobre Bruxelas por montantes milionários em troca de manter refugiados sírios em suas próprias fronteiras. Ele está sempre ameaçando inundar o Velho Continente com essa massa de desabrigados se a Europa levantar o tom de seu questionamento ao governo turco ou reter fundos para o apoio a essa maré humana.
A nível regional, a Turquia enfrenta sobretudo a Arábia Saudita. Os dois países ostentam bandeiras islâmicas divergentes dentro do próprio conglomerado sunita. Erdogan difundiu um perfil do islamismo liberal em contraste com a severidade do wahhabismo saudita, mas não foi capaz de sustentar essa imagem devido ao comportamento feroz de seus próprios agentes.
Os conflitos com a Arábia Saudita estão concentrados no Catar, que é o único emirado do Golfo aliado à Turquia. A monarquia saudita tentou enquadrar esse miniestado fraccionário com várias tramas, mas não conseguiu repetir a bem-sucedida conspiração que destronou Morsi no Cairo, e enterrar a principal participação geopolítica de Ancara na região.
O outro rival estratégico da Turquia é o Irã. Nesse caso, a disputa envolve um contraponto de adesões religiosas diferenciadas entre as vertentes sunitas e xiitas do islamismo. O confronto entre os dois escalou no Iraque, com a frustrada expectativa da Turquia de conquistar uma área relacionada naquele território. Essa afirmação colidiu com a primazia contínua dos setores pró-iranianos. Erdogan faz valer igualmente sua presença, através das tropas estacionadas na fronteira, para subjugar os curdos.
O vai e vem tem sido a tônica do subimperialismo turco. Essas oscilações eram mais visíveis na Síria. Erdogan tentou primeiro derrubar seu antigo concorrente Assad, mas enfrentou uma mudança abrupta para sustentar aquele governo quando viu a perspectiva perigosa de um Estado curdo.
Ancara primeiro abrigou o Exército Livre da Síria para criar um regime em Damasco e depois entrou em conflito com os jihadistas, enviados pela Arábia Saudita para o mesmo fim. Finalmente, criou uma zona tampão na fronteira síria para usar os refugiados como moeda de troca, enquanto treinava seus próprios criminosos.
Em outras áreas, a Turquia tece o mesmo tipo de alianças contraditórias. Na Líbia, ela se aliou à facção Sarraj contra Haftar, em uma coalizão com o Catar e a Itália contra a Arábia Saudita, a Rússia e a França. Enviou paramilitares e fragatas para conseguir uma fatia maior dos contratos de petróleo e decidiu estabelecer uma base militar em Trípoli para disputar sua participação no gás do Mediterrâneo. Com o mesmo objetivo, está fortalecendo sua presença na parte do Chipre sob sua influência e disputando esses campos com Israel, Grécia, Egito e França.
Os avanços subimperiais da Turquia também estão sendo vistos em áreas mais remotas, como o Azerbaijão, onde Ancara restabeleceu laços com minorias étnicas turcas. Ela forneceu armas para a dinastia Aliyev em Baku e escorou os territórios conquistados no ano passado nos conflitos do Nagorno-Karabakh. O almejado expansionismo otomano está ganhando força mesmo em regiões mais remotas. A Turquia treinou o exército somali, enviou um contingente para o Afeganistão e expandiu sua presença no Sudão.
Mas Ancara tem pouco espaço para jogar tais jogos geopolíticos. No máximo, ela pode tentar manter sua autonomia na remodelação do Oriente Médio. Sua oscilação habitual expressa uma combinação de arrogância e impotência, decorrente da fragilidade econômica do país.
As ambições militaristas externas exigiriam uma força produtiva que a Turquia não possui. Os grandes passivos financeiros do país coexistem com um déficit comercial e desequilíbrio fiscal que provocam convulsões periódicas na moeda e na bolsa de valores (ROBERTS, 2018). Essa inconsistência econômica, por sua vez, recria a divisão entre os setores atlantistas e eurasiáticos das classes dominantes, que privilegiam os negócios em áreas geográficas opostas.
Erdogan tentou unificar essa diversidade de interesses, mas alcançou apenas um equilíbrio transitório. Ele impôs uma certa reconciliação entre as elites seculares da grande burguesia e o capitalismo crescente do interior e conseguiu moderar os desequilíbrios estruturais da economia turca, mas está longe de ser capaz de corrigi-los. Erdogan comanda um subimpério economicamente fraco para as ambições geopolíticas que ele encoraja. É por isso que está conduzindo aventuras com recuos abruptos, enredos e cambalhotas.
O potencial modelo saudita
A Arábia Saudita não tem antecedentes subimperiais, mas está caminhando para tal configuração. Tem sido um pilar tradicional do domínio americano no Oriente Médio, mas a acumulação de renda, as aventuras belicistas e as rivalidades com a Turquia e o Irã estão empurrando o reino em direção a esse clube conturbado.
Esse curso introduz muito barulho na relação privilegiada da monarquia wahhabita com o Pentágono. A Arábia Saudita é o maior importador de armas do mundo (12% do total) e gasta 8,8% de seu produto interno bruto (PIB) em defesa. Os Estados Unidos colocam 52% de suas exportações militares totais na região e fornecem 68% das compras sauditas. Cada contrato assinado entre os dois países tem um correlato direto no investimento nos EUA. A monarquia wahhabita fornece apoio estratégico para a supremacia financeira da moeda americana.
Devido à sua gravitação decisiva, todos os líderes da Casa Branca procuraram harmonizar o impacto do lobby sionista com seu equivalente saudita. Trump alcançou um ponto de equilíbrio máximo ao aproximar os dois países do eventual estabelecimento de relações diplomáticas (ALEXANDER, 2018).
O envolvimento dos EUA com a dinastia saudita remonta ao período do pós-guerra e ao papel da monarquia nas campanhas anticomunistas. Os sheikhs estiveram envolvidos em inúmeras ações contrarrevolucionárias para conter a ascensão das repúblicas em toda a região (Egito – 1952, Iraque – 1958, Iêmen – 1962, Líbia – 1969, Afeganistão – 1973). Quando o xá do Irã foi derrubado, os reis wahhabitas assumiram um papel mais direto na defesa da ordem reacionária no mundo árabe.
Esse papel regressivo foi novamente visível durante a Primavera Árabe da última década. O gendarme saudita e seus anfitriões jihadistas levaram todas as incursões a esmagar essa rebelião.
No entanto, depois de muitos anos administrando um gigantesco excedente de petróleo, os monarcas de Riad também criaram um poder próprio, baseado na renda gerada pelos campos petrolíferos da península. Esses fluxos enriqueceram os emirados organizados no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), que consolidou um centro de acumulação para coordenar o uso desse excedente.
Nessa administração, a antiga estrutura semifeudal saudita adotou formas mais contemporâneas de rentismo, compatíveis com a gestão despótica do Estado. As poucas famílias que monopolizam os negócios usam o poder monárquico para impedir a concorrência, mas o enorme volume de riqueza que administram aumenta as rivalidades pelo controle do Palácio e do tesouro petrolífero que se deriva dele (HANIEH, 2020).
O poder econômico de Riad alimentou as ambições geopolíticas da monarquia e as incursões militares sauditas, colocando o país no caminho do subimperialismo.
Esse curso foi adequadamente interpretado por autores que aplicam o conceito de Marini ao perfil atual da Arábia Saudita. Eles retratam como esse reino cumpre os três requisitos delineados pelo teórico brasileiro para identificar a presença de tal status. O regime wahhabita promove ativamente o investimento estrangeiro direto nas economias vizinhas, mantém uma política de cooperação antagônica com o dominador americano e implanta um manifesto expansionismo militar (SÁNCHEZ, 2019).
O Chifre da África é a área favorecida pelos monarcas para essa intervenção. Eles estenderam todas as disputas no Oriente Médio a essa região, e lá eles resolvem quem controla o Mar Vermelho, as conexões da Ásia com a África e o transporte de recursos energéticos consumidos pelo Ocidente.
Os gendarmes sauditas estão ativamente envolvidos nas guerras que têm devastado a Somália, a Eritreia e o Sudão. Eles comandam a pilhagem de recursos e o empobrecimento das populações desses países. As brigadas de Riad demolem Estados para aumentar os lucros do capital saudita nos setores de agricultura, turismo e finanças.
As regiões supervisionadas pelos monarcas também fornecem uma parcela significativa da força de trabalho explorada na Península Arábica. Os migrantes sem direitos constituem entre 56 e 82% da força de trabalho na Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Kuwait. Esses assalariados não podem se mover sem permissão e estão sujeitos à chantagem da expulsão e consequente corte de remessas. Tal divisão estratificada do trabalho – em torno de gênero, etnia e nacionalidade – é a base para um fluxo monumental de remessas da região para o exterior.
As aspirações sauditas à primazia regional chocam-se com o destaque alcançado pelos aiatolás do Irã. Desde a ruptura das relações diplomáticas em 2016, as tensões entre os dois regimes têm sido processadas através de confrontos militares entre aliados de ambos os lados. Esse confronto tem sido particularmente sangrento no Iêmen, Sudão, Eritreia e Síria.
A disputa entre sauditas e iranianos, por sua vez, retoma o divórcio entre dois processos históricos diferentes de regressão feudal e modernização incompleta. Essa bifurcação moldou as configurações de Estado diferenciadas entre os dois países (ARMANIAN, 2019).
Tal disparidade de trajetórias também tem levado a cursos capitalistas igualmente contrastantes. Enquanto Riad surge como um centro internacionalizado de acumulação do Golfo, Teerã comanda um modelo autocentrado de recuperação econômica gradual. Essa diferença se traduz em caminhos geopolíticos muito divergentes.
O perigoso descontrole da teocracia
Os reis sauditas lideram o sistema político mais obscurantista e opressivo do planeta. Esse regime tem funcionado desde a década de 1930 através de um compromisso entre a dinastia dominante e uma camada de clérigos retrógrados que supervisionam a vida diária da população. Uma divisão especial da polícia está habilitada a chicotear as pessoas que permanecem nas ruas na hora da oração. Tal modelo retrata uma forma acabada de totalitarismo.
A imprensa estadunidense questiona regularmente o apoio flagrante do Ocidente a esse grupo medieval e saúda as reformas cosméticas prometidas pelos monarcas. Mas, na realidade, nenhum presidente americano está disposto a se distanciar de um reinado que é tão pouco representativo quanto indispensável ao domínio da principal potência mundial.
O principal problema com um regime tão fechado é a potencial explosividade de suas tensões internas. Como todos os canais de expressão estão fechados, o descontentamento irrompe em atos de revolta. O surto de 1979 em Meca teve o mesmo efeito, assim como a projeção de Bin Laden. Esta figura da camada teocrática acumulou os ressentimentos típicos de um setor deslocado e canalizou esse ressentimento em direção ao padrinho estadunidense (CHOMSKY; ACHCAR, 2007).
A política imperial americana deve também enfrentar as perigosas aventuras externas da teocracia dominante. Os sheikhs que administram a principal reserva mundial de petróleo têm sido vassalos leais do Departamento de Estado. Mas, nos últimos anos, eles fizeram suas próprias apostas, às quais Washington assiste com grande nervosismo.
A ambição dos monarcas é unir-se a uma aliança com o Egito e Israel para controlar um vasto território. Tal expansão mortal já incendiou muitos barris de pólvora que complicam os próprios agressores.
As tensões aumentaram até um ponto crítico desde que o Príncipe Bin Salman assumiu o trono em Riad (2017) e implementou sua violência desenfreada. Ele controla a fortuna não quantificável da monarquia com total discrição e ambições selvagens para o poder regional.
Primeiro ele aumentou seu controle do sistema político confessional, com uma sucessão de purgas internas que incluiu prisões e apropriações da riqueza de outras pessoas. Posteriormente, embarcou em várias operações militares para contestar o poder geopolítico. Ele comanda a guerra devastadora no Iêmen, ameaça seus vizinhos no Catar, rivaliza com a Turquia na Síria e demonstrou um grau incomum de interferência no Líbano, realizando chantagens com o sequestro do presidente daquele país. Bin Salman está determinado a subir a aposta de guerra contra o regime iraniano, especialmente após a derrota de suas milícias na Síria.
Os assassinatos no Iêmen estão na vanguarda da investida saudita. Os reis se mudaram para capturar os poços de petróleo inexplorados da Península Arábica. Depois de muitas décadas de extração frenética, os campos petrolíferos tradicionais começam a enfrentar limites, o que leva a uma busca por outras fontes de abastecimento. Riad quer garantir sua primazia, com acesso direto aos três cruzamentos estratégicos da região (Estreito de Hormuz, Golfo de Adão e Bab el-Mandeb). Por isso, rejeitou a reunificação do Iêmen e procurou dividir o Iêmen em duas metades (ARMANIAN, 2016).
Mas a sangrenta batalha no Iêmen se tornou uma armadilha. A dinastia saudita enfrenta ali um atoleiro semelhante ao sofrido pelos Estados Unidos no Afeganistão. Ela causou a maior tragédia humanitária da última década sem ganhar o controle do país. É incapaz de quebrar a resistência ou dissuadir ataques em sua própria retaguarda. Os chocantes bombardeios com drones no coração de petróleo da Arábia Saudita ilustram a escala dessa adversidade.
A tecnologia de mísseis de alta tecnologia tem provado ser uma espada de dois gumes quando os inimigos podem descobrir como usá-la. A única resposta de Riad tem sido a de apertar o cerco alimentar e sanitário, com mortes causadas pela fome no atacado e 13 milhões de pessoas afetadas por epidemias de vários tipos.
Esses crimes são ocultados na atual apresentação da guerra como um confronto entre os súditos da Arábia Saudita e do Irã. O apoio de Teerã à resistência contra Riad não é o fator determinante em um conflito decorrente do apetite da monarquia pela expansão.
Essa ambição também explica o ultimato ao Catar, que estabeleceu uma aliança com a Turquia. A monarquia wahhabita não tolera essa independência, nem tolera a equidistância com o Irã ou a variedade de posições exibidas pelo canal Al-Jazeera (COCKBURN, 2017).
Os catarianos abrigam uma base estratégica dos EUA, mas concluíram importantes negócios energéticos com a Rússia, realizam comércio com a Índia, e não participam da “OTAN sunita” promovida por Riad (GLAZEBROOK, 2017). Eles também conseguiram disfarçar seu regime doméstico opressivo com uma operação de lavagem esportiva que os transformou em um grande patrocinador do futebol europeu. Bin Salman não tem sido capaz de lidar com esse adversário, e alguns analistas advertem que ele está planejando uma operação militar para forçar seus vizinhos a se submeterem (SYMONDS, 2017).
À beira do precipício
O intervencionismo do príncipe saudita está tomando conta a um ritmo vertiginoso. No Egito, ele está consolidando sua influência ao multiplicar o financiamento da ditadura de Sisi. Na Líbia, ele apoia a facção de Haftar contra o rival patrocinado por Ancara e aguarda a correspondente retribuição em contratos.
No Iraque, o monarca sustenta as contraofensivas das facções sunitas para erodir a primazia do Irã. Esse apoio inclui o incentivo a massacres e guerras religiosas. Na Síria, ele procurou criar um califado sujeito a Riad e em desacordo com Ancara e Teerã. O fanatismo de guerra do monarca foi encarnado na rede de mercenários que ele recrutou através da chamada “Aliança Militar Islâmica”.
A Arábia Saudita é um antro internacional de jihadistas que o Pentágono patrocinou com grande entusiasmo inicial. Mas os monarcas estão usando cada vez mais esses grupos como suas próprias tropas, sem consultar os EUA e às vezes em contraponto com Washington.
Na Somália, Sudão e em alguns países africanos, a coordenação com o diretor dos EUA falhou. Além disso, o significado dos ataques de uma organização como a Al Qaeda, que teve a aprovação da monarquia, nunca foi esclarecido. As ações terroristas dos jihadistas como força transfronteiriça são muitas vezes indecifráveis e com frequência desestabilizam o Ocidente.
Essa falta de controle colidiu com a estratégia de Obama de acalmar as tensões na região por meio de tons tímidos com a Turquia e com as negociações com o Irã. Em vez disso, Trump jogou a favor do Príncipe Salman com o aumento das vendas de armas, encobrimento de massacres e convergências com Israel.
Mas as ações imprevisíveis do monarca têm gerado grandes crises. A selvageria que ele demonstrou no desmembramento da figura de oposição Khashoggi desencadeou um escândalo que não cicatrizou. O jornalista era um servo leal da monarquia e posteriormente forjou laços mais estreitos com os liberais nos Estados Unidos. Ele trabalhou para o Washington Post e descobriu provas de criminalidade sob o regime saudita.
O príncipe arrogante escolheu assassiná-lo na própria embaixada da Turquia e foi exposto como um criminoso comum quando o presidente Erdogan tornou o caso transparente para sua própria conveniência. Trump fez de tudo para encobrir seu parceiro com algum conto de assassino selvagem, mas ele não conseguiu esconder a responsabilidade direta do jovem rei.
Esse episódio retratou o caráter incontrolável de um presidente aventureiro, que, com o declínio de Trump, perdeu o apoio direto da Casa Branca. Agora Biden anunciou uma nova direção, mas sem esclarecer qual será esse caminho. Enquanto isso, ele adiou a abertura dos arquivos secretos que lançariam luz sobre a relação entre a liderança saudita e o ataque às Torres Gêmeas.
O establisment norte-americano tem se tornado cada vez mais cauteloso com relação ao aventureiro que esbanjou parte das reservas do reino em passeios belicosos. O projeto de lei para a guerra do Iêmen já é visível na brecha no orçamento, o que acelerou os planos de privatização da empresa estatal de petróleo e gás.
A teocracia medieval se tornou uma dor de cabeça para a política externa dos EUA. Alguns arquitetos dessa orientação defendem mudanças mais substanciais na monarquia, mas outros temem o efeito de tais mutações no circuito de petrodólares internacionais. Washington acabou perdendo a lealdade de muitos países que aliviaram suas ditaduras ou moderaram seus reinados.
Esses dilemas não têm soluções preestabelecidas. Ninguém sabe se as ações de Bin Salman são mais perigosas do que sua substituição por outro príncipe da mesma linhagem. A existência de uma grande realeza na teia de miniestados que compõem as dinastias do Golfo traz mais solidez, mas também maiores riscos para a política imperialista.
É por isso que os assessores da Casa Branca diferem se patrocinam políticas de centralização ou de balcanização dos vassalos de Washington. Em ambas as opções, o desvio da Arábia Saudita em direção a um caminho subimperial implica um conflito com o dominador americano.
Reconstituição contraditória no Irã
O atual status subimperial do Irã é mais controverso e permanece sem solução. Ele inclui vários elementos desse comportamento, mas também contém características que questionam esse status.
Até os anos 80, o país era um modelo de subimperialismo, e Marini (1973) o apresentou como um exemplo análogo ao protótipo brasileiro. O xá foi o principal parceiro regional dos EUA na Guerra Fria contra a URSS, mas, ao mesmo tempo, estava desenvolvendo seu próprio poder em disputa com outros aliados do Pentágono.
A dinastia Pahlavi consolidou essa gravitação autônoma através de um processo de modernização segundo as linhas anticlericais ocidentalistas. Ela sustentou a expansão das reformas capitalistas em sucessivos conflitos com a casta religiosa.
O monarca procurou criar um polo regional de supremacia distante do mundo árabe e lançou as bases para um projeto subimperial, que se reconectou com as raízes históricas dos confrontos persas com os otomanos e os sauditas (ARMANIAN, 2020).
Mas o colapso do xá e sua substituição pela teocracia dos aiatolás mudou radicalmente o status geopolítico do país. Um subimpério autônomo – mas estruturalmente associado a Washington – foi transformado em um regime envolto por uma tensão permanente com os Estados Unidos. Todo líder da Casa Branca tem procurado destruir o inimigo iraniano.
Esse conflito altera o perfil de um modelo que não atende mais a uma das exigências da norma subimperial. A estreita convivência com o dominador norte-americano desapareceu, e essa mudança confirma o caráter mutável de uma categoria que não compartilha a durabilidade das formas imperiais.
Os confrontos com Washington mudaram o perfil subimperial anterior do Irã. A velha ambição da supremacia regional foi articulada como uma defesa contra o assédio dos EUA. Todas as ações externas do Irã visam criar um anel de proteção contra as agressões que o Pentágono coordena com Israel e a Arábia Saudita. Teerã intervém em conflitos contínuos com o objetivo de salvaguardar suas fronteiras, e opta por alianças com os adversários de seus inimigos e procura multiplicar os incêndios na retaguarda de seus três perigosos atacantes.
Essa impressão defensiva determina uma modalidade muito singular do eventual ressurgimento subimperial do Irã. A busca da supremacia regional coexiste com a resistência ao assédio externo, determinando um curso geopolítico muito peculiar.
Defesas e rivalidades
O expansionismo brando do Irã em zonas de conflito reflete essa situação contraditória no país. O regime dos aiatolás certamente comanda uma rede de recrutamento xiita com milícias filiadas aos xiitas em toda a região. Mas, de acordo com o aspecto defensivo de sua política, ela age com mais cautela do que seus adversários jihadistas.
A principal vitória do regime foi alcançada no Iraque. Eles conseguiram colocar o país sob seu comando após a devastação perpetrada pelos invasores dos EUA. Eles agora usam seu controle desse território como um grande amortecedor defensivo para desencorajar os ataques que Washington e Tel Aviv continuam a repetir.
O mesmo propósito dissuasivo tem guiado a intervenção de Teerã na guerra síria. A capital sustentou Assad e se engajou diretamente em ações armadas, mas buscou consolidar um cordão de segurança para suas próprias fronteiras. E as milícias libanesas do Hezbollah atuaram como os principais arquitetos desse cinturão amortecedor.
Os sangrentos confrontos na Síria se desdobraram como ensaios para a maior conflagração que os sionistas imaginam contra o Irã. É por isso que Israel descarregou seus bombardeios sobre tropas xiitas.
Washington tem denunciado repetidamente a “agressividade do Irã” na Síria, enquanto de fato Teerã está reforçando sua defesa contra a pressão dos EUA. Nessa resistência, obteve resultados satisfatórios. Trump jogou suas cartas para as várias incursões de Israel, Arábia Saudita e Turquia e acabou perdendo a batalha. Esse fracasso corrobora a adversidade geral que Washington enfrenta. Após inúmeras investidas, não foi capaz de subjugar o Irã, e a mãe de todas as batalhas ainda está pendente.
Em um nível mais limitado, o Irã disputa a primazia regional com a Arábia Saudita nas guerras dos países vizinhos. Na Síria, os jihadistas de Riad têm favorecido ataques contra tropas treinadas por seu rival, e no Iêmen a monarquia wahhabita está atacando milícias que estão em sintonia com Teerã. No Catar, Líbano e Iraque, a mesma tensão pode ser vista na disputa sobre o Estreito de Hormuz. O controle do Estreito de Hormuz pode muito bem significar o vencedor do jogo entre os aiatolás e a principal dinastia do Golfo. Essa rota – que liga os exportadores do Oriente Médio aos mercados mundiais – é a rota através da qual circula 30% do petróleo comercializado no mundo.
Como seu adversário saudita, o regime iraniano usa o véu religioso para encobrir suas ambições (ARMANIAN, 2020). Ele mascara a intenção de aumentar seu poder econômico e geopolítico alegando a superioridade dos postulados xiitas sobre as normas sunitas. Na prática, as duas vertentes do islamismo estão em conformidade com regimes igualmente controlados por camadas obscurantistas de clérigos.
A rivalidade com a Turquia não apresenta, até agora, contornos tão dramáticos. Inclui mal-entendidos que são visíveis no Iraque, mas não altera o status quo nem assume o perigo de um confronto como há com os sauditas. O governo pró-turco da Irmandade Muçulmana no Egito manteve os equilíbrios regionais que o Irã deseja. Em contraste, a tirania – atualmente patrocinada por Washington e Riad – tornou-se outro adversário ativo de Teerã.
Assim como a Turquia e a Arábia Saudita, o Irã expandiu sua economia, e o governo procura alinhar esse crescimento com uma presença geopolítica mais proeminente. Mas Teerã buscou um desenvolvimento autárquico feito sob medida para dar prioridade à defesa e resistir ao assédio externo. As exportações de petróleo têm sido utilizadas para sustentar um esquema que mistura o intervencionismo estatal com a promoção de negócios privados.
Todos os desenvolvimentos geopolíticos foram transformados pela elite governante em esferas lucrativas, administradas por grandes empresários associados à alta burocracia estatal. O controle do Iraque abriu um mercado inesperado para a burguesia iraniana, que agora também está competindo pelo negócio da reconstrução da Síria.
Há muitas incógnitas no tabuleiro de xadrez entre o Irã e seus rivais. Os aiatolás ganharam e perderam batalhas no exterior e enfrentam escolhas econômicas difíceis. A liderança clerical-militar dominante, que prioriza o negócio do petróleo, deve enfrentar a desconexão financeira internacional imposta pelos EUA. O regime perdeu a coesão do passado e deve definir respostas à decisão de Israel para evitar que o país se torne uma potência atômica.
As duas principais alas do partido no poder estão promovendo estratégias diferenciadas de maior negociação ou aumento da luta armada militar. O primeiro curso prioriza os amortecedores defensivos em zonas de conflito. O segundo rumo não se afasta de repetir o derramamento de sangue sofrido durante a guerra do Iraque. A reconstituição subimperial depende dessas definições.
Cenários críticos
O conceito de subimperialismo ajuda a esclarecer o cenário explosivo no Oriente
Médio e regiões vizinhas. Ele nos permite registrar o destaque das potências regionais nos conflitos da zona. Esses atores são mais influentes do que no passado e não agem no mesmo nível que as grandes potências globais.
A noção de subimperialismo facilita a compreensão desses processos. Ela lança luz sobre o papel dos países mais relevantes e esclarece sua distância contínua dos EUA, Europa, Rússia e China. Explica também por que as novas potências regionais não substituem o domínio americano e desenvolvem trajetórias frágeis corroídas por tensões incontroláveis.
A Turquia, a Arábia Saudita e o Irã rivalizam entre si a partir de configurações subimperiais, e o resultado dessa competição é altamente incerto. Se um dos competidores emerge como o vencedor ao dobrar os outros, poderia introduzir uma mudança radical nas hierarquias geopolíticas da região. Se, por outro lado, os poderes em disputa se esgotarem em batalhas sem fim, eles acabariam anulando seu próprio status subimperial.
*Claudio Katz é professor de economia na Universidad Buenos Aires. Autor, entre outros livros, de Neoliberalismo, neodesenvolvimentismo, socialismo (Expressão Popular).
Publicado originalmente na revista Reoriente, vol. 1, no. 2.
Referências
ALEXANDER, Anne (2018). The contemporary dynamics of imperialism in the Middle East: a preliminary analysis. International Socialism, n. 159, June 26, 2018. Disponível em: <https://isj.org.uk/contemporary-dynamics-of-imperialism/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
ARMANIAN, Nazanín. El objetivo de EEUU es Irán, no la República Islámica. 12 ene. 2020. Disponível em: <http://www.nazanin.es/?p=15306>. Acesso em: 17 dez. 2021.
ARMANIAN, Nazanín. Arabia Saudí-lrán: los ocho motivos de un odio “sunnita-chiita” poco religioso. 30 jun. 2019. Disponível em: <https://blogs.publico.es/puntoyseguido/5847/arabia-saudi-lran-los-ocho-motivos-de-un-odio-sunnita-chiita-poco-religioso/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
ARMANIAN, Nazanín. EEUU y Arabia Saudí provocan en Yemen la mayor crisis humanitaria del mundo. 25 set. 2016. Disponível em: <https://blogs.publico.es/puntoyseguido/3550/eeuu-y-arabia-saudi-provocan-en-yemen-la-mayor-crisis-humanitaria-del-mundo/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
BARCHARD, David. Victoria de Erdogan, la oposición se estrella, pero no den por agotado al Partido Democrático de los Pueblos. Rebelión, 27 jun. 2018. Disponível em: <https://rebelion.org/victoria-de-erdogan-la-oposicion-se-estrella-pero-no-den-por-agotado-al-partido-democratico-de-los-pueblos/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
CALVO, Guadi. Turquía: el portazo de Erdogan. America Latina en Movimiento, 16 jul. 2019. Disponível em: <https://www.alainet.org/es/articulo/201028>. Acesso em: 17 dez. 2021.
CHOMSKY, Noam; ACHCAR, Gilbert. Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense. Barcelona: Paidós, 2007.
COCKBURN, Patrick. Una gira que llevó tensión al Golfo. Página 12, 07 jun. 2017. Disponível em: <https://www.pagina12.com.ar/42401-una-gira-que-llevo-tension-al-golfo>. Acesso em: 17 dez. 2021.
CONDE, Gilberto. El Medio Oriente: entre rebeliones populares y geopolítica. Oasis, n. 27, p. 07-25, 2018. DOI: 10.18601/16577558.n27.02
GLAZEBROOK, Dan. El bloqueo de Catar, el “petro-yuán” y la próxima guerra contra Irán. Rebelión, 19 jun. 2017. Disponível em: <https://rebelion.org/el-bloqueo-de-catar-el-petro-yuan-y-la-proxima-guerra-contra-iran/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
GÜMÜŞ, Güneş. Turquía: ¿Dónde se ubica Turquía en la jerarquía imperialista? Liga Internacional Socialista, 02 ago. 2019. Disponível em: <https://lis-isl.org/2019/08/02/turkiye-emperyalist-hiyerarsinin-neresinde-gunes-gumus/>. Acesso em: 17 dez. 2021.
HANIEH, Adam. A Marxist guide to understanding the Gulf States’ political economy. Jacobin, July 13, 2020. Disponível em: <https://www.jacobinmag.com/2020/07/gulf-states-political-economy-saudi-arabia-qatar-uae>. Acesso em: 17 dez. 2021.
HARRIS, Kevan. Remodelar Oriente próximo. New Left Review, v. 101, p. 07-40, nov./dic. 2016. HEARST, David. Erdogan y Putin: Fin del romance. Rebelión, 05 mar. 2020. Disponível em: <https:// rebelion.org/erdogan-y-putin-fin-del-romance/>. Acesso em: 18 dez. 2021.
KATZ, Claudio. La teoría de la dependencia, 50 años después. Buenos Aires: Batalla de Ideas Ediciones, 2018. MARINI, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. México: ERA, 1973.
PETRAS, James. Los siete pecados capitales del presidente Erdogan: ¿Hacia dónde va Turquía? Globalización, 17 oct. 2017. Disponível em: <https://www.globalizacion.ca/los-siete-pecados-capitales-del-presidente-erdogan-hacia-donde-va-turquia/>. Acesso em: 18 dez. 2021.
ROBERTS, Michael. Turquía: colapso económico total. Sin Permiso, 12 ago. 2018. Disponível em: <https://www.sinpermiso.info/textos/turquia-colapso-economico-total>. Acesso em: 18 dez. 2021.
SÁNCHEZ, Victoria Silva. Los países del Golfo como nuevos actores de (in)seguridad en el Mar Rojo: una visión desde el subimperialismo. 2019. Disponível em: <https://www.recp.es/files/view/pdf/congress-papers/14-0/2087/>. Acesso em: 18 dez. 2021.
SYMONDS, Peter. Arabia Saudí hace público un provocativo ultimátum a Catar. Rebelión, 26 jun. 2017. Disponível em: <https://rebelion.org/arabia-saudi-hace-publico-un-provocativo-ultimatum-a-catar/>.
Acesso em: 18 dez. 2021.
TUĞAL, Cigan. Turquía en sus encrucijadas. New Left Review, n. 127, p. 27-60, mar./abr. 2021. USLU, Esen. Turquía: más sangre y lágrimas. Sin Permiso, 10 oct. 2020. Disponível em: <https://www. sinpermiso.info/textos/turquia-mas-sangre-y-lagrimas>. Acesso em: 18 dez. 2021.