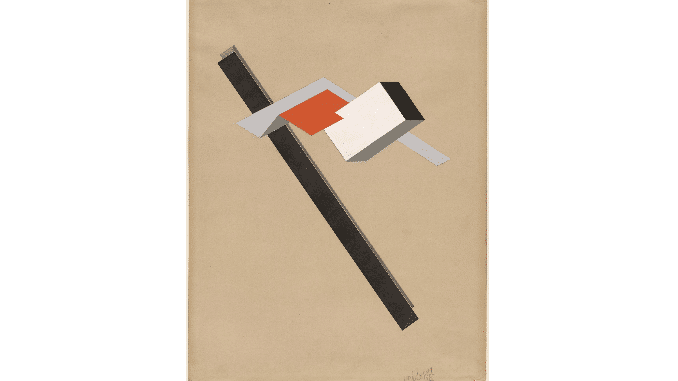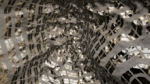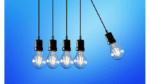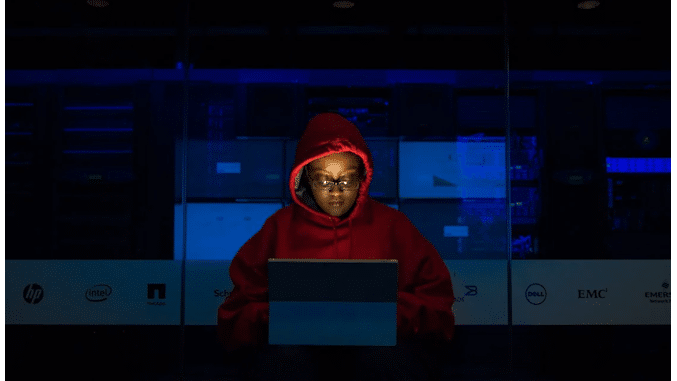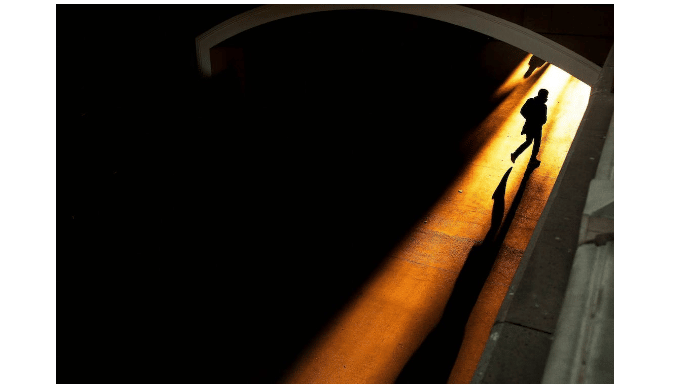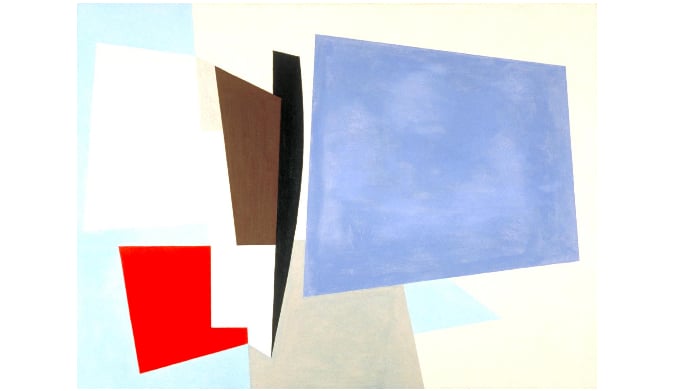Por MARIZA WERNECK*
Leia um artigo do livro recém lançado “Laço”, organizado por Daniela Teperman, Thais Garrafa e Vera Iaconelli
“Desenvolva sua estranheza legítima” (René Char)
Pais, salvo engano, sempre existiram. Já a paternidade é invenção recente.
“A vida é simples” – diz o escritor e músico Kalaf Epalanga (2019, p. 9). “Ser pai passa essencialmente por voltar a reconectar-nos com os nossos instintos mais primários. Já estivemos no lugar do bebê que temos agora nos braços, só não temos é memória desse tempo.”
Talvez não tão simples assim. As mulheres, sim, sempre tiveram seu corpo e seu destino imemorialmente atrelados à função procriadora, com direito a mazelas e maravilhas. Virgens Marias ou Medeias, Bruxas, Madrastas, Superprotetoras, Grande-Mães ou Pietás, as mulheres e seu “avental todo sujo de ovo” levaram séculos para distinguir maternidade de maternagem, para renegar e livrar-se do tão propalado instinto materno, assim como para entender que, para além delas, havia mais alguém concernido, pelo fato tão banal quanto milagroso de uma criança vir ao mundo.
Os pais, instauradores da cultura, é preciso reconhecer, nunca estiveram muito bem na fita. Nosso imaginário mítico remete a um deus primordial, Urano, que se casou com a própria mãe, Gaia, e mantinha seus detestados filhos encerrados em seu ventre. Incentivados pela mãe, personificação da Terra, os filhos se rebelaram contra Urano. Cronos, o mais jovem deles, castrou o pai e atirou seus testículos ao mar. E assim nasceu Afrodite.
O destino de Cronos, no entanto, não foi muito diferente do de Urano. Tomava todas as mulheres para si, único entre todos os machos a ter direito ao gozo. Temeroso, no entanto, de ser destronado pelos próprios filhos, devorava-os, um a um, assim que nasciam. De nada valeram seus temores e seus cuidados. Mais uma vez uma mãe interveio: Reia substituiu um dos filhos recém-nascidos por uma pedra. Zeus comandou a rebelião contra o pai, e tornou-se o deus entre os deuses.
A história dessa horda primitiva é plena de consequências na Psicanálise, de Freud a Lacan. Sem nenhuma intenção de enveredar por ela, o que nos cabe, nos limites deste texto, é apenas constatar que, depois de morto, o pai tornou-se ainda mais poderoso, porque engendrou nos filhos, e para sempre, a incontornável e devoradora Culpa.
A morte de um pai ronda ainda e estrutura a formação do psiquismo humano. O mito de Édipo conta a história de Laio, que, segundo o oráculo, seria morto pelo próprio filho, que, por sua vez, se casaria com a própria mãe. E assim foi. Tragédia anunciada, destino ao qual Édipo não pôde fugir, por mais que o tivesse tentado. Mais uma vez entra em cena a Culpa, deusa onipresente no imaginário humano. Parricida e incestuoso, o infeliz Édipo se cega ao descobrir seus crimes.
Mas há quem conte a história de outro jeito: na contramão da interpretação freudiana, James Hillman (1995) vai localizar no mito de Édipo, antes da morte do pai, um infanticídio. Com efeito, ao se sentir ameaçado, Laio ordena a morte do filho. Implacável, ainda que não poupe o que denomina “a má maternidade”, o pensador junguiano sentencia: “O pai assassino é essencial à paternidade” (p. 87-88).
Em consequência disso, o pai sempre surge, na narrativa mítica dos filhos, cheio de rancor, ressentimento, traços sombrios e dolorosas súplicas.
Quando se abandona o universo mítico, e adentra-se a terra profana da literatura, a história não muda muito. E aqui não há como não evocar outro protótipo, a figura paterna de Franz Kafka, descrita em Carta ao pai (2017). Embora precedida por um “Querido Pai”, a primeira frase já diz imediatamente a que veio: “Você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. […] E se aqui tento responder, por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento” (p. 7).
Se fizermos um pequeno inventário, pinçado ao longo do texto, dos traços com os quais Kafka descreve o pai, encontraríamos: “força”, “apetite”, “sonoridade de voz”, “dom de falar”, “superioridade diante do mundo”, “autossatisfação”, “perseverança”, “presença de espírito”, “conhecimento dos homens”, entre outros. E não se esquece de assinalar, para ser justo, que, afinal, não poderia ser diferente: o pai apenas reproduzia, no filho, a educação ruidosa e enérgica que recebera.
Numa correlação de forças desproporcional, impossível de ser superada, Kafka descreve seu magro e franzino esqueleto de menino esmagado pela fortaleza da figura paterna que, de sua poltrona, inventava leis e regia o mundo. Diante dele, a criança desaprendeu a falar, mas ainda assim lhe era grato, como só podem ser gratos os escravos, ou os mendigos.
Muitas vezes Kafka evoca também a deusa Culpa. Antes, para renegála, para não atribuí-la nem ao pai nem a si mesmo. Como quem disfarça. Mas por fim concede que o sentimento de culpa com o qual conviveu na infância transformou-se na compreensão do desamparo mútuo em que ambos estavam mergulhados.
Esse tom terrível, essa dolorosa litania prossegue implacavelmente no texto, sem redenção possível. Mas, é bom não esquecer – e sem entrar no mérito se se trata de um pai real, simbólico ou imaginário –, estamos diante de um pai por escrito, um pai construído a partir de artifícios próprios aos textos literários. Afinal, o próprio Kafka afirmava ser todo feito de literatura, e nada além disso. A literatura é sua substância, sua carne, sua alma.
Para isso nos alerta Modesto Carone (2017, p. 78), no Posfácio que se segue à sua tradução da Carta. Para ele, não é possível negar os fundamentos históricos e existenciais do texto, mas, ainda assim, trata-se de produção literária. A figura do pai de Kafka, “o pai que pune”, como diz Walter Benjamin (apud Carone, 2017, p. 78), projeta-se em toda a obra kafkiana, e pode ser reconhecido também em O processo, O castelo, e em A metamorfose, para citar apenas algumas.
Ao tentar comunicar-se com o pai, Kafka precisou de muitas palavras, e espalhou-as por sua obra afora. Dessa forma, como diz Carone, “foi transformado pelo pai em o filho do século” (p. 80), referindo-se ainda ao século passado, no qual viveu Franz Kafka. Voltaremos a isso.
Outros filhos são mais sintéticos, mas não deixam de afirmar, de forma contundente, sua condição, como o fez o poeta Vladimir Diniz (1971) no poema “O filho do pai”: “P de pai, Ai de filho”. Ou como condensa Jacques Lacan ao longo de sua obra: “Père [pai], Peur [medo]”.
Sigamos. Outro pai se aproxima e, desta vez, não encarna a figura do Medo, nem da Lei. Antes, de uma dor profunda, estranhada. Trata-se da figura paterna criada por Guimarães Rosa no conto “A terceira margem do rio” (1994, p. 409-413).
Um pai em tudo dessemelhante ao de Kafka: “Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente”.
Mas eis que um dia, conta o narrador, o pai encomendou uma canoa. Sem nada dizer, nem se despedir, meteu-se nela e dirigiu-se ao rio, sem responder à pergunta do filho: “Pai, o senhor me leva junto, nessa sua canoa?”. Não levou.
E por lá ficou, “naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais”.
O povo atribuía tão estranha situação a alguma doença, talvez à lepra, ou a um pagamento de promessa. Doideira? Não, que a mãe proibia essa palavra: “Ninguém é doido, ou então todos”.
O filho, nas margens, cuidava do pai. Levava rapadura, cacho de banana, broa de pão. A mãe fingia não ver, e facilitava, deixando as sobras à vista.
Com o tempo, pararam de falar nele, só pensavam: “Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. Se a gente, por um pouco fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos”.
A filha se casou. Teve filho e foi levar o bebê para o pai conhecer. Ele nem sequer apareceu nas margens do rio. Choraram todos. Aos poucos, foram se mudando daquele lugar. Primeiro a filha. O irmão. A mãe, depois.
Restou o filho que, segundo diziam, ia ficando cada vez mais parecido com o pai. Como Kafka, jamais conseguiu se casar: “Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim na vagação do rio, no ermo – sem dar razão de seu feito”.
O pai, em sua canoa, onipresente ausência, era, em tudo, a mais perfeita oposição ao pai do narrador kafkiano. Apenas em um detalhe lhe assemelhava: instaurava a culpa, assim como Cronos, assim como Laio: “Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência. […] Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro”.
Um dia, decidiu-se. Aproximou-se da margem do rio, chamou pelo pai até que ele aparecesse. E sugeriu: “– Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais… O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!…”.
O pai fez menção de concordar, veio vindo. Dessa vez, foi o filho quem não pôde. Fugiu. E ficou “pedindo, pedindo, pedindo um perdão. Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado”.
Ao narrador só restava a esperança de que, um dia, quando morresse, o depositassem “numa canoinha de nada, nessa água, que não para, de longas beiras…”.
Ao belo conto de Guimarães Rosa, todo feito de dor, não há nada a acrescentar. Está tudo ali. Tudo se passa como se o conto já contivesse sua própria interpretação.
O pai do narrador kafkquiano, de sua poltrona, verborrágico, regia o mundo. Diante dele, seu filho desaprendeu a falar. Já o de Rosa, trancado em seu silêncio, escondido no fundo da canoa, só fez transformar o filho em um homem de tristes palavras. O que há de semelhante entre os dois, para além da culpa – este incontornável denominador comum –, é que, mesmo diante do silêncio obstinado de um, e da palavra excessiva do outro, estamos diante de dois filhos que narram.
Se o pai de Kafka, como diz Carone, transformou-o no filho do século, não há como deixar de constatar que alguma coisa mudou. Com efeito, ao percorrermos ao acaso os catálogos de algumas editoras brasileiras, a partir do ano 2000, é fácil observar um volume significativo de livros escritos por pais que narram e inventam uma paternidade nova, sensível, ainda que difícil, tantas vezes. Cansados, talvez, de encarnar esse lugar equívoco, da Lei e da Ordem, abandonam a poltrona, ou a canoa, tomam a palavra e tentam remar por si mesmos.
O que haverá de comum entre esses pais… narradores? Quase todos jovens, pais de primeira viagem, como se diz. Alguns classificam seus livros como ficção, como deve ser, e como Kafka ensinou. Outros assinalam o caráter de depoimento de suas narrativas. Sem exceção, excelentes, reconhecidos escritores, que conquistaram prêmios nacionais e internacionais. Há até mesmo um Nobel entre eles.
Para citar apenas alguns: Uma questão pessoal, de Kenzaburo Oe, romance de 1964, mas traduzido no Brasil apenas em 2003; Não era você que eu esperava, de Fabien Toulmé, quadrinhos, de 2014 (edição brasileira de 2019); Entre o mundo eu, de Ta-Nehisi Coates, depoimento pessoal, de 2015; Trilogia do adeus, de João Carrascoza, romance, de 2017; Meu menino vadio, de Luiz Fernando Vianna, de 2017; Pai de menina, de Marcos Mion, de 2018; O pai da menina morta, de Tiago Ferro, romance, de 2018.
O que mais os identifica – e surpreende – no entanto, não é apenas a qualidade de seus textos, mas a qualidade especialíssima de sua paternidade. Com algumas exceções, são pais de filhos autistas, de crianças com síndrome de Down, ou simplesmente negras, esse estigma tão forte que se cola à pele quase como uma doença. Por que escrevem esses pais? O que dizem?
Um livro ainda do século passado, datado de 1964, mas que chegou ao Brasil apenas em 2003, conta a história de Bird, jovem professor que teve a vida devastada pelo nascimento do filho com uma síndrome rara. Uma má formação do crânio causava a impressão de que o bebê tinha duas cabeças. E o pai teve de decidir entre uma cirurgia arriscada e a possibilidade de nada fazer, deixar que a morte se encarregasse de levá-lo em poucos dias.
O romance Uma questão pessoal, de Kenzaburo Oe (2003), premiado com o Nobel em 1994 é perturbador, para dizer o mínimo. As palavras com que descreve o filho – “a personificação de toda infelicidade”, “monstro bicéfalo”, “verme”, “cão”, afogado” “ser repulsivo” (fiquemos por aqui) – demonstram, à exaustão, a intenção destrutiva da escrita, uma violência verbal francamente assumida pelo autor.
A impiedade das descrições, a morte do bebê, tantas vezes planejada, e todos os demais demônios que Kenzaburo exorciza no livro chocaram o tradutor da edição brasileira que, admitiu, não teria passado das primeiras páginas se não estivesse atendendo a uma encomenda da editora. Ao que tudo indica, suavizou alguma coisa.
Bird, a personagem paterna do filme, afogou-se em álcool e em sexo, enfrentou brigas de rua, adotou todo tipo de comportamento condenável, urrando seu desespero como uma ferida exposta, uma “dor em aberto”, como a do personagem de Guimarães Rosa.
A ferida não fecha, mas o final do livro sugere, ainda que de leve, alguma possibilidade de redenção: “[…] expiou o rosto do filho nos braços da mulher. Queria ver o próprio rosto refletido no rosto do menino. De fato, pôde vê-lo no espelho dos olhos negros e cristalinos da criança, mas a imagem era tão minúscula que não lhe permitiu constatar as novas feições do seu rosto. Assim que chegasse em casa planejava se olhar no espelho. E, depois, consultar o dicionário que o repatriado Deltcheff havia lhe dado, com a palavra esperança escrita na capa interna. Pretendia fazer a primeira consulta nesse dicionário de um pequeno país da península balcânica. Buscaria a palavra paciência” (p. 221-222).
Passemos à vida real: o escritor Kenzaburo é um pacifista, que luta contra armas nucleares. Escreveu sobre Hiroshima, Nagasaki e Fukushima. Tinha 29 anos quando nasceu seu filho, com inúmeras patologias. Kenzaburo deu-lhe o nome de Hicari, que significa “luz”. Enquanto se decidia – ou não – pela cirurgia sugerida pelos médicos, refugiou-se em Hiroshima. Como que para afirmar, e reconhecer, o que diria depois, muitas vezes, em inúmeras entrevistas: as forças mais poderosas que mobilizam sua escrita são seu filho, Hicari, e Hiroshima. A partir daí dedicou a vida a lutar por essas causas.
Kenzaburo cuidou do filho com desvelo. Hicari quase não reagia a estímulos, e não falava. Para o pai, o ato de escrever era uma forma de dar-lhe voz. Fazia-o ouvir concertos de pássaros. Certa vez, em um passeio nas montanhas, uma vozinha o surpreendeu: “Essa é uma cuína”. Hicari tinha seis anos.
Era só o começo. Em pouco tempo era capaz de reconhecer mais de setenta cantos de passarinhos. Depois, veio o piano. Hicari tornou-se um compositor conhecido e respeitado no Japão.
Já é hora de abrirmos outro livro: O filho eterno, romance de Cristovão Tezza, publicado em 2007, ganhador de inúmeros prêmios nacionais e internacionais. O livro conta a história de Felipe, nascido com síndrome de Down, e de seu pai, às voltas com a invenção de sua paternidade.
O começo repete, como um mantra, o início de outros livros, de outros pais: a espera ansiosa mas feliz da chegada da criança, as aflições do parto, até que, em um segundo, o mundo desaba por inteiro, e está-se em Hiroshima.
Enquanto aguarda o nascimento de Felipe, o pai repassa mentalmente sua vida, e sabe que “ele também estaria nascendo agora, e gostou desta imagem mais ou menos edificante” (p. 10).
Embora ainda não soubesse quem viria, estava otimista, pois, “uma criança é uma ideia de uma criança e a ideia que ele tinha era muito boa. Um bom começo” (p. 19).
Bem devagar, a narrativa passa a ganhar um tom mais sombrio, a começar pela descrição do parto: “O nascimento é uma brutalidade natural, a expulsão obscena da criança, o desmantelamento físico da mãe até o último limite da resistência, o peso e a fragilidade da carne viva, o sangue – criou-se um mundo inteiro de signos para ocultar a coisa em si, tosca como uma caverna escura” (p. 24).
Mas deu-se a entrada dos demônios. Finalmente ele é informado da condição do bebê pelos médicos, com precisão científica, naquela manhã que considera a mais brutal de sua vida. A partir daí a narrativa passa a ser um embate entre ele e a criança, um esforço inaudito para conseguir transformar aquele bebê em filho, para ele poder, enfim, tornar-se pai.
A perspectiva da morte precoce ronda aqueles dias quase como uma promessa. Só muito mais tarde é que vai perceber que será preciso sobreviver ao filho, para que ele, quem sabe, não fique só. Será preciso fazer a sua parte, abandonar os cigarros, talvez o álcool.
O que há de mais impactante – e belo – no livro é o fato de que, embora o narrador se mantenha um observador privilegiado daquela infância especial, mistura sua vida à dele e, sem concessões, enquanto observa o menino observa-se por inteiro.
Sabe-se feito da mesma humanidade precária que seu menino, sabe que os dois fazem parte desta mesma estranha fauna humana e, por isso, cada um por si, terá de desenvolver as próprias estranhezas.
Felipe tem uma irmã, que atende a todos os “padrões de normalidade”. Mas sua presença apenas roça o livro, de leve, com delicadeza. O que está em questão aqui é apenas ele e seu filho, e suas vidas misturadas. Por isso o pai se empenha em torná-lo cúmplice do seu mundo masculino, que só aos dois pertence. O futebol. E “hoje tem jogo. […] O jogo começa mais uma vez. Nenhum dos dois tem a mínima ideia de como isso vai acabar, e isso é muito bom” (p. 222). E assim fecha-se mais um livro.
Por meio do entrelaçamento dessas duas vidas vai-se construindo uma história de amor sensível e forte, que não ousa dizer seu nome, amor tantas vezes velado sob a forma de uma racionalidade poderosa, mas onde também tem lugar a raiva, a dor, o desconsolo.
Uma pergunta se impõe: onde estão as mães dessas crianças? O que dizem? Escrevem? Ou, por que não escrevem?
Solitária estrela em meio a tantas vozes masculinas, ouve-se o canto de Olivia, cantora, compositora e mãe de João, que nasceu com uma síndrome tão severa quanto a de Hicari. Em O que é que ele tem (2015) ela conta esta história.
Olivia Byington tinha apenas vinte e dois anos quando João nasceu. Teve uma gravidez solar, como ela mesma afirma. Caminhadas, sucos naturais, a promessa de um parto ecológico. Não foi bem assim. Depois do susto inicial – e da rejeição inicial – começou seu longo aprendizado de amor pela diferença, que dura ainda.
Aprender a amar um filho que em nada lhe é semelhante. Afinal, todo nascimento estabelece, de imediato, uma relação de semelhança. No queixo, na cor dos olhos, nos cabelos. E, se a morte prematura ronda, quase como uma esperança, a existência daquele ser especial, é preciso se preparar, primeiro, para outro tipo de morte. Fazer o luto do filho dos sonhos, aquele que não veio: belo, perfeito, saudável.
Olivia olha com serenidade o caminho que percorreu com João e orgulha-se disso. Embora despreparado fisicamente, nas palavras dela, João está pronto para a vida, possui qualidades incríveis e é capaz, até mesmo, de ser feliz a seu modo.
Outros pais se sucedem. Em Entre o mundo e eu Ta-Neshisi Coates (2015) jornalista, escritor premiado e negro (sobretudo negro), escreve uma longa carta que começa assim: “Filho,”.
O que ele faz, o que ele diz, é tentar explicar ao filho o que significa habitar um corpo negro, um corpo que carrega essa “marca de nascença da danação”. E todas as suas consequências. “É isso que queria que você soubesse: na América, é tradição destruir o corpo negro; é uma herança” (p. 107).
Ao mesmo tempo em que Coates tenta decifrar para o filho esse doloroso legado, enquanto pai reconhece-se preso a correntes geracionais que o envergonham. Foi preciso aprender: “[…] eu gostaria de ter sido mais suave com você. Sua mãe teve de me ensinar como amá-lo – como beijá-lo e lhe dizer que o amo toda noite. Mesmo agora não parece ser um ato tão natural quanto ritual. E isso é porque estou ferido. Isso é porque estou preso a antigos métodos que aprendi numa casa endurecida” (p. 126-127).
Assim são eles. Homens que aprendem, a cada dia, o duro ofício de tornar-se pai. Esforçando-se, tantos deles, para se livrar de antigos métodos, aprendidos numa casa igualmente endurecida. Para aprender um pouco mais, escrevem. E partilham com suas crias, como bem disse Kafka, a compreensão do comum desamparo. Para assim, quem sabe, desmentir o mito e finalmente transformar o pai em uma figura de amor como talvez, sempre – secretamente – foram.
*Mariza Werneck é professora de antropologia na PUC-SP. Autora de O livro das noites: memória, escritura, melancolia (Educ).
Referência
Daniela Teperman, Thais Garrafa e Vera Iaconelli (orgs.). Laço. Belo Horizonte, Autêntica, 2020, 118 págs.
Referências bibliográficas
BYINGTON, Olivia. O que é que ele tem. São Paulo: Objetiva, 2015.
CARONE, Modesto. Uma carta notável (Posfácio). In: KAFKA, Franz. Carta ao pai. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
CARRASCOZA, João. Trilogia do adeus. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
COATES, Ta-Nehisi. Entre o mundo eu. Tradução de Paulo Geiger. São Paulo: Objetiva, 2015.
DINIZ, Vladimir. Poesia aos sábados. Belo Horizonte: Edições Oficina, 1971.
EPALANGA, Kalaf. Paternidade. Revista Quatro Cinco Um, n. 27, ano 3, out. 2019.
GUIMARÃES, Ruth. Dicionário da mitologia grega. São Paulo: Cultrix/MEC, 1972.
FERRO, Tiago. O pai da menina morta. São Paulo: Todavia, 2018.
HILLMAN, James. Laio, infanticídio e literalidade. In: HILLMAN, James; KERÉNYI, Karl. Édipo e variações. Tradução de Gustavo Barcellos e Edgar. Petrópolis: Vozes, 1995.
KAFKA, Franz. Carta ao pai. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MION, Marcos. Pai de menina: para ler ao lado de sua filha e construir uma relação para a vida toda. São Paulo: Academia, 2018.
OE, Kenzaburo. Uma questão pessoal. Tradução de Shintaro Hayashi. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
ROSA, João Guimarães. A terceira margem do rio. In: Ficção completa, v. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
TEZZA, Cristovão. O filho eterno. Rio de Janeiro: Record, 2007.
TOULMÉ, Fabien. Não era você que eu esperava. Tradução de Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Nemo, 2017.
VIANNA, Luiz Fernando. Meu menino vadio. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.