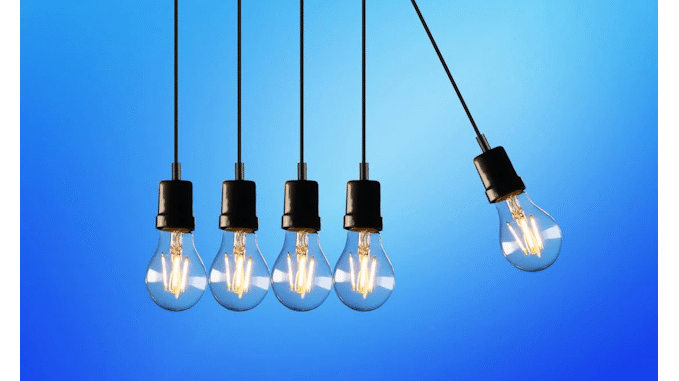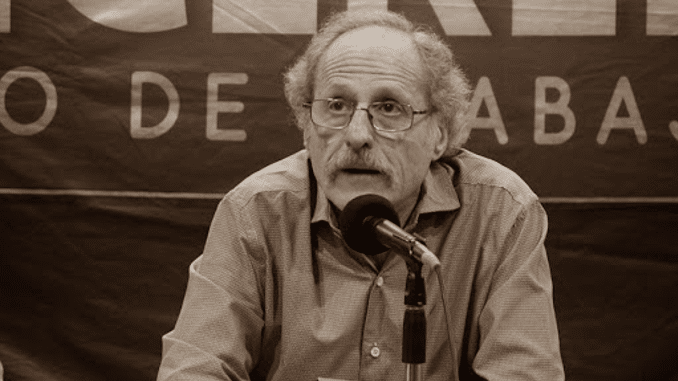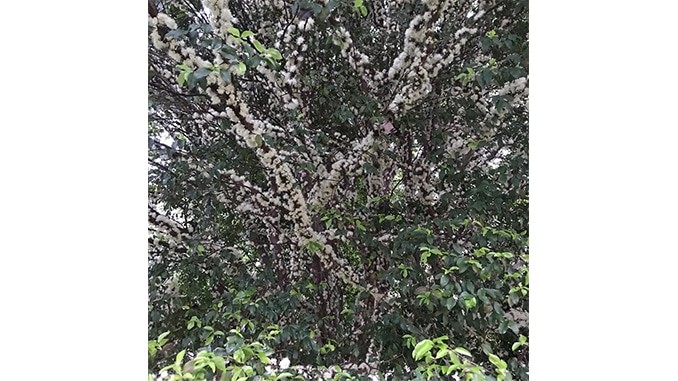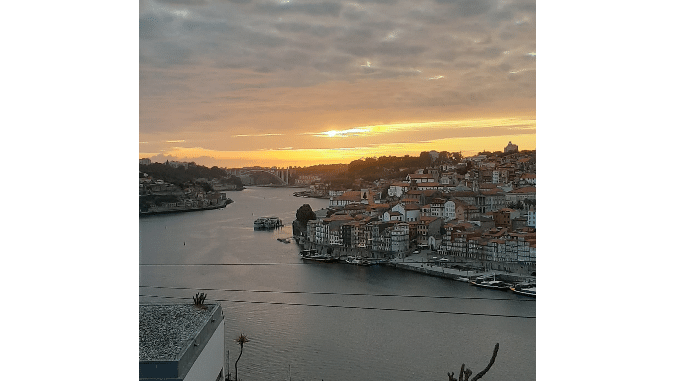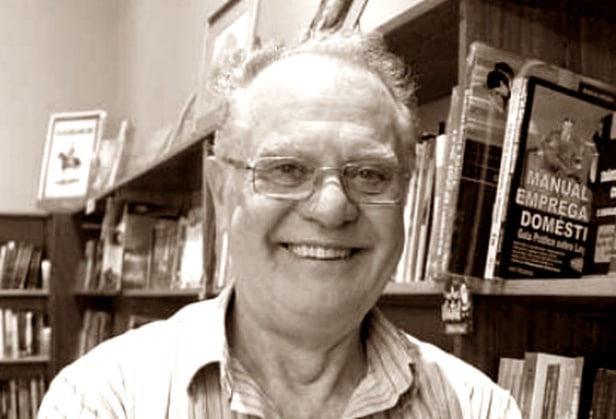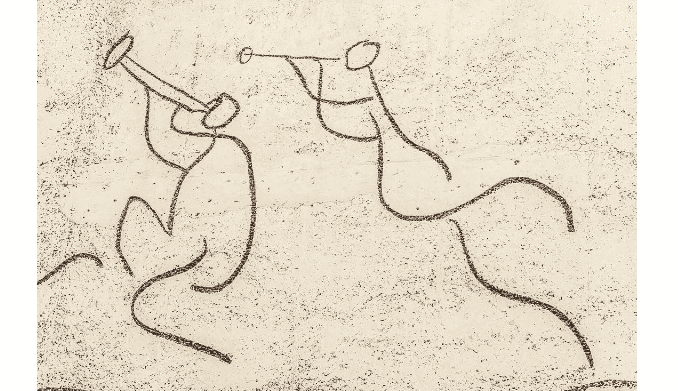Por HOMERO VIZEU ARAÚJO*
Considerações sobre a coletânea de contos de Machado de Assis
“Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida; mas a perda da voz explica tudo, e há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados”
(Machado de Assis, em Dom Casmurro)
1.
A coletânea Papéis avulsos (1882) é contemporânea de Memórias póstumas de Brás Cubas, embora seja publicado dois anos depois do aparecimento dos capítulos do romance na imprensa (1880). É um conjunto de contos espantoso em sua criatividade formal e profundidade temática. Vale recordar que Raymundo Faoro encerra seu clássico Os donos do poder com o conto “Dona Benedita”, extraído de Papéis avulsos.
Raymundo Faoro parafraseia sem dar o nome da personagem, o que talvez tenha desnorteado algum leitor menos atento. Em seu tratado sobre os desmandos das elites portuguesa e brasileira, Raymundo Faoro encontrou na simpática e errática Dona Benedita uma fórmula retórica para o desfecho de sua argumentação.
A essa altura do debate, já ficou claro que o romance Brás Cubas e este conjunto de contos alteram irremediavelmente a cena literária em língua portuguesa do século XIX: lidos hoje, romance e contos equivalem a uma intervenção estética e sarcástica na cultura em língua portuguesa do século XIX. Mesmo a perícia narrativa de Eça de Queirós suporta mal o contraste, em particular os contos deste autor não alcançam o nível de textos como “O segredo do Bonzo”, “O alienista” e “Dona Benedita”, cujo caráter experimental é surpreendente.
Aqui pretendo desenvolver um argumento um tanto unilateral, mas que julgo promissor, ao enfatizar o caráter teórico e/ou filosofante da maioria dos contos de Papéis avulsos, num circuito que vai de “O alienista” a “Verba testamentária”, isto é, do primeiro ao último conto da coletânea. Sobre “O alienista” é fácil discernir a piada um tanto tétrica do conluio entre ciência e poder, que é ilustrada pela trajetória de Simão Bacamarte e sua disposição para intervir, do alto de sua sabedoria inconteste, no cotidiano da pacata Itaguaí.
2.
O cientista Simão vai testando suas hipóteses sobre normalidade e insanidade, daí decorrendo o encarceramento em massa dos itaguaienses. Para que a pesquisa sobre os limites da loucura se desenvolva a contento, vários habitantes serão recolhidos à Casa Verde, o manicômio submetido às ordens do Doutor Simão. Sob a capa de tentativa e erro, vai adiante um empreendimento em que as teorias se sucedem para permitir que as ideias bacamarteanas sejam aplicadas à realidade, sempre com apoio das autoridades políticas disponíveis, apesar dos protestos de um ou outro vereador.
As ideias novas, aliadas a método autoritário, fazem aqui vítimas concretas a evidenciar que a disposição teórica tem consequências práticas efetivas, embora expostas em quadro farsesco. Na abertura do conto, o âmbito elevado se manifesta no apelo feito por el-rei, que oferece poder e glória ao filho genial de Itaguaí para que permaneça em Portugal, ao que Bacamarte responde com frase pomposa e próxima da tolice: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo. Dito isto, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p. 38)
Bacamarte, com este nome belicoso e também satírico, recolhe-se ao lugarejo colonial e dedica-se à ciência supostamente avançada, mas a frase maliciosa rima curas e leituras para infligir às pretensões científicas o método de demonstrar teoremas com cataplasmas. O circuito irônico é abusivo e próximo da farsa, com esta frase lapidar abrindo a sequência de desqualificação dos métodos científicos da douta autoridade.
Depois disso, aos quarenta anos, vem o casamento com Dona Evarista, que garantiria a continuidade do nome Bacamarte, mas a intenção é frustrada pela ausência de filhos. Dona Evarista, por sinal, não teria colaborado o suficiente ao recusar uma dieta que lhe seria imposta pelo estudioso, sempre com autoridade proveniente de consulta a universidades italianas e alemãs.
Embora admirasse o marido, Dona Evarista recusou-se a abandonar seu consumo de “bela carne de porco de Itaguaí”, e com isso selou a sorte da dinastia dos Bacamartes. Então Bacamarte, talvez para curar suas mágoas de pai frustrado, mergulha no estudo da medicina e aqui encontrará a ideia fixa científica adequada, isto é, estudar o material que se encontra aninhado no recanto psíquico, “o exame da patologia cerebral”. Nosso pesquisador de Itaguaí finalmente encontrou sua vocação de alienista, que para estudar a patologia cerebral e tentar curar a loucura que a muitos aflige, vai se permitir aprisionar um número alarmante de concidadãos em seu manicômio.
A novela se desenvolve em torno desta obsessão curativa e especulativa que leva o misto de cientista e carcereiro ao embate com praticamente toda a comunidade, até o momento em que chega à conclusão que o normal é a mania e a insânia, ou o “perfeito desequilíbrio das faculdades mentais” daí resultando que o único anormal era ele, o sábio sem defeitos. Aqui a perfídia machadiana ao satirizar a obsessão pela teoria e pela sanha explicativa vai ao cúmulo, no capítulo final que justamente se intitula “XIII. Plus ultra!”.
Em busca da razão última, o alienista persiste: “Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra! era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra! Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria. – Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à última verdade”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p. 96)
O texto é enfático e um tanto galhofeiro: depois de descobrir a teoria verdadeira da loucura, que já é teoria nova, virá a novíssima teoria, em busca de cuja fórmula o restante do capítulo será ocupado. Vale mencionar que no conjunto da novela, uma teoria ultrapassou a outra em ritmo regular. Neste final de O alienista, a renovada ideia fixa teorizante leva ao desfecho grandiloquente e sacrificial: o perfeito equilíbrio mental e moral encontra-se apenas em Simão Bacamarte, que, de acordo com esta novíssima teoria, deve se recolher à Casa Verde.
Os rogos e exclamações não demoverão nosso obstinado teórico, que dá sua última fala enfática, exalando teoria: “- A questão é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p. 98)
3.
John Gledson em seu prefácio esclarecedor e substancioso alega que, nos anos 1870 e sobretudo no final da década, há três chaves importantes para entender Papéis avulsos. Vou deixar as outras duas de lado e me concentrar no que se refere, digamos, ao debate teórico de época, ao célebre bando de ideias novas que chegou ao Brasil.
John Gledson refere como relevantes, para dar conta desta chave, escritos de crítica de Machado de Assis, com ênfase nas resenhas de O primo Basílio, de Eça de Queirós, e o ensaio longo “A nova geração” (Revista Brasileira, 1879). Neste último escrito, Machado apresente objeções bem-humoradas, mas contundentes aos excessos de teoria e doutrina professados pela juventude. Nota John Gledson: “Não se trata apenas de uma questão de estética: ele também manteve uma cautelosa distância frente ao “bando de ideias novas” – positivismo, materialismo, darwinismo – que na década de 1870 mudaram completamente o ambiente intelectual no Brasil”. (GLEDSON, 2011, p.10).
Nosso argumento aqui é que na maioria destes contos de Papéis avulsos há alguma teoria ou doutrina sendo ilustrada ou discutida, o que equivale a elaborar uma ficção de forte teor crítico e irônico que objeta às pretensões teóricas da rapaziada. A prosa argumentativa de Machado de Assis, repleta de subordinadas e digressões, estaria também desafiando a disposição polêmica e, mediante sarcasmo nem sempre sutil, os arroubos doutrinadores e autoritários, inclusive o da ciência de pretensão hegemônica.
As teorias armadas por Bacamarte, por mais variadas e um tanto incoerentes que sejam, são guiadas pela ideia fixa de avanço científico, a qual também corresponde a uma pretensão à glória que é reconhecida pelo implacável cientista. O enredo da narrativa, sabemos, inclui uma mini revolução provocada em boa medida pela atitude autoritária de Bacamarte, que se dispõe a confinar uma parcela importante de Itaguaí dentro da Casa Verde.
A insurreição dos canjicas permite o paralelo com episódios da Revolução Francesa, e o contraste corrosivo e diminuído é estrutural, a compor objeção paródica também aos procedimentos arbitrários de Bacamarte. No conjunto o feito estético é considerado brilhante e devastador; tendo a concordar que seja devastador, mas a sátira também tem algo de lugar comum reelaborado com alta técnica, o que resulta previsível e um tanto moralista.
Entretanto a aposta na provocação surpreende e transcende algum moralismo bem pensante. Registre-se o caso de padre Lopes, que é autoridade católica relevante, irônica e conservadora. Mantendo distância da ação do alienista, suas intervenções são sarcásticas e lúcidas, embora sempre a favor da ordem.
O fato é que a erudição do padre o leva a citar A divina comédia de Dante, no original, trecho de um episódio célebre do canto 33 do Inferno em que narrador Dante está apresentando Ugolino de la Gherardesca. A citação em italiano é recebida por uma parte de Itaguaí como sendo algo em latim incompreensível, mas a graça é que se trata de uma citação deturpada em que o padre faz trocadilho ofensivo, alterando peccator para secattore (de pecador para chato/maçador).
Uma mensagem cifrada de Machado de Assis, que tinha plena consciência de que seu público teria dificuldade em esclarecer o enigma. É um exemplo da ousadia artística do autor, capaz de experimentar com a tradição e textos clássicos sem medo da incompreensão ou da pecha de esnobe. Ou, por outra, quantos narradores do séc. XIX se permitem este tipo de experimento, com citação de clássico em língua estrangeira submetida a trocadilho para fins de ofensa?
4.
Antes de partirmos para os contos e suas teorias, com teoria do medalhão, nova teoria da alma humana, estudo patológico dedicado a célebre faculdade, etc., cabe fazer um comentário sobre um conto pouco teórico. “Dona Benedita” acompanha os dilemas da protagonista, marcando posição por ser quase tão longo quanto “O alienista”. Entre a ideia fixa masculina de Bacamarte e o procedimento mercurial e dispersivo que caracteriza a personagem Benedita há grande distância, ainda que se perceba notável complementariedade. Mas a formulação alegórica no fim de Dona Benedita não deixa de ser uma frase síntese que faz corpo com a disposição filosofante do conjunto de Papéis avulsos.
Sem forçar o argumento, talvez o paralelo entre o que a rigor, pela extensão, são duas novelas merecesse maior atenção do que será possível fazer aqui. Enquanto as aventuras de Bacamarte têm perfil sintético e linear, com começo, meio e fim; “Dona Benedita” prima pelo andamento aleatório e francamente volúvel ao acompanhar os ziguezagues de devoções rápidas, intenções que se extinguem e são substituídas, adesão a modas efêmeras mas talvez excessivamente longas (“por que é que as modas hão de durar mais de quinze dias?”) e projetos abandonados ainda no esboço.
A personagem movediça, uma antecipação da divulgada metamorfose ambulante da canção recente, diverge forte de Bacamarte, mas converge em uma senhora citada por Jacobina, o célebre protagonista que toma a palavra em “O espelho”, que menciona um exemplo entre vários casos de alma exterior em deriva acelerada. O argumento jacobino tem pretensão universalista, mas o âmbito nacional é evidente.
Depois de citar almas exteriores absorventes (ideias fixas?) como a pátria, para Camões, ou o poder, para César e Cromwell, Jacobina elabora: “São almas enérgicas e exclusivas; mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, – na verdade, gentilíssima, – que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera, cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra: um concerto, um baile do Cassino, a rua do Ouvidor, Petrópolis…
– Perdão; essa senhora quem é?
– Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome; chama-se Legião… E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p. 211)
A passagem me parece extraordinária e ilustra a aproximação entre “Dona Benedita” e “O espelho” que John Gledson ensaiou em seu prefácio a Papéis avulsos e que aqui levamos adiante. Em “é parenta do diabo, e tem o mesmo nome etc.” registre-se a força da paráfrase bíblica que remete ao célebre exorcismo efetuado por Cristo, agora atualizado para dar conta da labilidade de interesses e vontades da elite privilegiada. Um efeito estético sinistro, sintético e um tanto ameaçador ao redefinir a “natureza mudável” que parecia até simpática senão inofensiva.
De volta à natureza mudável de Benedita, John Gledson é quase exuberante ao saudar o feito estético, alegando que, após esta experimentação formal, Machado de Assis teria iniciado um recuo para formas mais tradicionais e reconhecíveis: “Com efeito, “Dona Benedita” é a mais puramente original ou experimental das histórias, ou assim me parece.” (GLEDSON, 2011, p.22).
E, embora evanescente e aleatória, a narrativa se encerra com efeito francamente enfático e alegórico: “Dona Benedita ficou aterrada, sem poder mexer-se; mas ainda teve a força de perguntar à figura quem era. A figura achou um princípio de riso, mas perdeu-o logo; depois respondeu que era a fada que presidira ao nascimento de Dona Benedita: Meu nome é Veleidade, concluiu; e, como um suspiro, dispersou-se na noite e no silêncio”. (MACHADO DE ASSIS,2011, p. 159)
O efeito fantasmagórico é reforçado, acho eu, pela ênfase alegórica e concludente na linha final da narrativa. Ao entabular conversa com este tipo de, digamos, entidade, a protagonista aterrada talvez intua que o ziguezague burguês escravista de vontades e volúpias pode estar adentrando a enfermaria da maluquice e do desvario.
Estamos aqui muito próximos do romance que saiu em livro em 1881, Memórias póstumas de Brás Cubas, praticamente um contemporâneo do conto. Os trejeitos do defunto autor foram estudados por Roberto Schwarz enquanto volubilidade do narrador Brás Cubas, a partir de uma formulação de Augusto Meyer sobre o assunto. A célebre e extraordinária tese de Roberto Schwarz sobre a refinada mimese operada por Machado de Assis tem evidente analogia com esta veleidade, de resto as palavras são sinônimas.
5.
Mas gostaria de mencionar outro gaúcho aqui, Raymundo Faoro, também ele magistral machadista, cujo A pirâmide e o trapézio, de 1975, é um tratado cruzando história e ficção na obra de Machado de Assis. Ora, Raymundo Faoro encerrou seu outro tratado sobre a História do Brasil com “Dona Benedita”, a registrar que a veleidade seria marca crucial da peculiar civilização brasileira, que configuraria, em parte, “uma social enormity”. As últimas linhas de Os donos do poder – a formação do patronato político brasileiro, parafraseiam o final do conto, sem nomear a senhora em causa.
“A máquina estatal resistiu a todas as setas, a todas as investidas da voluptuosidade das índias, ao contato de um desafio novo – manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, duramente administrativa, aristocraticamente superior. Em lugar da renovação, o abraço lusitano produziu uma social enormity, segundo a qual velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento do mundo virgem. Deitou-se remendo de pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, sem que o vestido se rompesse nem o odre rebentasse. O fermento contido, a rasgadura evitada gerou uma civilização marcada pela veleidade, a fada que presidiu ao nascimento de certa personagem de Machado de Assis, claridade opaca, luz coada por um vidro fosco, figura vaga e transparente, trajada de névoas, toucada de reflexos, sem contornos, sombra que ambula entre as sombras, ser e não ser, ir e não ir, a indefinição das formas e da vontade criadora. Cobrindo-a, sobre o esqueleto de ar, a túnica rígida do passado inexaurível, pesado, sufocante”. (FAORO, 2001, p. 837-8)
Em um livro tão elaborado retoricamente, a homenagem a Machado de Assis nas linhas finais dá o que pensar, embora não seja de forma alguma a única referência direta a Machado na obra. Um estudo mais detido, que talvez algum dia venha a ser feito, poderia revelar o quanto o clássico de Raymundo Faoro está marcado por referências machadianas.
Raymundo Faoro em 1958, segundo sugere a paráfrase machadiana, já topara com a síndrome da veleidade que se combina ao arbítrio e autoritarismo do estamento que dá título ao livro, os donos do poder, que dominam e governam, mas para fins próprios e pouco republicanos. Seriam uma setor dirigente, em termos weberianos usados por Faoro, um estamento entre burocrático e político, muitas vezes eleito, que organizaria a inserção da sociedade periférica na dinâmica capitalista, em ritmo combinado e desigual. A referência a Trotsky é explícita neste último capítulo de Os donos do poder.
De resto, o título deste capítulo final de Os donos do poder denota um paradoxo bem machadiano: “A viagem redonda: do patrimonialismo ao estamento”. Acho que não é excesso interpretativo associar esta viagem redonda à célebre Voyage autour de ma chambre, relato de Xavier de Maistre, a quem Machado de Assis se refere na abertura de Memórias póstumas de Brás Cubas.
Esperando não abusar do paradoxo, é sintomático que este relato longo e sem teoria, que é Dona Benedita, componha o desfecho de um livro ambicioso que postula uma teoria de Brasil. Como não encontrei até agora nenhuma menção ao final machadiano de Os donos do poder entre os comentaristas de Machado de Assis e Raymundo Faoro, talvez valha a pena ser repetitivo, acentuando o quanto Papéis avulsos é crucial na obra de Machado de Assis e faz par com Brás Cubas enquanto intervenção de largo impacto na literatura de língua portuguesa.
Sobre a atualização do debate mediante postulação de veleidade e volubilidade em escala nacional, impressiona que dois intérpretes tão refinados e audazes de Machado de Assis cheguem a resultados análogos, embora sem vínculo aparente. Perscrutando a experiência e os ritmos da modernização capitalista, Raymundo Faoro e Roberto Schwarz se valem da obra machadiana para desvendar a complexidade do processo, o que equivale a ler os livros antigos com questões que os atualizem.
6.
Depois deste excurso sobre “Dona Benedita”, com seu final alegórico, voltemos ao debate teórico da época. A síntese clássica sobre “o bando de ideias novas” da geração de 1870, para variar, é de Roberto Schwarz em Um mestre na periferia do capitalismo, uma síntese irônica elaborada a partir do sarcasmo machadiano, ou melhor, no âmbito do acúmulo de teorias entre amalucadas e perspicazes que se enunciam em Memórias póstumas de Brás Cubas.
“O ensaio sobre “A nova geração”, de 1879, insistia justamente na maneira pouco apropriada pela qual os poetas vinham assimilando a tendência europeia recente. Aqui e ali, procurando explicitar impropriedades, Machado encontrava fórmulas para a comicidade objetiva deste processo. O conjunto das anotações esboça uma problemática de muito alcance, e compõe, ou abstrai, no que diz respeito ao funcionamento da vida intelectual, a matéria literária das Memórias. (…)
O progressismo alvar não seria uma exclusividade brasileira, nem a nota dominante daqueles anos. Contudo, associado ao atraso ambiente, ele adquire feição patética e um quê localista. Com efeito, só fazendo abstração completa da realidade, ainda que em nome de uma lei natural ilustre, seriam possíveis o mencionado otimismo e o correspondente contentamento de si. Machado duvidava do aggiornamento repentino por obra da ciência, e tampouco acreditava na independência intelectual súbita. “A atual geração, quaisquer que sejam os seus talentos, não pode esquivar-se às condições do meio; afirmar-se-á pela inspiração pessoal, pela caracterização do produto, mas o influxo externo é que determina a direção do movimento; não há por ora no nosso ambiente a força necessária à invenção de doutrinas novas”. (SCHWARZ, 2012, p. 152-153)
Na síntese operada por Roberto Schwarz, ficam evidentes as objeções de Machado ao entusiasmo da juventude em transe cientificista, sendo o conjunto de teorias enunciadas por Brás Cubas, em boa medida, uma sátira agressiva. Em procedimento a demonstrar a assombrosa autonomia intelectual de Machado, o ensaio “A nova geração” antecede a reelaboração ficcional do problema, que rende as páginas também espantosas de Memórias póstumas de Brás Cubas.
Nos contos do livro em pauta, o desfile de teorias é explícito ou disfarçado. As teorias testadas por Bacamarte ganham caráter sinistro por se valerem de cobaias humanas, mas nos célebres contos “Teoria do medalhão” e “O espelho – esboço de uma nova teoria da alma humana” argumentos e reflexão também são desviados e satirizados com ênfase e precisão. Há mais, contudo, vale lembrar que Papéis avulsos é encerrado por “Verba testamentária”, que tinha por subtítulo, quando publicado em revista, “Estudo patológico dedicado à Escola de Medicina”, de acordo com John Gledson em seu prefácio. O estudo patológico pressupõe de alguma maneira uma teoria adequada.
7.
Em “Verba testamentária” fica evidente o quanto a teoria machadiana está próxima de uma ilustração do pecado capital da inveja, que vira uma patologia a azucrinar a vida do “pobre Nicolau”, que de pobre nada tem, sendo ele antes um próspero filho da elite oitocentista carioca. Assim o pecado tradicional e bíblico fica pautado histórica e socialmente a ponto de criar uma caricatura extravagante da inveja que não deixa de também causar ira/fúria, em Nicolau, o que incide em outro pecado capital.
É possível discernir assim um procedimento de definição moral cuidadosamente instalado na primeira metade do século XIX, em que a sabedoria bíblica e o moralismo crítico seiscentista são reelaborados em quadro de ambiciosa mimese realista.
Sem falar que aqui se esbarra de novo na ideia fixa (ou emoção fixa?), o que carrega forte nas tintas satíricas e talvez torne unilateral e mais fraca a caracterização da personagem. Pode ser, mas vale a pena acentuar o quanto Machado de Assis, com seu narrador digressivo e afeito a citações, alcança uma teoria que, ao misturar caracterização moral, teoria antiga de pecados e detalhe realista, recusa as certezas naturalistas disponíveis e explora em nível mais elaborado as possibilidades da prosa ficcional.
“O segredo do Bonzo”, vazado em português quinhentista, que já é demonstração de maestria e exigência, também comporta teoria. Na relativização contínua e embusteira de várias hipóteses no reino de Bungo visitado por ocidentais, o que está em jogo é a doutrina do bonzo Pomada, isto é, a teoria pomadista do conhecimento e do convencimento, com perdão pelo trocadilho. O narrador malicioso é explícito no desfecho do primeiro parágrafo: “Agora direi de uma doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p. 160).
Não há dúvida que aqui estamos no âmbito da farsa, que ganha contraste exuberante ao ser enunciada em língua arcaica. Pomada e pomadista estão dicionarizados ainda hoje como sendo mentira e mentiroso, ou charlatanice e charlatão.
Ora, John Gledson nota que mesmo um conto de outra feição e de teor alucinatório e onírico, “A chinela turca”, encerra-se em linhas filosofantes, talvez um tanto forçadas que podem ser resumidas a “o melhor drama está no espectador e não no palco”; há forte semelhança com o segredo pomadista e trapaceiro do Bonzo, devidamente resumido a “não há espetáculo sem espectador”. Tendo a concordar com a objeção de John Gledson, para quem a frase final daquele conto deixa a desejar. E Gledson aponta que na versão original publicada em revista não havia tal encerramento filosofante/teórico: “O que não diz é que nem o último parágrafo do conto nem a ideia que exprime – “o melhor drama está no espectador e não no palco” – estavam presentes na versão de 1875. Parece-me que foram acrescentados justamente para fazer com que ”A chinela turca” se adequasse melhor ao ambiente do livro, sendo bastante semelhante a outras frases de outras histórias, como “não há espetáculo sem espectador”, de “O segredo do Bonzo”. Seu tom generalizante não combina (ou assim me parece) com o resto do conto, a história do pesadelo do bacharel Duarte que lhe permite escapar da leitura do terrível melodrama do major Lopo Alves”. (GLEDSON, 2011, p. 15)
8.
Dito isso, não é necessário forçar a noção de teoria para incluir entre os contos reflexivos “A sereníssima república”, cujo subtítulo é “Conferência do cônego Vargas”. Trata-se de uma sátira, de cunho alegórico, ao viciado processo eleitoral e político brasileiro sob o Segundo Reinado, com suas fraudes óbvias e sua patética dinâmica oligárquica e clientelista em sociedade escravocrata.
O cônego Vargas não só descobriu uma novidade de cunho científico, mas está contribuindo para alguma glória nacional: “Meus senhores, Antes de comunicar-vos uma descoberta, que reputo de algum lustro para o nosso país, deixai que vos agradeça a prontidão com que acudistes ao meu chamado. Sei que um interesse superior vos trouxe aqui; mas não ignoro também – e fora ingratidão ignorá-lo, – que um pouco de simpatia pessoal se mistura á vossa legítima curiosidade científica. Oxalá possa eu corresponder a ambas”.
“Minha descoberta não é recente; data do fim do ano de 1876. Não a divulguei então, – e, a não ser O globo, interessante diário desta capital, não a divulgaria ainda agora, – por uma razão que achará fácil entrada no vosso espírito. Esta obra de que venho falar-vos, carece de retoques últimos, de verificações e experiências complementares”. (MACHADO DE ASSIS, 2011, p.196)
A descoberta inovadora sobre o regime social das aranhas vai incidir sobre os truques daquele estamento estudado por Faoro para se perpetuar no poder. No trecho acima os pruridos científicos vêm acompanhados de agradecimentos pela compreensão dos pares, numa armação retórica em que o sarcasmo machadiano une o disparate da teoria sobre as aranhas ao clima compadresco que soma o cônego e o público para a seguir escarnecer o charlatanismo político em vigor.
Caso interessante é o conto “O empréstimo”, cujo enredo praticamente se resume ao duelo verbal e emocional entre o rico tabelião Vaz Nunes e o pobre-diabo Custódio que tenta arrancar-lhe um empréstimo. O final do conto tem uma chave de ouro um tanto conformista e pensamentosa que, até onde percebo, não faz justiça a ótimos momentos de caracterização e contraste entre personagens.
O interesse fica por conta da abertura em andamento abstrato em que o erudito cavalheiro que narra com distância jocosa vai de Carlyle a Pitágoras, desaguando em Sêneca, a ser emendado: “E, para começar, emendemos Sêneca. Cada dia, ao parecer daquele moralista, é, em si mesmo, uma vida singular; por outros termos, uma vida dentro da vida. Não digo que não; mas por que não acrescentou ele, que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira? (…) Tudo isso que se passou em trinta anos, pode algum Balzac metê-lo em trezentas páginas; por que não há de a vida, que foi a mestra de Balzac, apertá-lo em trinta ou sessenta minutos?” (MACHADO DE ASSIS, 2011, p.186)
A defesa bem-humorada da brevidade contra os excessos romanescos faz um elogio aberto do relato curto, uma miniteoria da narrativa que ironicamente advoga em causa própria, ou melhor, em favor da anedota que se apresenta a ser narrada nas primeiras linhas do conto. A ambição filosófica nutre-se de algum disparate que antecipa a maneira em que o conto vai prosseguir, mas também há aqui uma defesa da forma breve em que uma anedota nem tão inventiva pode render uma boa estória.
Entre bonzos maliciosos, cônegos pretensiosos, pais sentenciosos e Jacobina incisivo, configura-se um cortejo de Bacamartes que expõem preceitos, argumentam e distorcem os argumentos, elaboram raciocínios tortuosos, etc., sendo que o conjunto de situações e enredos ilustra a variedade espantosa do arsenal paródico de Machado de Assis ao assimilar e reelaborar o fervor cientificista dos contemporâneos.
Nos contos aqui avaliados estão em parte reunidos procedimentos que se encontram em Brás Cubas, mas também nos demais romances do autor: “Por outro lado, já que estas abstrações são claramente arbitrárias elas mesmas, não é somente a realidade externa que é vitimada pelos caprichos do narrador: o próprio ato de abstrair é envolvido também. Com efeito, há nestes romances uma comicidade muito especial, ligada às faculdades de abstração e raciocínio. Por serem tão impalpáveis e do domínio lógico, estas não parecem matéria de ficção, e, entretanto, é nelas que a volubilidade e desfaçatez se mostram em forma máxima, ou mais radical. Analogamente, a sintaxe muito armada e cheia de construções paralelas e subdivididas, recurso, em princípio de complexidade racional, é uma expressão cômica de arbítrio”. (SCHWARZ, 1987, p.120)
Machado de Assis testa situações narrativas, personagens, enquadramentos, digressões e, digamos, raciocínios que compõe o arsenal de seus romances ambiciosos. Mas também reelaborou com malícia o ímpeto de seus contemporâneos dispostos a propagar o “bando de ideias novas” que infestou o mundo mental da elite de pretensões cosmopolitas do último quarto do século XIX: trata-se de uma intervenção pessimista e experimental combinando Memórias póstumas de Brás Cubas e Papéis avulsos.
*Homero Vizeu Araújo é professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Referência
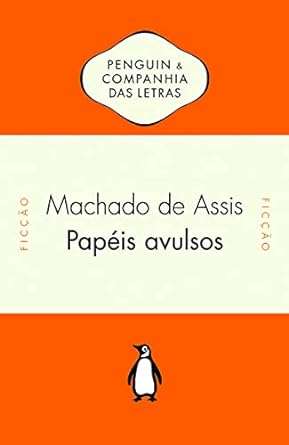
Machado de Assis. Papéis avulsos. São Paulo, Penguin Classics / Companhia das Letras, 2011, 272 págs. [https://amzn.to/3FVu5P0]
Bibliografia
FAORO, Raymundo. Os donos do poder – formação do patronato político brasileiro. 3ª. ed, rev. São Paulo: Globo, 2001.
GLEDSON, John. “Papéis avulsos: um livro brasileiro?” Prefácio de MACHADO DE ASSIS. Papéis avulsos. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.
MACHADO DE ASSIS. Papéis avulsos. Introdução de John Gledson; notas de Hélio Guimarães. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.
SCHWARZ, Roberto. Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34. 2012 (2ª. edição).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA