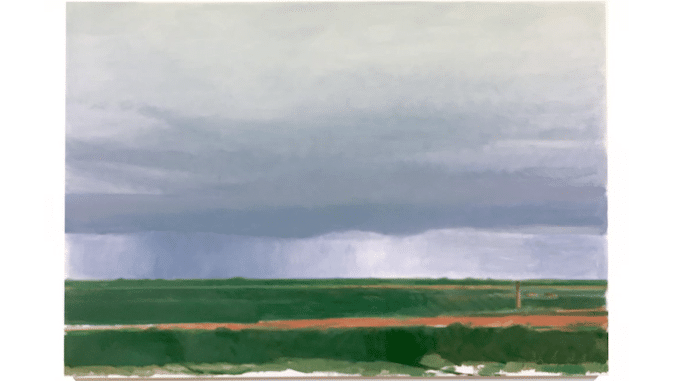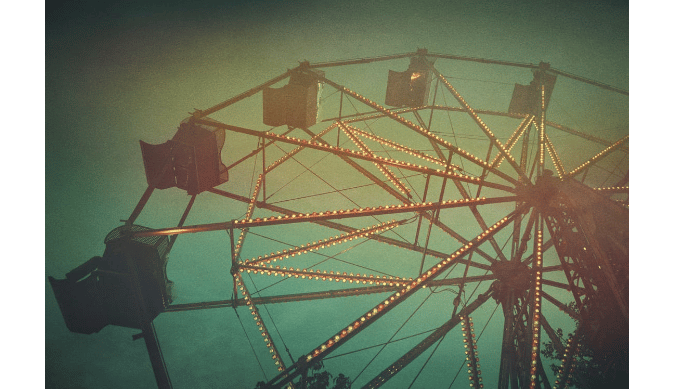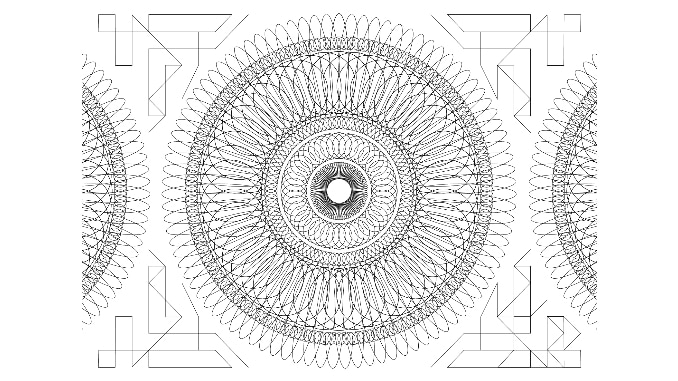Por MARIAROSARIA FABRIS*
Considerações sobre algumas resenhas cinematográficas do cineasta Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini dispensa apresentações, porque é conhecido sobejamente no Brasil, em suas múltiplas facetas; contudo, uma de suas atividades, a de crítico cinematográfico, exercida esporadicamente entre 1959 e 1974, não tem sido estudada entre nós. As resenhas cinematográficas foram divulgadas por Pasolini nas orelhas de alguns roteiros publicados e nos periódicos Reporter (dezembro de 1959-março de 1960), Vie nuove (outubro de 1960-janeiro de 1965), Tempo illustrato (outubro de 1968 -janeiro de 1969), Paese sera (maio de 1970), Playboy (janeiro-fevereiro de 1974), Cinema nuovo (maio-outubro de 1974) e Il messaggero (outubro de 1974).
Os anos 1960 foram de intenso trabalho para o Pasolini periodista, já que, além das revistas e jornais citados, ele colaborou com outros veículos – L’Espresso, Il giorno, Rinascita, Paragone, Nuovi argomenti, Cinema e film, Bianco e nero, Filmcritica –, nos quais publicou vários textos sobre língua, literatura, arte, cinema, política, quase todos reunidos em Empirismo eretico (Empirismo hereje, 1972), Le belle bandiere (As belas bandeiras, 1977) e Il caos (O caos, 1979). Uma atividade que prosseguiu na década seguinte, pois, a partir de 7 de janeiro de 1973, ele passou a responder pela seção “Tribuna aperta” do diário Il corriere della sera, na qual se debruçou sobre as mudanças antropológicas e culturais da sociedade italiana nos últimos dez anos, em artigos posteriormente agrupados em Scritti corsari (Escritos corsários, 1975).
Apesar de outros escritos sobre cinema veiculados em periódicos, o presente texto concentra-se naqueles em que Pasolini exerceu a crítica cinematográfica, organizados por Tullio Kezich no volume I film degli altri (1996). Trata-se de trinta e cinco artigos em que ele analisava filmes de Roberto Rossellini, Luchino Visconti; Pietro Germi, Franco Rossi, Mauro Bolognini; Michelangelo Antonioni, Federico Fellini; Ermanno Olmi, Florestano Vancini, Marco Ferreri, Bernardo Bertolucci, Liliana Cavani, Maurizio Ponzi, Sergio Citti, Enzo Siciliano, Nico Naldini; Sergei Eisenstein, Sergei J. Jutkevic; Ingmar Bergman; Paul Vecchiali, François Truffaut; Stanley Kramer, Robert Wise e Michel Gordon, além de tecer comentários sobre outros diretores e alguns atores que admirava (Anna Magnani, por exemplo) ou abominava (Alberto Sordi, só para citar o mais criticado): “no fundo, o mundo de Anna Magnani é parecido, se não idêntico, ao de Sordi: ambos romanos, ambos do povo, ambos dialetais, profundamente marcados por um jeito de ser particular ao extremo (o jeito de ser da Roma plebeia etc.). Anna Magnani, no entanto, teve muito sucesso, mesmo fora da Itália […]. O escárnio da mulher do povo de Trastevere, sua risada, sua impaciência, seu jeito de dar de ombros, sua mão no colo acima das ‘tetas’, sua cabeça ‘descabelada’, seu olhar de nojo, sua pena, sua aflição: tudo se tornou absoluto, se despiu da cor local e se tornou mercadoria de troca internacional. […].
Alberto Sordi, não. […]
Só nós rimos da comicidade de Alberto Sordi […]. Rimos e saímos do cinema com vergonha de termos rido, porque rimos de nossa covardia, de nosso indiferentismo, de nosso infantilismo.
Sabemos que Sordi, na verdade, é produto não do povo (como a autêntica Magnani), mas da pequena burguesia, ou daquelas camadas populares não operárias, as que se encontram especialmente nas regiões subdesenvolvidas, que estão sob a influência ideológica pequeno-burguesa”.[1]
As resenhas serviram também para Pasolini exaltar o próprio trabalho de roteirista (sobretudo de obras anteriores à sua estreia como diretor) e de realizador em relação a filmes que eram contemporâneos de suas produções, como aconteceu, em 1969, com La caduta degli dei (Os deuses malditos), de Visconti, e Satyricon (Fellini – Satyricon), de Fellini, que julgou “comerciais” e “inferiores” a seu Porcile (Pocilga); embora, em seguida, tenha se retratado pela “brutalidade” e pela “leviandade” de sua afirmação, Pasolini arrematava: “Todavia, naquela frase grosseira, eu disse aquilo que acredito ser a verdade”. Nesse sentido, os textos mais significativos são os que envolvem sua polêmica participação na revista Reporter, uma vez que neles, a exemplo de outros cineastas que exerceram a crítica cinematográfica antes de começarem a filmar, Pasolini defendia seu conceito de cinema.
Causa estranhamento vê-lo colaborar com esse semanário de atualidades, variedades e costumes financiado pelo MSI – Movimento Social Italiano, partido fundado em 1946 por ex-integrantes da República Social Italiana ou República de Saló (1943-1945). Segundo Adalberto Baldoni, a criação da revista, em 1959, respondia ao intuito do MSI de fazer frente a outros periódicos de direita, como Il borghese e Lo specchio (a fim de disputar votos com a Democracia Cristã), e de frear a hegemonia que as esquerdas haviam alcançado no campo cultural desde o segundo pós-guerra.
Naquele período, Pasolini já era colaborador de Il giorno e Paese sera (órgãos de esquerda) e, nos artigos que escreveu para Reporter, jamais escondeu ou camuflou sua ideologia marxista. Para Tullio Kezich, conforme registrou Baldoni, no estranho conúbio com a direita – que se repetirá quando de sua colaboração com Il corriere della sera –, ele valia-se de sua seção para acertar contas com amigos e inimigos, sem ter que dar satisfação a ninguém por suas opiniões, uma vez que não havia interferências de editores ou diretores, como podia acontecer em periódicos de esquerda. E, assim, ia distribuindo suas bordoadas, atingindo principalmente seus desafetos, uma vez que era bem mais condescendente com quem admirava e com quem o prestigiava ou fazia parte de seu círculo de amizades.
Declarava Pasolini: “Fazer uma crítica, mesmo de um ponto de vista não exatamente crítico, como pode ser a resenha de um filme num semanário, é sempre uma operação complexa, por mais simples que seja, por mais rápida que seja. Ela implica, por parte de quem emite um juízo, todo um sistema ideológico, não importa se for consciente e racional, ou inconsciente e intuitivo”.
Na impossibilidade de comentar todas as resenhas escritas por Pasolini, optei por apresentar alguns casos que exemplificam como ele leu os filmes dos diretores citados anteriormente. Embora haja considerações interessantes sobre cineastas estrangeiros, vou ater-me principalmente ao cinema italiano, levando em conta uma declaração do próprio Pasolini: “um filme italiano ruim nos desagrada, nos ofende, nos envolve. Um filme americano ruim, simplesmente, nos aborrece”.
Nessa sua afirmação, para nós, não deixa de ecoar a de Paulo Emilio Salles Gomes quando apregoava que o pior filme brasileiro era melhor do que o melhor filme estrangeiro, no sentido de que os dois assumiam uma postura mais ideológica do que estética diante da produção cinematográfica de seus países, uma vez que os filmes nacionais revelariam e refletiriam a sociedade local.[2]
No artigo “Amor de macho”, publicado em O pasquim um mês depois da morte do cineasta italiano, Glauber Rocha, ao rememorá-lo, escrevia que a tribo de Pasolini era integrada por Alberto Moravia (cacique), Sergio e Franco Citti (cangaceiros) e Bernardo Bertolucci (filho rebelde), nomes presentes nas resenhas em tela. A eles podem ser acrescentados os do escritor Enzo Siciliano e de Nico Naldini, primo do poeta bolonhês, ambos autores de uma única obra cinematográfica, louvada pelo resenhista: o filme de ficção La coppia (1968) e o documentário Fascista (1974), respectivamente.
Pasolini considerava Moravia uma exceção enquanto crítico cinematográfico, por não ser nem superficial, como a maioria, nem afeito ao provincianismo e muito menos ao dogmatismo, como os de esquerda. Ademais, julgava seu romance La noia (O tédio, 1960) superior a La notte (A noite, 1960), enquanto expressão da “anti-humana condição do homem na sociedade hodierna”, debochando dos diálogos do filme de Antonioni. É curioso que o próprio Moravia, ao resenhar La notte, considerou Antonioni um dos poucos cineastas “cujos filmes, traduzidos para a prosa, não fariam feio perto dos produtos mais sofisticados da narrativa moderna”. Pasolini gostava ainda menos de L’eclissi (O eclipse, 1962), mas apreciou Deserto rosso (O deserto vermelho, 1964), no qual o diretor de Ferrara “finalmente pôde ver o mundo com seus olhos, porque identificou sua visão delirante de esteticismo com a visão de uma neurótica”, alcançando a “embriaguez poética”. Além de finalmente aceitar a temática da alienação na visão de Antonioni, em sua resenha, destacou sobretudo os aspectos “poéticos” do filme, utilizando argumentos (inclusive os citados acima) que, num trecho de seu ensaio “Il cinema di poesia” (“O cinema de poesia”, 1965), foram reproduzidos quase ipsis litteris.
Quanto a Bertolucci, em Partner (1968), Pasolini louvou o distanciamento que o jovem diretor soube criar entre o que era representado na tela e o espectador, solicitado o tempo todo a julgar o que estava sendo exibido, mas, concomitantemente, criticava sua incapacidade de desvincular-se da “série ininterrupta de citações e imitações”, ao seguir na linha godardiana.[3] O cineasta bolonhês manteve uma postura de admiração/antagonismo[4] em relação a Jean-Luc Godard e não escondia sua aversão pela Nouvelle Vague – “Não falarei sobre a Nouvelle Vague, porque todos estão de saco cheio”, escrevia em 1960 –, nem que praticamente abominava Truffaut. Ao referir-se a Persona (Persona, 1966), de Bergman, embora o considerasse “um filme esplêndido”, Pasolini não discordou dos vestígios godardianos, que detectava na montagem e na presença de alguns “maneirismos ‘profílmicos’ (a câmera em cena, por exemplo)”.[5]
Como lembra Gianni Borgna, no entanto, ele mesmo não deixou de pagar seu tributo ao cineasta suíço, no tocante ao experimentalismo, em Il vangelo secondo Matteo (O evangelho segundo São Mateus, 1964), e até mesmo em sua obra poética: “Una disperata vitalità” (“Uma vitalidade desesperada”), que integra o volume Poesia in forma di rosa (1961-1964), iniciava com o verso “Como num filme de Godard […]”.
Sergio Citti foi transformado por Pasolini numa espécie de diretor orgânico (tomando emprestado o termo gramsciano), uma vez que vinha “diretamente de um mundo popular”, o mesmo mundo que levava para as telas. Nem por isso, no entanto, podia ser considerado um naïf (ou seja, um amador, na definição do resenhista), porque tinha plena consciência da operação formal que levava a cabo em sua obra, ao mesmo tempo em que ainda resguardava alguns resíduos de sentimentos em estado bruto. Com isso, conseguia alcançar um grau de realidade dificilmente atingido no melhor cinema de autor.
Ao contrário de Pasolini, que assinava (junto com Citti) o roteiro do filme, Moravia considerou Ostia (1970) um dos raros exemplos, quando não o único, de “cinema naïf”: “O naïf, no que diz respeito à relação entre arte e sociedade, é o contrário do artista. Este não acredita nas convenções sociais e, principalmente, sabe que, se quiser fazer arte, não deve acreditar nelas: mas é capaz de oferecer uma sua representação, como faria com outro objeto qualquer. O naïf, ao invés disso, acredita nas convenções sociais ou, ao menos, acha que se deva acreditar nelas: por isso, as representa de modo conformista e respeitoso, como convém a uma matéria privilegiada, merecedora de um tratamento específico. O resultado é que a poesia do artista deve ser buscada nos módulos expressivos, enquanto a do naïf está no que há de inconsciente, o qual, apesar dele, transparece em sua escrupulosa representação. […]
Ostia é um filme notável e, dentro de seu gênero, como dissemos, único. Nele, Sergio Citti recuperou uma Roma bem autêntica, na qual a atmosfera dissimulada e sardônica da antiga cidade de Belli[6] se mistura com a esqualidez dos bairros periféricos pasolinianos. Citti, porém, não contempla essa realidade como Pasolini; oferece-a diretamente, com a ingenuidade cúmplice de quem faz parte dela. Mais um traço de artista naïf”.
Segundo Pasolini, Sergio, como diretor, e seu irmão Franco Citti, como ator, seriam discriminados por serem da periferia e só críticos não racistas poderiam apreciar sua primeira realização, um filme à altura daqueles de Rossellini, em termos de “simplicidade e naturalidade”. Considerava Ostia “um filme belíssimo”, enquanto julgava feios os de Eisenstein, com exceção de Qué viva México! (1933), exatamente por não ter sido montado por seu realizador. Em seus comentários cinematográficos, Pasolini não tinha medo de discordar do parecer de outros críticos no que dizia respeito a obras ou cineastas já consagrados.
Mais um exemplo nesse sentido pode ser encontrado em suas opiniões sobre Visconti, um de seus desafetos. Manifestou certa perplexidade diante de Rocco e i suoi fratelli (Rocco e seus irmãos, 1960), preferiu Senso (Sedução da carne, 1954) a La terra trema (A terra treme, 1948), esquecendo que, talvez, sem algumas “ousadias” formalistas de Visconti em enquadramentos inspirados na arte pictórica ou no emprego radical só de atores não profissionais que se expressavam em sua linguagem popular, ele mesmo não teria chegado a realizar um filme como Accattone.
A obra viscontiana que recebeu a crítica mais impiedosa de Pasolini foi La caduta degli dei: “Poderia falar-lhe ainda longamente de seu filme. Limito-me, porém, a fazer-lhe só mais uma observação: o emprego do zum. Ele representa uma inovação estilística dentro de sua obra; a adoção de um meio expressivo não severamente tradicional, usado com tanta facilidade pelos diretores medíocres. Você, contudo, o absorveu por completo em seu velho estilo, fazendo dele, assim, um mero verniz de novidade expressiva, uma pequena concessão aos tempos que correm. Você a codificou.
Pronto, chegamos ao ponto: seu filme (que codificou o que é novo e confirmou mais uma vez o que é velho) objetivamente se presta a uma operação de restauração. Não por nada, assisti, atônito, a um daqueles telejornais atrozes, gerados na baixa corte do poder, o qual, ao filmá-lo enquanto você ia, acho, a um desfile, comenta: ‘Olha quem está aqui, um diretor de verdade’. Isso implica uma reação contra tudo o que o cinema fez e descobriu nesses últimos anos. Uma reação cinematográfica que é, antes de tudo, política”.
Não menos impiedosos se revelam seus comentários sobre Germi, um dos intelectuais de extração católica que se insurgiram contra a caça às bruxas (macarthismo) na indústria cinematográfica italiana, em meados dos anos 1950. Embora elogie Un maledetto imbroglio (Aquele caso maldito) e o arrole dentre os melhores filmes de 1959, ao resenhá-lo, Pasolini aproveitava para atacar seu autor, condenando sua ideologia indiferentista, seu papel de escudeiro da moral pequeno-burguesa italiana, “apreciando”, nesse sentido, o filme anterior, L’uomo di paglia (O homem de palha, 1957), no qual, em relação a Il ferroviere (O ferroviário, 1956), o diretor genovês teria dado um grande passo, ao perceber, mas não de todo, que “seu personagem ideal, interpretado por ele mesmo, sadio, sentimental, generoso e moralista, apesar de sua bondade e de sua honestidade, é ‘de palha’”.
Pasolini foi mais condescendente com diretores que se afirmaram no mesmo período que ele – Olmi, Ferreri, Cavani e, ainda, Ponzi (crítico cinematográfico que, em 1966, dirigiu o documentário Il cinema di Pasolini), e Vancini, o qual, com La lunga notte del ’43 (A noite do massacre, 1960), levava para a tela um roteiro de Pasolini (e Ennio De Concini), baseado no conto “Una notte del ‘43”, de Giorgio Bassani, amigo do escritor bolonhês.[7]
Não deixa de chamar a atenção, porque não se trata de um caso isolado, o entusiasmo que Pasolini demonstra por filmes baseados em roteiros de sua autoria. O exemplo mais representativo talvez seja o de Il bell’Antonio (O belo Antônio, 1960), de Bolognini, baseado no livro homônimo que Vitaliano Brancati havia publicado em 1949. Pasolini, no romance, não gostava nem do sistema de ideias do autor, que considerava confuso, nem de sua moral ambígua, nem do modo como a impotência sexual do protagonista era eludida, enquanto apreciou o filme exatamente por ter valorizado o universo do escritor e ter conseguido ir além das próprias sugestões do roteiro, revelando uma angústia absolutamente moderna: “O belo Antônio não é mais o belo Antônio de Brancati e, em parte, nem o do roteiro: seu problema sexual não é temperado com uma beleza lânguida e pungente. […] é um personagem introvertido, angustiado, doce, ora fechado demais, ora expansivo demais: sua dor é contida, mas contagiante, apaixonante. Bolognini, em suma, embora com muita moderação, fez dele um personagem romântico, mas não de segundo time, mal acabado: um romantismo primário, digamos, isto é, de tipo decadente, como se manifesta em determinadas camadas progressistas da burguesia. Assim, a angústia, que, no belo Antônio, provoca sua anormalidade, tem acentos extraordinariamente novos e atuais”.
Pasolini integrou o time de roteiristas de mais quatro realizações do diretor toscano: Marisa la civetta (Namoros de Marisa, 1957), Giovani mariti (Jovens maridos, 1958), La notte brava (A longa noite de loucuras, 1959) e La giornata balorda (Um dia de enlouquecer, 1960). Neste, colaborou também Moravia, uma vez que o roteiro estava baseado em obras de sua autoria, Racconti romani (Contos romanos, 1954) e Nuovi racconti romani (Novos contos romanos, 1959). Quanto a La notte brava – em que ampliou um episódio não aproveitado no felliniano Le notti di Cabiria (As noites de Cabíria, 1958), embora para muitos estaria baseado em seu romance de ambiente romano Ragazzi di vita (Meninos da vida, 1955), o mesmo que servirá de inspiração a Accattone –, Pasolini achava que o mundo do lumpemproletariado não era o do cineasta, “a não ser indiretamente, a não ser por implicar um amor algo complacente e abnorme”.
Segundo Roberto Poppi, os melhores filmes de Bolognini foram aqueles em que a poética pasoliniana foi mais marcante, ou seja, as três transposições de obras literárias para a tela. La notte brava, em algumas sequências, traz traços tão evidentes do universo de Pasolini, que poderia ser classificado como uma espécie de obra inaugural de sua atividade de diretor, se Bolognini tivesse conseguido levar para a tela a visão deste em relação ao mundo periférico romano, como já tive ocasião de escrever.
Sem pôr em dúvida os méritos de Il bell’Antonio, não se pode esquecer que foi graças a seu realizador que Pasolini conseguiu filmar Accattone, depois da recusa de Fellini, com quem ele havia colaborado em Le notti di Cabiria, nos diálogos em romanesco e na sequência da procissão do Divino Amor, e em La dolce vita (A doce vida, 1959), em alguns diálogos (nas sequências da casa da prostituta e da orgia) e na escolha de Alain Cluny para interpretar Steiner. Segundo Pasolini (conforme referiu Kezich), o ator francês não destoaria naquele ambiente de refinada burguesia que estava sendo construído ao redor do personagem do intelectual suicida.
Fellini, que havia fundado a Federiz (em parceria com Clemente Fracassi e Angelo Rizzoli) em consequência do êxito de La dolce vita, deixou de financiar não apenas Accattone, mas também Il posto (O posto), de Olmi, e Banditi a Orgosolo (Bandidos em Orgosolo), de Vittorio De Seta, apesar de sua produtora ter como objetivo promover novos talentos. Na opinião de Kezich (no livro sobre La dolce vita), o diretor de Rímini não entendeu a importância dessas obras, as quais, no Festival de Veneza de 1961, foram saudadas como a renovação do cinema italiano.
No caso de Accattone, Pasolini submeteu-se a um teste, filmando, montando e sonorizando cerca de 150 m de película, além de ter mandado tirar dezenas de fotografias. Em depoimento citado por Naldini, o cineasta dizia: “Tinha quase todos os personagens presentes […]. Os rostos, os corpos, as ruas, as praças, os barracos amontoados, os fragmentos dos conjuntos habitacionais, as paredes negras dos arranha-céus rachados, a lama, as cercas-vivas, os gramados da periferia salpicados de tijolos e lixo: tudo se apresentava numa luz fresca, nova, inebriante, tinha um aspecto absoluto e paradisíaco… um material frontal, mas nada estereotipado, alinhado à espera de mexer-se, de viver”.
Fellini, no entanto, não gostou daqueles primeiros planos frontais inspirados na pintura italiana dos séculos XIV-XV, especialmente Giotto e Masaccio, ou nos filmes de Kenji Mizoguchi, Carl Theodor Dreyer e Charles Chaplin (grandes paixões cinematográficas de Pasolini), rodado num preto e branco descuidado, com carrinhos indecisos, e desistiu de financiar o filme. Só que as fotografias caíram nas mãos de Bolognini, o qual, impressionado com aqueles personagens, convenceu um jovem produtor independente, Alfredo Bini, a financiar o filme. E o futuro cineasta, mesmo tendo noção de “uma total falta de preparo técnico”, se lançou nessa nova aventura, confiando em sua “grande preparação íntima”: “as sequências do filme estavam tão claras na minha cabeça que eu não precisava de elementos técnicos para realizá-las” (como reportou Naldini).
Apesar de nunca esquecer a desfeita do novo produtor, Pasolini não deixou de apreciar La dolce vita, num longo artigo que causou polêmica. Contrariando a crítica católica, considerou-o um filme profundamente católico, afirmando mais uma vez a matriz espiritualista da poética desse autor que, em sua opinião, era antes neodecadentista do que neorrealista: “De minha parte, enquanto homem de cultura e marxista, custo a aceitar como base ideológica o binômio provincianismo-catolicismo, sob cujo tétrico signo Fellini opera. Somente pessoas ridículas e sem alma – como as que redigem o órgão do Vaticano[8] –, somente os clérigo-fascistas romanos, somente os capitalistas moralistas milaneses podem ser tão cegos a ponto de não entender que, com La dolce vita, se encontram diante do mais alto, do mais absoluto produto do catolicismo dos últimos tempos: por isso, os dados do mundo e da sociedade se apresentam como dados eternos e imodificáveis, com suas baixezas e abjeções, que seja, mas também com a graça sempre suspensa, pronta a baixar: aliás, que quase sempre já baixou e circula de pessoa em pessoa, de ato em ato, de imagem em imagem.
[…] É uma obra de peso em nossa cultura e uma data marcante. Eu, enquanto crítico-filólogo, só posso registrá-la, com toda a importância que ela demonstra ter: trata-se da reabertura de um período marcado pela força prevalente ou excessiva do estilo, o neodecadentismo”.[9]
Para Kezich, no entanto, o que acabou por afirmar-se em La dolce vita foi o vitalismo panteístico, que explodia na sequência da Fontana di Trevi, graças à presença luminosa de Anita Ekberg, leitura corroborada por Fellini, para quem, apesar de ser um retrato desencantado da sociedade italiana da época, seu longa-metragem não era nem pessimista, nem moralista, mas deixava uma sensação de alegria.
A referência de Pasolini ao Neorrealismo remete a Rossellini, que ele sempre considerou um grande diretor, mesmo quando se tratava de Il generale Della Rovere (De crápula a heroi, 1959), que tanto dividiu a crítica, e sobre o qual tinha ressalvas. Afirmava Pasolini: “Rossellini é o Neorrealismo. Nele a ‘redescoberta’ da realidade – que, no caso da Itália do dia a dia, havia sido abolida pela retórica de então – foi um ato, ao mesmo tempo, intuitivo e fortemente ligado às circunstâncias. Ele estava lá, presente fisicamente, quando a máscara cretina foi tirada. E foi um dos primeiros a perceber a pobre face da verdadeira Itália”.
Embora apreciasse Paisà (Paisá, 1946) e Francesco giullare di Dio (Francisco, arauto de Deus, 1950), a realização rosselliniana que mais o impressionou, que mais o entusiasmou foi Roma città aperta (Roma, cidade aberta, 1944-1945), que fez com que o jovem Pier Paolo percorresse de bicicleta os quarenta quilômetros que separavam o lugarejo em que morava na época (Casarsa della Delizia) de Údine, a cidade mais próxima em que o filme estava sendo exibido. Um entusiasmo que o levou a assisti-lo várias vezes, em virtude também da interpretação de Anna Magnani, e que extrapolou o campo cinematográfico, pois dedicou ao marco inicial do Neorrealismo também dois segmentos do poema “La ricchezza” (“Proiezione al ‘Nuovo’ di ‘Roma città aperta’” e “Lacrime”), publicados, em 1961, em La religione del mio tempo, e aqui reunidos sob o título de “Na cidade de Rossellini”:
“Que golpe no coração: num cartaz
desbotado… Aproximo-me, olho a cor
já de outrora, que tem o cálido rosto
oval, da heroína, o esqualor
heroico desse pobre, opaco anúncio.
Entro logo: tomado de um interno clamor,
decidido a tremer à lembrança,
a consumir a glória de meu gesto…
Adentro o recinto, na última sessão,
sem vida; pessoas apagadas,
parentes, amigos, espalhados nos assentos,
perdidos na sombra em círculos distintos,
esbranquiçados, no fresco receptáculo…
Logo, nos primeiros enquadramentos,
me assalta e me arrasta… l’intermittence
du coeur. Estou nos escuros
caminhos da memória, nos cantos
misteriosos onde o homem fisicamente é outro,
e o passado o banha com seu pranto…
Então, pelo longo uso que me fez esperto,
não perco os fios: eis… a Casilina[10],
para a qual tristemente se abrem
as portas da cidade de Rossellini…
eis a épica paisagem neorrealista,
seus fios do telégrafo, ruas calçadas, pinheiros,
muretas rachadas, a multidão
mística perdida nos afazeres diários,
as tétricas formas do domínio nazista…
Quase um emblema, agora, o grito da Magnani,
sob as mechas desordenadamente absolutas,
ressoa nas desesperadas panorâmicas
e em seus olhares vivos e mudos
adensa-se o sentido da tragédia.
É lá que se dissolve e se mutila
o presente, e se cala o canto dos aedos”.
“Eis os tempos recriados pela força
brutal das imagens estouradas:
aquela luz de tragédia vital.
As paredes do processo, o prado
do fuzilamento: e o fantasma
longínquo, ao redor, da periferia
de Roma reluzente em nua brancura.
Os tiros; a nossa morte, a nossa
sobrevivência: sobreviventes vão
os rapazes no círculo dos prédios ao longe
naquela acre cor da manhã. E eu,
na plateia de hoje, sinto ter uma cobra
nas entranhas, que se contorce: e mil lágrimas
despontam em cada ponto de meu corpo,
desde os olhos até a ponta dos dedos,
da raiz do cabelo até o peito:
um pranto desmedido, porque brota
antes de ser entendido, quase
antes da dor. Não sei por que ferido
por tantas lágrimas espio
o grupo de rapazes afastar-se
na acre luz de uma desconhecida
Roma, que mal aflorou da morte,
sobrevivente na tão estupenda
alegria de reluzir na brancura:
tomada por seu imediato destino
de um pós-guerra épico, dos anos
breves e dignos de toda uma existência.
Vejo-os afastar-se: fica bem claro que,
adolescentes, seguem o caminho
da esperança, entre os escombros
absorvidos por um clarão que é vida
quase sexual, sagrada em suas misérias.
E o seu afastar-se nessa luz
me leva agora a enregelar de pranto:
por que? Porque não havia luz
em seu futuro. Porque havia essa
cansada recaída, essa escuridão.
São adultos, agora: já viveram
esse seu apavorante pós-guerra
de corrupção absorvida pela luz,
e estão ao meu redor, pobres homens
para quem todo martírio foi em vão,
servos do tempo, nesses dias
em que desperta o doloroso espanto
de saber que toda aquela luz,
pela qual vivemos, não passou de um sonho
injustificado, não objetivo, fonte
agora de solitárias, envergonhadas lágrimas”.
Como nas demais atividades que exerceu, também ao redigir suas resenhas cinematográficas, Pasolini envolveu-se intensamente com o que escrevia, sem medo de exagerar ou contradizer-se, desde que, com isso, pudesse, mais uma vez promover um embate.[11] Sui generis como crítico, pois em seus comentários a falta de isenção não era disfarçada, Pasolini, mais do que oferecer um trabalho de crítica cinematográfica das obras em tela, pinçava alguns aspectos de um filme ou de um tema, que aprofundava. Esse procedimento, frequentemente, acabou por revelar menos coisas sobre o objeto focalizado em si do que sobre os gostos, as paixões, os afetos e desafetos desse escritor e cineasta tão polêmico.
*Mariarosaria Fabris é professora aposentada do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Autora, dentre outros livros, de O Neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura (Edusp).
Versão revista e ampliada de “Pier Paolo Pasolini: resenhas cinematográficas”, publicado em SOUZA, Gustavo et al. (org.). Estudos de Cinema e Audiovisual Socine. São Paulo: Socine, 2012, v. I, p. 95-109.
Referências
BALDONI, Adalberto. “Demone o vate?”. In: BALDONI, Adalberto; BORGNA, Gianni. Una lunga incomprensione: Pasolini fra destra e sinistra. Florença: Vallecchi, 2010, p 145-313.
BENCIVENNI, Alessandro. “Accattone”. In: GIAMMATTEO, Fernaldo Di (org.). Dizionario del cinema italiano. Roma: Editori Riuniti, 1995, p. 3-4.
BORGNA, Gianni. “Un eccezionale ‘compagno-non compagno’”. In: BALDONI; BORGNA, op. cit., p. 13-143.
FABRIS, Mariarosaria. “À sombra de Pierpà”. In: MIGLIORIN, Cezar et al. (org.). Anais de Textos Completos do XX Encontro da Socine. São Paulo: Socine, 2017, p. 737-743.
GHERARDINI, Francesco. “Commento alla poesia di Montale ‘Lettera a Malvolio’” (8 jan. 2015). Disponível em <https://ilsillabario2013.wordpress.com/2015/01/08/ commento/alla-poesia-di-montale-lettera-a-malvolio-del-dott-prof-francesco-gherardini- posta-aperto/comment-page-1/>.
KEZICH, Tullio. Noi che abbiamo fatto La dolce vita. Palermo: Sellerio, 2009.
________. “Nota”; “Repertorio dei cineasti e dei film citati”; “Sotto la maschera cretina”. In: PASOLINI, Pier Paolo. I film degli altri. Parma: Guanda, 1996, p. 173-174, 141-172, 7-14.
MORAVIA, Alberto. Cinema italiano: recensioni e interventi 1933-1990. Milão: Bompiani, 2010.
NALDINI, Nico. Pasolini, una vita. Turim: Einaudi, 1989, p. 227-239.
PASOLINI, Pier Paolo. “O ‘cinema de poesia’”; “O cinema impopular”. In: Empirismo hereje. Trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Assírio e Alvim, 1982, p. 137-152, 223-229.
________. I film degli altri, op. cit.
POPPI, Roberto. Dizionario del cinema italiano: i registi dal 1930 ai giorni nostri. Roma: Gremese, 1993.
ROCHA, Glauber. “Amor de macho”. O pasquim, Rio de Janeiro, ano VII, n. 336, 5-11 dez. 1975, p. 12-13.
Notas
[1] “Nannarella” será a protagonista de Mamma Roma (Mamma Roma, 1962), papel que Pasolini escreveu especialmente para ela. Durante as filmagens, porém, desentendeu-se com a atriz.
[2] Não deixa de ter certo parentesco a preocupação externada por Alberto Moravia, ao resenhar algumas produções de 1968 – The lion in winter (O leão no inverno), de Anthony Harvey, Isadora (Isadora), de Karel Reisz e La ragazza con la pistola (A moça com a pistola), de Mario Monicelli: “a visão de mundo expressa nos dois filmes estrangeiros […] não deixa de ser, mesmo comercializada e banalizada, a que é própria da cultura ocidental. Enquanto a visão de mundo que transparece no filme italiano de atores pertence à subcultura local. Aludimos aqui à vil e vulgar degeneração de nosso já defunto humanismo que tem o nome de indiferentismo”.
[3] Vale lembrar que Bertolucci foi assistente de direção de Pasolini em Accattone (Desajuste social, 1960) e que este escreveu o argumento de seu primeiro longa-metragem La commare secca (A morte, 1962).
[4] Cf. o ensaio “Il cinema impopolare” (“O cinema impopular”, 1970), em que Pasolini, depois de classificar como apenas formal a provocação de Godard, o acusava de ceder à mensagem do esquerdismo. Ou, como dizia Glauber Rocha: “Para mim Godard era gênio anarcodireitista. Era político e não revolucionário”.
[5] Pasolini, embora o considerasse um grande diretor, reprovava em Bergman sua “cultura estritamente audiovisual” e sua tendência a “citar” certa tradição cinematográfica e teatral. A sequência do sonho em Accattone, entretanto, “é quase uma citação de Smulltronstället, Morangos silvestres, 1958, de Ingmar Bergman”, como assinala Alessandro Bencivenni.
[6] Giuseppe Gioacchino Belli: poeta dialetal, que, em seus Sonetti (1884-1891), traçou um painel da alma popular de Roma.
[7] Em 1954, Bassani, Pasolini e Vancini haviam integrado a equipe de roteiristas de La donna del fiume (A mulher do rio), de Mario Soldati.
[8] Não só L’osservatore romano condenou o filme, como a Igreja Católica promoveu uma violentíssima campanha contra ele: dos púlpitos, os padres lhe lançavam anátemas e o próprio diretor leu, no portal de uma igreja de Pádua, uma espécie de anúncio fúnebre que convidava a rezar pela alma do pecador público Federico Fellini. Apenas alguns amigos jesuítas o defenderam, como anotou Kezich.
[9] Apesar de ser grato a Pasolini (e Moravia) pelos comícios a favor de seu filme, Fellini ironizou a etiqueta de neodecadente que lhe foi aposta, conforme registrou Kezich no livro sobre La dolce vita: “Quem são os decadentes? D’Annunzio, Maeterlinck, Oscar Wilde? Assim, eu seria uma espécie de novo D’Annunzio.. Mas li apenas o resumo do discurso de Pier Paolo, vou pedir a ele que me explique”.
[10] A Via Casilina é uma estrada que, saindo da Porta Maggiore e percorrendo os campos ao sul de Roma, vai até a cidade de Cápua (antiga Casilinum), na Campânia.
[11] Embora tenha ocorrido no campo literário, por ser bem emblemático, é interessante reportar o ataque que Pasolini desferiu das páginas de Nuovi argomenti (n. 21, jan-mar. 1971), revista da qual era um dos diretores, contra Eugenio Montale, ao resenhar seu livro Satura: além de não gostar da obra, criticou seu autor do ponto de vista ideológico. Na qualidade de poeta, Montale manifestou-se em versos, rispondendo per le rime, isto é, retrucando com firmeza e virulência ao colega. Em sua carta aberta, intitulada “Lettera a Malvolio”, atribuiu a Pasolini o mesmo nome de um personagem shakespeariano, extraído da peça Twelfth night (Noite de reis, 1623). Na poesia, publicada em L’Espresso (19 dez. 1971), assim como Malvólio, Pasolini seria alguém que esconde sua hipocrisia por trás de um comportamento rígido e virtuoso, quando, na realidade, teria sabido tirar proveito do meio intelectual no qual atuava. O escritor bolonhês respondeu a esta e a outra poesia de Montale, “Dove comincia la carità”, com os versos de “L’impuro al puro”, de tom pacato, mas eivados de ironia, ao atacar a “pureza” ética da qual Montale se sentia investido.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como