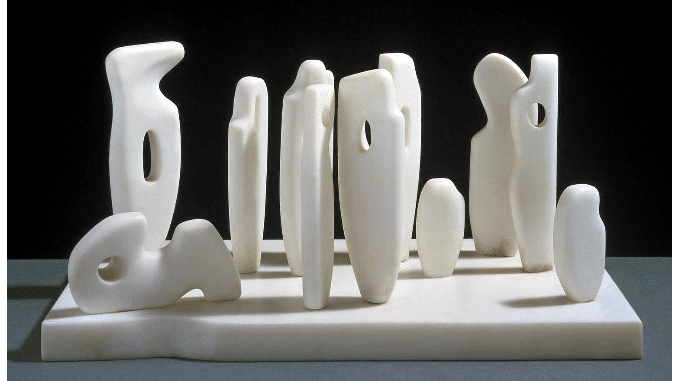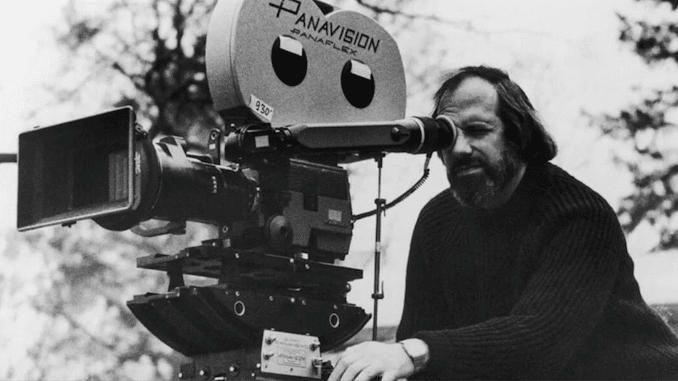Por AFRÂNIO CATANI*
Caminhando por uma Lisboa insurgente em novembro de 1975
Nesse momento muito se fala do 25 de Abril de 1974 português, isto é, do movimento dos militares lusos que colocou fim a 48 anos da ditadura mais longeva da Europa até então. Foi a chamada Revolução dos Cravos, com o povo indo para as ruas com cravos vermelhos na lapela e também os colocando na boca dos canhões dos tanques e dos fuzis que os militares portavam.
Não pretendo aqui fazer grandes análises sobre o 25 de Abril. Seja como for, apenas procurarei relatar, em rápidas tintas, o que observei 19 meses depois em Lisboa, em momento de grande agitação política e cultural.
Eu tinha 22 anos e acabara de me formar em Administração Pública na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), em julho de 1975. O curso de Administração Pública era gratuito na época – hoje não é mais; aliás, é bem caro –, pois éramos bolsistas do governo do Estado de São Paulo. Para manter a bolsa tínhamos que cursar ao menos três disciplinas por semestre e obter, ao menos, a média 6,0 (seis).
Até o segundo semestre de 1975 eu nunca havia viajado de avião, pois na época isso era considerado um luxo. Estávamos em plena ditadura militar no Brasil e alguns amigos já haviam sido presos e/ou chamados para prestar depoimento no DOPS. Eu fora aprovado para cursar o mestrado em Ciências Sociais (sociologia) na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, devendo iniciar os estudos em março de 1976.
Atendendo ao convite de um ex-professor com quem havia trabalhado como auxiliar de pesquisa para ficar um tempo na França, comprei por U$ 1.354,00 um bilhete aéreo pela Varig com direito ao seguinte roteiro, com datas abertas: São Paulo/ Paris/ Londres/ Roma/ Genebra/ Zurique/ Paris/ Madri/ Lisboa/ Rabat/ São Paulo. Além disso, carregava nos bolsos uma cadernetinha com endereços de albergues e de pensões baratas e 600 dólares em travellers checks – decididamente os tempos eram outros.
Fiz o roteiro quase que na íntegra, ao longo de três meses, com exceção de Rabat; até hoje, infelizmente, não conheço o Marrocos. Mas posso explicar: chegando a Lisboa em 18 de Novembro de 1975, me deparei com uma agitação político-cultural que jamais havia experimentado: o clima político era tórrido, com panfletagem, passeatas, protestos, comícios, leituras de poesias, encenação de cenas de peças teatrais em plena rua…Fiquei maravilhado!
Entretanto, antes de mais nada, tinha que enfrentar algo mais prosaico: onde me alojar. Não era possível encontrar um lugar disponível na cidade. Tinha uma lista com mais de dez endereços e…nada. Já desanimado, tentei a Pensão Restauradores, que ficava no último andar de um edifício na Praça dos Restauradores, na Baixa, ao lado da Praça do Rossio. O proprietário, um senhor baixinho e gordinho, com mais de 70 anos, já foi logo dizendo que não havia lugar.
Quando já esperava o elevador para sair, me chamou de volta e disse que se eu quisesse, poderia ficar alguns dias num quarto sem janela (o 426) que era ocupado pelo Manoel, empregado que estava de férias na Beira Alta e que voltaria em poucos dias. O preço era irrisório e topei na hora. Ele me explicou que estava me alojando porque funcionários do governo visitavam hotéis e hospedarias e, constatando a existência de quartos vagos, alojavam os portugueses que regressaram da África, em razão da débâcle do império colonial português.
Ao que consta, era lei governamental e os proprietários eram obrigados a aceitar. Não havia habitações suficientes para todos que voltavam e o velhote não queria receber tais hóspedes, cujas estadas seriam pagas pelo Estado, “sabe-se lá quando!”. Fiquei de 18 a 20 no quarto do Manuel e, nos dias 21, 22 e 23, fui transferido para o 403, com janela e um pequeno banheiro.
Nesse momento era quase impossível não sair às ruas. Portugal já experimentara ao menos cinco governos provisórios, encontrava-se quase à beira de uma guerra civil, as esquerdas não se entendiam e a agitação era maravilhosa. Uma das palavras de ordem era gritada por todos os cantos: “O povo não quer fascistas no poder!” As marchas saiam do Parque Eduardo VII, desciam pela Avenida da Liberdade, passavam pelas Praças dos Restauradores e Rossio e acabavam se concentrando na Praça do Comércio.
Havia, também, manifestações em frente ao Palácio de Belém, onde se alojava a Junta de Salvação Nacional. Alguns dias após a minha chegada, em uma grande concentração popular, com os punhos para o alto, o povo cantava com vigor : “Venceremos/Venceremos/ Com as armas/Que temos nas mãos!”
Eu acompanhava tudo que podia e carregava garrafinhas de água e ao menos outras duas de vinho verde. Comprei montões de livros em Lisboa, e por 20 escudos, dia 20 de novembro de 1975, obras de Reich, de Althusser, de Poulantzas, de historiadores franceses e, em especial, a terceira edição, impressa em 7 de agosto de 1974, de Uma educação para a liberdade, de Paulo Freire.
O livrinho de 74 páginas reúne quatro textos do educador brasileiro: “Papel da Educação na Humanização”, “Educação para a Conscientização – Conversa com Paulo Freire”, “O Processo de Alfabetização Política” e “Princípios Doutrinais duma Educação Libertária”, além de uma relação das publicações do autor, que se encontrava exilado e proibido de retornar ao Brasil.
A tensão era grande por toda a Lisboa e no dia em que deixei o país, domingo à noite, 23 de Novembro de 1975, tive grande dificuldade para chegar ao aeroporto, pois os ônibus circulavam com lentidão e os táxis passavam lotados. Manuel, com quem conversava bastante, saiu à rua à caça de um táxi e conseguiu um, desde que eu aceitasse compartilhá-lo com outros dois passageiros; aceitei na hora.
O aeroporto estava em polvorosa e lotado de soldados armados. Consegui fazer o check in no balcão da Varig e tentei chegar ao guichê de câmbio, pois ainda tinha escudos na carteira. Impossível: um meganha foi me empurrando para a sala de embarque com o cano de sua submetralhadora ou algo similar e fim de conversa. Acabei ficando com umas 30 cédulas verdinhas de 20 escudos que valiam, em Portugal da época, algumas diárias na Pensão Restauradores ou vários livrinhos de Paulo Freire ou ainda garrafinhas fresquinhas de vinho verde.
Só depois os passageiros do vôo RG 85-23-35 (Varig), com destino ao Aeroporto de Congonhas, São Paulo, Brasil, vieram a saber que naquele dia começava a se apagar a estrela do coronel Otelo Saraiva de Carvalho, um dos responsáveis pela elaboração do plano de operações do Movimento das Forças Armadas (MFA), o movimento de esquerda que derrubou em 1974 a ditadura portuguesa (1926-1974), após quase cinco décadas.
Nos dias seguintes ele foi afastado de todos os cargos que ocupava, inclusive o do comando efetivo do Comando Operacional do Continente (COPCON). Mas isso já é outra história.
Valho-me de artigos de João Pereira Coutinho e de Ruy Castro, autores com quem nem sempre concordo – mas, nesse caso, creio que acertaram em cheio –, publicados na Folha de S. Paulo em 21 de Abril de 2024 (respectivamente “Foi bonita a festa, pá?” e “Nos primeiros dias do 25 de Abril Lisboa viveu o Carnaval da liberdade”) para expressar o momento e a relevância do 25 de Abril e das transformações políticas vivenciadas por Portugal
Escreve João Pereira Coutinho que “Entre 1974 e 1975, Portugal oscilou entre radicalismos de sentido oposto: uma tentativa de golpe da extrema direita em março de 1975, uma tentativa de golpe da extrema esquerda em novembro do mesmo ano”.
Ruy Castro, por sua vez, diz que novembro de 1975 marcava o fim da Revolução dos Cravos. “Mas Portugal não voltou a ser o país dos mortos-vivos, dos homens de cinza e mulheres de preto, sem jovens nas ruas, sangrado pelo atraso, pelo analfabetismo e pela guerra colonial, anterior ao 25 de Abril. Instalou-se um civilizado regime de centro que, com eleições livres e alternâncias razoáveis, manteve o poder pelas décadas seguintes, gerando estabilidade, dinamismo e progresso.”
Enfim, esse é o meu modesto testemunho. O fato é que ao sair do vôo da Varig, em Congonhas, retornei a um país governado por um general, em uma ditadura militar em que a tortura, a censura e o medo eram parceiros no cotidiano. Pensando que horas antes me encontrava em um espaço social em que a liberdade dava o tom e retornando a um Brasil cinzento e violento, não pude deixar de me lembrar de H. G. Wells e a Máquina do Tempo.[1]
*Afrânio Catani é professor titular sênior aposentado da Faculdade de Educação da USP. Atualmente é professor visitante na Faculdade de Educação da UERJ, campus de Duque de Caxias.
Nota
[1] Agradeço a Almerindo Janela Afonso (Universidade do Minho) e a Ricardo Antunes (Unicamp) pela troca de ideias sobre o tema deste artigo.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA