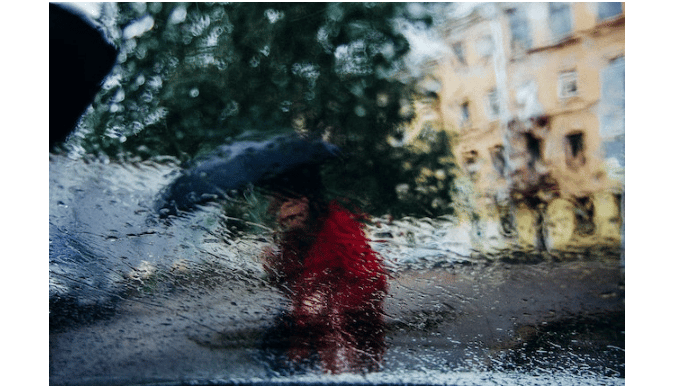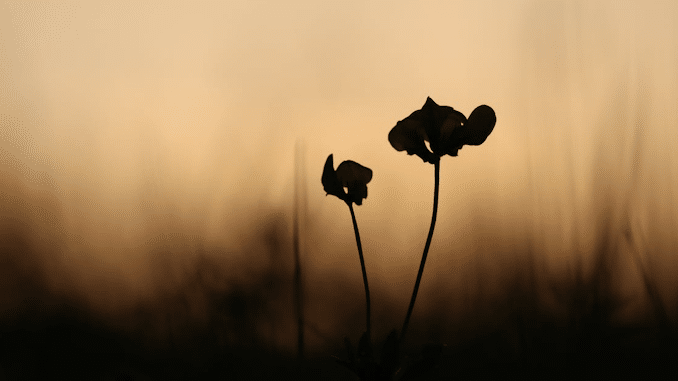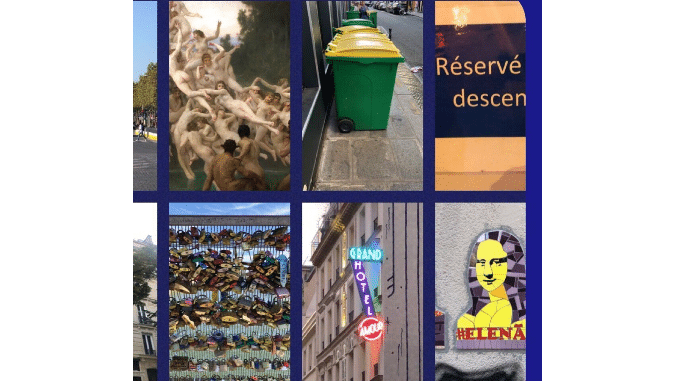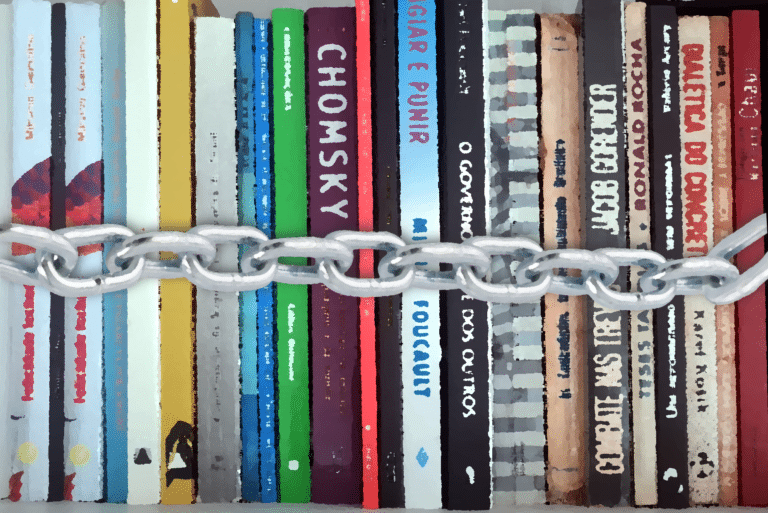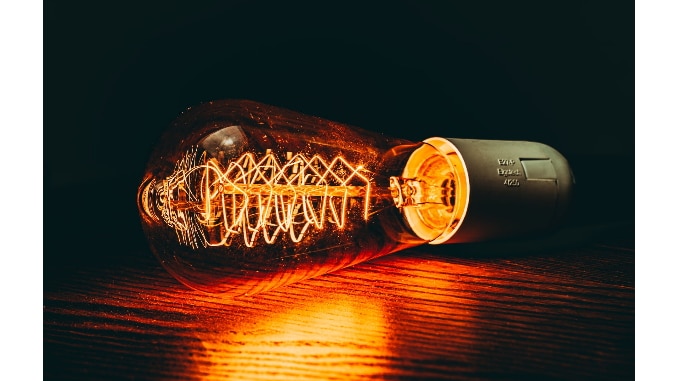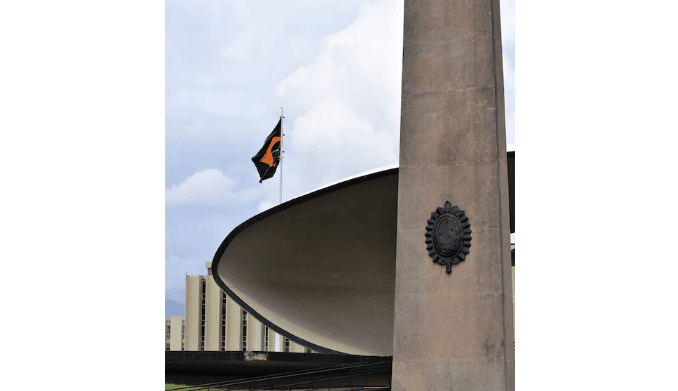Por ANDREA ZHOK*
O sistema de esquerda não tem nenhuma capacidade nem vontade real de se opor à degradação do sistema
Para definir o nosso espaço histórico de possibilidade é necessário compreender o lugar que ocupamos na trajetória da nossa civilização. Todos nós, italianos, europeus, ocidentais, nos encontramos dentro de uma fase de crise epocal, potencialmente terminal, do mundo liberal que tomou forma há pouco mais de dois séculos.
Em meados do século XIX, já tinha sido esclarecido pela análise marxista que essa forma de civilização, diferentemente de todas as que a precederam, era afetada por contradições internas autodestrutivas. Os principais elementos internamente contraditórios ficaram claros desde então, embora Karl Marx concentrasse seu olhar na linha de fratura social (tendência à concentração oligopolista e à pauperização em massa), enquanto, por razões históricas óbvias, lhe faltava a percepção de outras saídas críticas inerentes às mesmas contradições (não existia a consciência da possibilidade de uma extinção da espécie pela guerra, que se tornou uma possibilidade após 1945, nem a ideia da relevância do impacto degenerativo do progressismo capitalista no sistema ecológico).
Um sistema que só vive se cresce e que, ao crescer, consome indivíduos e povos como meios indiferentes para o próprio crescimento sempre produz, necessária e sistematicamente, tendências ao colapso. A leitura marxista, talvez muito condicionada pelos próprios desejos, previa como forma da derrocada vindoura uma derrocada revolucionária, na qual maiorias empobrecidas se revoltariam contra oligopólios plutocráticos. A derrocada que se apresentou aos olhos da geração seguinte foi a guerra, uma guerra mundial como conflito final na competição imperialista entre estados que tinham realmente se tornado “comitês empresariais da burguesia”.
A fase atual apresenta tendências muito semelhantes às do início dos anos 1900: uma sociedade aparentemente progressista e opulenta, secularizada e cientificista, na qual as margens de crescimento (“mais-valia”), entretanto, tinham se estreitado e tinham levado à busca de fontes de recursos alimentares e matérias-primas cada vez mais distantes, em países colonizados. Isso até as ambições individuais de crescimento começarem – cada vez com mais frequência – a colidir em nível internacional, pressionando para se preparar para um possível conflito, por meio de tratados secretos de alianças militares que deveriam ser acionados na presença de um casus belli.
Que o resultado da crise atual seja uma guerra mundial total, no modelo da Segunda Guerra Mundial, é apenas uma possibilidade.
Poderiam prevalecer as pressões para tornar uma guerra mais parecida com a Primeira, onde o front é a Ucrânia e as retaguardas, encarregadas de fornecer meios para a guerra, são a Europa e a Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, os civis não estavam diretamente envolvidos nos eventos de guerra, exceto nas zonas de contato, mas o envolvimento geral em termos de empobrecimento e carestia foi enorme. Entre 1914 e 1921, a Europa perdeu entre 50 e 60 milhões de habitantes, dos quais “apenas” entre 11 e 16 milhões (dependendo do método de contagem) morreram diretamente durante o conflito.
Da guerra emergiu uma classe industrial específica, mais rica e mais poderosa do que antes, e era a que direta ou indiretamente estava envolvida no abastecimento do front. Os países mais distantes do front, e não diretamente envolvidos, saíram da guerra ainda mais ricos e comparativamente mais poderosos.
Esta é, naturalmente, também a perspectiva e a esperança daqueles que hoje alimentam o conflito à distância.
A experiência de entrar na guerra, com a cumplicidade de fato de quase todos os partidos socialistas e social-democratas, representava um trauma do qual tirar um ensinamento fundamental, ensinamento que, se atualizado, poderíamos traduzir como: o sistema de esquerda não tem nenhuma capacidade nem vontade real de se opor à degradação do sistema. Em resposta a esse trauma, Antonio Gramsci, em 1919, fundou uma revista com um nome altamente simbólico, A Nova Ordem; e dois anos depois, com base no aparente sucesso da Revolução Russa, nascia o PCI, com a intenção de ser justamente um antídoto para o que aconteceu: uma força “antissistema” capaz de derrubar os paradigmas sociais e produtivos que tinham levado à guerra (e que permaneciam intactos).
No mesmo ano, o movimento dos Fasci di Combattimento,[i] cujo Manifesto “Sansepolcrista”[ii] (junho de 1919) pode surpreender quem conhece a evolução posterior do regime fascista, tomou forma.
Também aqui a onda da experiência do pré-guerra e da guerra empurrava para uma direção de renovação radical do “antissistema”. Encontramos aí o pedido de sufrágio universal (também feminino), a jornada de trabalho de 8 horas, o salário-mínimo, a participação dos trabalhadores na administração da indústria, um imposto extraordinário sobre o capital de natureza progressiva com expropriação parcial de todas as riquezas, a apreensão de 85% dos lucros de guerra etc.
Em poucos anos, porém, o movimento dos Fasci di Combattimento perderá todas as instâncias socialmente mais radicais e será reabsorvido pelo sistema, obtendo em troca o apoio econômico dos agrários e da grande indústria, que o utilizarão em operações anticomunista e antissindical. Com uma leitura atualizada (e naturalmente forçada, dada a vastidão das diferenças históricas), poder-se-ia dizer que a cisão do protesto antissistema (fomentado pelo capital) conseguiu neutralizar o caráter de ameaça ao próprio capital, mantendo apenas um caráter de revolucionarização externa.
Em quase perfeito paralelismo com a publicação do Manifesto “Sansepolcrista”, Antonio Gramsci abria as páginas de A Nova Ordem (maio de 1919) com um célebre apelo: “Instrui-vos, porque precisaremos de toda a nossa inteligência. Agitai-vos, porque precisaremos de todo o nosso entusiasmo. Organizai-vos, porque precisaremos de toda a nossa força”.
Antonio Gramsci tinha perfeitamente claro que as chances de sucesso de uma força que desejasse a derrubada de um sistema capitalista, que saiu quase ileso do maior conflito de todos os tempos, com certeza exigia a agitação e o protesto (não difícil de obter em uma Itália onde o descontentamento pós-guerra era enorme), mas exigia sobretudo “estudo” (formação) e “organização”.
Um século se passou. Muitas coisas mudaram, mas o sistema socioeconômico é o mesmo e a fase é semelhante: passado por uma profunda revisão após 1945, se recolocou nos velhos trilhos de maneira acelerada a partir dos anos 1980.
Hoje estamos em uma situação que lembra em muitos aspectos a de 1914: o início, perfeitamente inconsciente, de uma longa e destrutiva crise.
Sair dela mais ou menos como em 1918, com uma condição de empobrecimento generalizado e uma sociedade mais violenta, mas sem a destruição da guerra diretamente em casa é o cenário que acredito ser o mais otimista. Com alguns anos de crises energética, alimentar e industrial, a Europa ficará reduzida a ser fornecedora de mão de obra qualificada de baixo custo para as indústrias americanas. Este é o melhor cenário.
As chances de frear o trem em movimento são mínimas. O que se pode fazer é preparar-se para estar à altura dos eventos, para guiar as peças em queda livre de modo que se disponham como fundação para um futuro edifício.
E isso requer, como dizia Antonio Gramsci, antes de tudo uma “formação” adequada para interpretar os acontecimentos, para sair do dogmatismo e da rigidez que impedem de compreender a força e o caráter do “sistema”. Nessa fase, aqueles que permanecem ancorados nos reflexos condicionados da direita e da esquerda, com seus relativos dogmas, santinhos e demonizações aos montes, são parte do problema. O sistema de dominação do capitalismo financeiro mundial em bases anglo-americanas é uma potência em crise, sim, mas ainda é a maior potência do planeta e sobreviveu a outras grandes crises.
É capaz de persuadir quase qualquer um, de quase tudo, por meio de um minucioso controle das principais articulações midiáticas. É capaz de corromper quem tenha um preço e de ameaçar quem não o tenha.
Também pode mudar rapidamente de pele em questões “decorativas” e “superestruturais”, como todos os vários direitocivilismos e direitohumanismos, que ora brande como clavas quando servem, mas que pode fazer desaparecer em um instante com uma fábula ad hoc, se uma estratégia diferente for útil.
Ter uma consciência cultural do que é essencial e do que é contingente aqui é crucial.
E em segunda instância, ainda com Antonio Gramsci, é preciso “organização”. Quem aspira não “derrubar o sistema” (hoje ninguém tem a physique du rôle para fazê-lo de maneira direta, “revolucionária”), mas acompanhar o parcial colapso endógeno, para trazer à luz uma nova forma de vida, tem alguma possibilidade de fazê-lo apenas se levar terrivelmente a sério as obrigações de uma organização coletiva.
O que o “sistema” alimenta conscientemente é a inconsciência (ignorância, desorientação) e a fragmentação (cair no privado, mútua desconfiança). Quem tenta desafiá-lo deve remar com todas as forças na direção oposta.
*Andrea Zhok é professor de filosofia na Universidade de Milão.
Tradução: Juliana Haas
Publicado originalmente em L’AntiDiplomatico.
Notas da tradutora
[i] Feixes Italianos de Combate.
[ii] Comumente conhecido como Manifesto Fascista. O termo “sansepolcrismo” se refere às origens do fascismo na Itália, inspirado nos princípios enunciados por Benito Mussolini, em 23 de março de 1919, no ato de fundação dos Fasci Italiani di Combattimento, durante o comício na Piazza San Sepolcro (Praça São Sepulcro), em Milão, que, depois, foi publicado no jornal Il Popolo d’Italia.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como