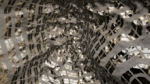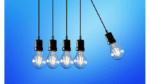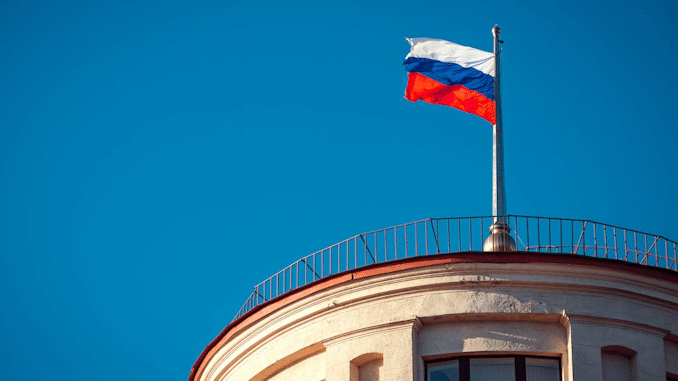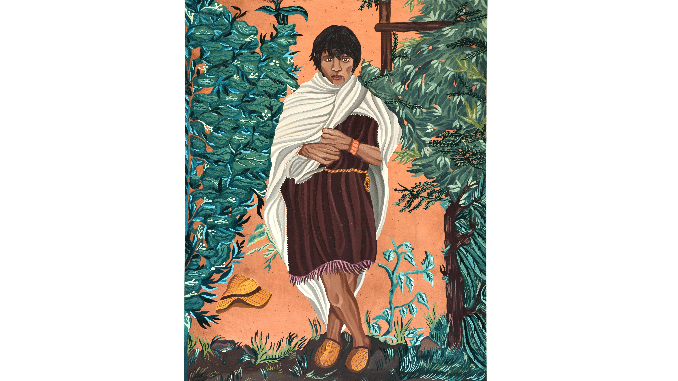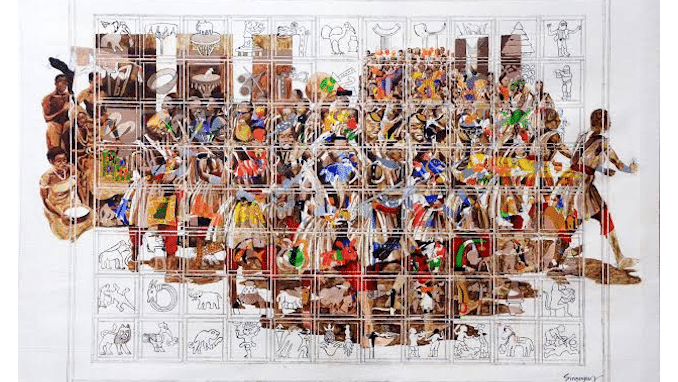Por VALERIO ARCARY*
O bonapartismo militar no Brasil tentou se legitimar como um regime que defendia a nação contra o perigo do comunismo. No auge da violência o bonapartismo militar degenerou em um regime semifascista
“Se para o Brasil tivéssemos feito um estudo sério da realidade teríamos chegado à conclusão de que a principal tarefa revolucionária em toda a América Latina era muito mais modesta que preparar a guerra de guerrilhas: havia que impedir que triunfara o putch reacionário gorila que se estava preparando (…). A situação latino-americana, como a do país irmão (Brasil), com sua história, economia, relações sociais, política e caráter do governo indicavam que era inevitável um golpe de estado reacionário. A grande tarefa era, então, mobilizar o movimento de massas brasileiro para freá-lo ou esmagá-lo, sem depositar a mais mínima confiança no governo de (Jango) Goulart ou Brizola. A mais trágica derrota do movimento de massas latino americano nos últimos vinte anos foi a do Brasil. Essa derrota vai refletir em todo nosso continente” (Nahuel Moreno, Dos métodos frente a la revolución latinoamericana).
O argumento central deste artigo é que, se em 1964 triunfou uma contra-revolução, foi porque a classe dominante brasileira se preocupou, seriamente, com o perigo de uma revolução. No Brasil de 1964 existia em curso uma dinâmica de luta de classes que se aproximava de uma situação revolucionária: divisão da classe dominante, divisão das camadas médias e uma onda radicalizada de mobilizações operárias e populares, na cidade e nos interiores. Mas, apesar das condições objetivas em amadurecimento, a quartelada foi preventiva. Jango não tinha qualquer vocação para Fidel Castro. Não havia risco algum de ruptura institucional por iniciativa do governo.
Uma revolução democrática-nacional para libertar a nação da dependência norte-americana, para extender os direitos civis a todos, incluindo a maioria afro-descendente; uma revolução agrária pela divisão da terra; uma revolução operária pelo direito a melhores salários e condições de vida. Esta tensão social latente resultava da insatisfação histórica de demandas e expectativas sempre postergadas. A dinâmica histórico-social desta simultaneidade de revoluções desafiava a defesa de um programa anticapitalista. Mas nãohavia quem tivesse a lucidez e determinação de defendê-lo.
Ninguém poderia antecipar, todavia, naquelas circunstâncias, que seria tão duradoura a ditadura. Abriu o caminho para uma regressão econômico-social que devemos caracterizar como uma recolonização. Foi uma derrota histórica.
A efeméride dos sessenta anos vale a pena recordar interpretações do golpe que insistem em requentar duas teses esdrúxulas. A primeira é aquela que afirma que nenhuma das forças políticas em confronto em 1964 tinham compromissso com a democracia. A segunda é aquela que defende que o governo Jango caminhava para um autogolpe prévio às eleições previstas em 1965. Nenhuma delas é verdadeira. Na verdade, são teses, intelectualmente, desonestas.
A esquerda brasileira era hegemonizada pelo PCB. Se havia uma força política comprometida com a legalidade constitucional em 1964, esse partido era o PCB, o que é irônico, porque o PCB não era legal. Vivia desde 1948 na semilegalidade, ou seja, em uma semiclandestinidade. Não se desconhecia quem eram alguns de seus membros. Mas o PCB pagava o preço de lutar no contexto da guerra fria, e era um dos partidos mais disciplinados, depois do giro político conduzido por Kruschev. O PCB estava completamente comprometido com uma estratégia reformista e, por isso, foi quase destruído. Pode-se ter uma percepção muito crítica do que foi a política do partido de Prestes em 1964. Mas acusar o PCB de preparar uma ruptura revolucionária é falso e injusto.
A teoria do autogolpe de Jango é outra fabulação conspirativa sem fundamento. Mas é verdade que a situação política no Brasil de 1964 era de desgoverno. Uma revolução era, por suposto, necessária, para que as reivindicações populares pudessem ser satisfeitas. Mas as massas trabalhadoras não tinham qualquer ponto de apoio organizado, lúcido e determinado para poderem se defender da contrarrevolução, passando à iniciativa, ou respondendo em autodefesa.
O Brasil em 1964 era um país na periferia do sistema internacional, ou seja, era, economicamente, uma semi-colônia norte-americana relativamente especial, em processo ainda incompleto de industrialização, no contexto da etapa histórica da coexistência pacífica ou guerra fria (1948/1989), e a contrarrevolução acentuou a sua dependência econômica, agravou sua subordinação política, e estreitou sua sujeição militar. Cinco anos depois da derrota de Batista em Havana, três anos depois de Cuba ter se transformado na primeira República socialista do hemisfério ocidental, a imposição da ditadura militar bloqueou a evolução da situação latinoamericana por duas décadas.
Nos vinte anos seguintes a economia brasileira cresceu em ritmo acelerado, transformando-se no maior PIB do hemisfério sul, mas a desigualdade social não só não diminuiu, como aumentou. Este crescimento dinâmico foi fermentado pelo endividamento externo, e pelo deslocamento aceleradíssimo de milhões de brasileiros do mundo rural para as cidades. O país ficou menos pobre, mas mais injusto. A herança da ditadura foi cruel.
Afirmar que a revolução brasileira tinha, já em 1964, uma dinâmica anticapitalista era, naquele contexto, uma conclusão teórica corajosa. Em outras palavras, ou a classe trabalhadora era capaz de liderar, pelo impacto social de sua mobilização, um bloco social da maioria de explorados e oprimidos das cidades e do campo, que reuniria, também, a pequena propriedade empobrecida agrária, dividindo a classe média, e os setores assalariados urbanos de alta escolaridade, ou não seria possível derrotar a burguesia.
Mas a chave do destino do Brasil estava no jovem proletariado formado depois de 1930. Hoje o reconhecimento da classe trabalhadora como o sujeito social da revolução brasileira é inescapável, incontornável, incontestável. O peso social do trabalho assalariado agigantou-se em tais proporções, em um país em que mais de 85% da população vive em cidades, que qualquer projeto de transformação social que diminua o papel da classe trabalhadora não merece ser, seriamente, considerado. O programa da revolução brasileira do século XXI será socialista.
O que nos remete à dialética entre tarefas e sujeitos sociais que resume o núcleo duro da teoria da revolução permanente, seja qual for a sua versão, desde Marx e Trotsky até hoje, e permanece a melhor elaboração para compreender o processo de transformações das sociedades contemporâneas.
O bonapartismo militar no Brasil tentou se legitimar como um regime que defendia a nação contra o perigo do comunismo. Invocou o cristianismo, agitou o patriotismo, exaltou o desenvolvimentismo. No auge da violência, a partir de 1969, o bonapartismo militar degenerou em um regime semifascista.
Mas dez anos depois de apoderar-se do poder foi surpreendido em 1974 pela derrota da Arena, mesmo em eleições ultra-controladas. A ditadura brasileira não teve a sua batalha de Sedan, como a Argentina nas Malvinas em 1982. Mas isso não impediu que a luta pela sua derrubada tenha sido uma batalha política duríssima. O nosso “bismarckismo senil”, analogia sugerida por Moreno, estava próximo do seu fim. Quarenta anos atrás, entre janeiro e abril de 1984, quando das “Diretas Já”, mais de cinco milhões foram as ruas para derrubar João Figueiredo, em um país que tinha então quarenta milhões na população economicamente ativa. Nunca, nem antes nem depois, tantos trabalhadores se mobilizaram para derrubar um governo.
O processo das Diretas Já foi grande o bastante para consolidar nas ruas a conquista das liberdades democráticas, e derrotar o regime, mas não para derrubá-lo. Foi uma mobilização que venceu a ditadura, porém, paradoxalmente, não culminou com a queda do governo Figueiredo. Tancredo Neves, o mesmo líder burguês que, trinta anos antes, tinha pressionado Getúlio Vargas em 1954 a demitir a cúpula das Forças Armadas que exigia a sua renúncia, ofereceu aos militares o paraquedas que amorteceu a crise, e permitiu que o fim da ditadura não fosse na forma de queda. Mais pacífico, menos indolor, impossível. Mais negociado, menos conflitivo, de novo, impossível.
Como em 1889, quando da proclamação da República; como em 1930, quando da derrota da República Oligárquica; como em 1945, quando da saída de Getúlio; como em 1954, quando do suicídio de Vargas. Também em 1984, prevaleceu o padrão político preferido pela classe dominante brasileira: uma solução negociada para uma transição controlada.
A pactuação de um consenso entre a direção do PMDB e as forças políticas que sustentavam a ditadura – PDS e, sobretudo, Forças Armadas – resultou em um compromisso político com uma solução institucional de conciliação. Mas este entendimento não teria sido possível sem a mobilização de massas que subverteu o país e impôs uma nova relação de forças.
Ironia da dialética da história, não fosse o papel do proletariado na luta contra a ditadura, Lula nunca teria sido eleito presidente da República quase vinte anos depois. Cinquenta anos depois do golpe contra-revolucionário de 1964 foram publicados diversos livros que buscam ajuizar, a partir de diferentes enfoques, o significado da quartelada de março. Mas a conclusão fundamental nem sempre está sublinhada como deveria. A vitória do golpe, além da queda de João Goulart, e da derrota do movimento dos trabalhadores e seus aliados teve o sentido de uma regressão histórica para o Brasil como nação, uma recolonização.
Toda tentativa de diminuir o impacto reacionário da insurreição militar que levou Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo à presidência, com poderes ultraconcentrados, em terrível sequência de arbítrio, violência e repressão se resume a uma falsificação histórica.
Durante vinte anos a ditadura militar impôs o terror de Estado para preservar a estabilidade política. A ditadura silenciou uma geração. Perseguiu dezenas de milhares, prendeu milhares, matou centenas. Foi um triunfo contrarrevolucionário que inverteu a relação de forças político-sociail em escala continental, revertendo a situação promissora aberta pela revolução cubana em 1959. A queda de Jango foi uma tragédia política em toda a linha, com gravíssimas consequências sociais e, até, culturais.
O mito histórico de que a ditadura teria sido o sujeito político da modernização conservadora, ou da industrialização do Brasil, nunca foi senão uma peça de publicidade do próprio regime. A industrialização atrasadíssima do Brasil se iniciou depois de 1930, em função dos perigos e oportunidades abertos pela crise de 1929, quando a demanda externa pelas exportações brasileiras desabou, e o país entrou em défault da dívida externa por treze anos. O acordo de Vargas com os EUA e a participação das Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial, enquanto a Argentina mantinha a neutralidade, selaram uma aliança estratégica que foi reforçada durante a guerra fria. A industrialização já vinha, portanto, de uma tendência histórica muito anterior
Quando se procura capturar a essência do processo histórico conduzido pela ditadura como uma recolonização não se está construindo uma metáfora literária. O lugar de cada Estado no mundo pode ser compreendido considerando, pelo menos, duas variáveis: sua inserção econômica no mercado mundial, e seu papel político no sistema internacional de Estados. Estas duas varíáveis, no entanto, nem sempre coincidem.
A mobilidade econômica do papel dos países no mundo foi sempre maior, ou mais intensa, do que a mobilidade política. As transformações na morfologia do mercado mundial – o espaço onde se disputa o papel de cada nação na divisão internacional do trabalho – continuam sendo mais aceleradas que as modificações no sistema de Estados. Em condições de relativa estabilidade, ou seja, enquanto o impacto da crise econômica não se desdobra em situações de revolução ou guerra, a política permanece mais lenta que a economia.
Em outra palavras, o sistema internacional de Estados foi, historicamente, mais resiliente à mudança que o mercado mundial. O posicionamento econômico de cada Estado pode melhorar, relativamente a outros, e ou em comparação ao que tinha antes, sem que, necessariamente, aconteça um fortalecimento político. A força de inércia da política, que determina as posições de poder, é mais poderosa, nos prazos mais curtos, que a pressão dinâmica da força econômica. Mas em prazos mais longos, a economia abre o caminho.
O lugar de cada país no sistema internacional de Estados na etapa histórica do pós-guerra, entre 1945/1989 dependeu de, pelo menos, cinco variáveis estratégicas: (a) sua inserção histórica na etapa anterior, ou seja, a posição que ocupou em um sistema extremamente hierarquizado e rígido: afinal nos últimos cento e cinquenta anos somente um país, o Japão, foi incorporado ao centro imperialista, e todos os países coloniais e semicoloniais que ascenderam, como a Argélia ou Irã, China e Vietnam, e até a frágil Cuba, o fizeram depois de revoluções que permitiram conquistar maior independência;
(b) a dimensão de sua economia, ou seja, os estoques de capital acumulado, os recursos naturais – como o território, as reservas de terras, os recursos minerais, a autossuficiência energética, alimentar, etc. – e humanos – entre estes, sua força demográfica e o estágio cultural da nação – assim como a dinâmica, maior ou menor, de desenvolvimento da indústria, ou seja, sua posição na divisão internacional do trabalho e no mercado mundial; (c) a estabilidade política e social, maior ou menor, dentro de cada país, ou seja, a capacidade de cada classe dominante de defender, internamente, o seu regime de dominação preservando a ordem;
(d) as dimensões e a capacidade de cada Estado em manter o controle de suas áreas de influência, ou seja, sua força militar de dissuasão, que depende não só do domínio da técnica militar ou da qualidade das suas Forças Armadas, mas do maior ou menor grau de coesão social da sociedade, portanto, da capacidade do Estado de convencer a maioria do povo da necessidade da guerra; (e) as alianças de longa duração dos Estados uns com os outros, que se concretizam em Tratados e Acordos que assinam, e a relação de forças que resultam dos blocos formais e informais de que fazem parte, ou seja, sua rede de coalizão.
Se consideradas estas variáveis, o Brasil, durante a ditadura militar, regrediu. Fomos uma das pátrias do capitalismo mais dependente, selvagem, bárbaro. O Brasil gerado pela ditadura perdeu imensas oportunidades históricas para um crescimento com desenvolvimento menos desigual, menos destrutivo, menos desequilibrado. Gerou uma sociedade amordaçada, culturalmente, pelo medo; amputada, educacionalmente, pela desqualificação do ensino público e favorecimento do privado; fragmentada, socialmente, pela superexploração do proletariado pelos salários de miséria; transfigurada pela explosão de violência e delinquência.
O que a ditadura fez foi condenar o país a manter, por mais meio século, a condição de semicolônia comercial norte-americana. Criou a maior dívida externa do mundo, tanto em números absolutos, como no peso da dívida em proporção do PIB. Para piorar, aceitou que a dívida externa fosse feita na forma de títulos pós-fixados, e com a arbitragem em Nova York, de acordo com a legislação norte-americana. Fez do Brasil o paraíso da usura internacional.
O calcanhar de aquiles da dependência externa cobrou o seu custo com a eleição de Reagan. Após o choque brutal da taxa básica de juros, em 1979 com Paul Volker, o Brasil estava estrangulado: tinha se tornado impossível garantir a rolagem dos juros da dívida com os dólares gerados pelas exportações. O dólar interrompeu o processo de desvalorização que vinha de 1971. Figueiredo e Delfim Neto fizeram a mega desvalorização que esteve na raiz da superinflação que castigou o país por quinze anos.
Uma semicolônia especial, é verdade, porque muito privilegiada. Não por acaso foi, durante décadas, o principal destino para os investimentos externos norte-americanos, depois da Europa, e manteve essa posição, mais recentemente, mas agora atrás da China. Tão privilegiada que passou a cumprir nos últimos trinta anos, pelo menos, um papel de submetrópole no mercado mundial, com a aprovação da Tríade, pela pressão dos EUA. Uma submetrópole, também, muito especial, porque, apesar de seu estatuto privilegiado, permaneceu, politicamente, como semicolônia na periferia do sistema internacional de Estados.
Os monopólios norte-americanos, europeus e japoneses usaram a escala do mercado brasileiro de consumo de bens duráveis para estabelecer fábricas que passaram a atender, também, à demanda de países vizinhos, mas com custos muito menores do que teriam, se fossem produzidos em outro continente. A relocalização industrial não começou com a instalação de plantas industriais na China nos anos oitenta. Começou trinta anos antes no Brasil.
Tampouco deve nos escapar a forte presença de grandes corporações brasileiras, e dos investimentos do capital do Brasil nos países vizinhos. Essa desenvoltura tem suas raízes históricas com a ditadura, que favoreceu a concentração de capital em todos os principais setores produtivos: o surgimentos das gigantescas empresas na educação privada, saúde privada, previdência privada, na comunicação (radio e TV’s), na alimentação, papel e celulose, armas, na construção civil, nos bancos, etc. Favoreceu, também, monopólios em algumas estatais: Petrobras, Eletrobras, Telebras, Siderbras, e outras.
Ainda assim, mesmo considerando o lugar de submetrópole no mercado mundial, o Brasil permaneceu uma semicolônia em função de sua inserção dependente, uma insaciável importadora de capital, no sistema internacional de Estados. Um gigante econômico, com a sexta maior economia do mundo, mas um anão político, satélite dos interesses norte-americanos. Tão importante quanto, o Brasil se mantém, sessenta anos depois de 1964, quarenta anos depois das Diretas em 1984, e vinte e dois anos depois da eleição de Lula em 2002, um dos dez países mais desiguais domundo, sendo todos os outros nove Estados da África subsaariana, nações em estágio de desenvolvimento histórico muito inferior.
Ao mesmo tempo que a economia crescia e a sociedade se urbanizava, paradoxalmente, a nação regredia, avançava a recolonização. No final dos anos sessenta, quando os primeiros sinais de esgotamento da expansão mundial do pós-guerra se manifestaram, precipitou-se uma situação de abundância de excedentes financeiros. A decisão de Richard Nixon de romper, parcialmente, com os acordos de Bretton Woods, em agosto de 1971, suspendendo a conversão por valor fixo do dólar em ouro, tornou disponível uma avalanche de dólares. A ditadura endividou o país em escala nunca vista, penhorando o Estado por, pelo menos, duas gerações.
A ditadura militar deixou o Brasil condenado a produzir para exportar e gerar divisas que garantissem a rolagem dos juros da dívida externa. Esta transformação regressiva produziu uma queda constante do salário médio, e da participação dos salários sobre o PIB, congelou a mobilidade social relativa e absoluta, e asfixiou o mercado interno. Não poderia ter sido feita “a frio”.
Foi necessário impor uma derrota histórica ao jovem proletariado que vinha descobrindo suas forças desde os anos cinquenta, testando sua capacidade de mobilização em lutas mais unificadas, forjando alianças com os trabalhadores rurais, deslocando para o seu campo a simpatia de setores das novas classes médias urbanas, e produzindo confusão e divisão na classe dominante.
Um confronto com os setores organizados dos trabalhadores foi procurado e construído, intencionalmente, por uma fração pró-yankee da burguesia, desde o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, como o golpe que ocorreu na Argentina contra Perón em 1955, para neutralizar ao mínimo as possibilidades de resistência. Uma derrota tão séria não poderia deixar de estabelecer uma nova relação de forças entre as classes em escala continental, deixando Havana, dramaticamente, isolada. O golpe no Brasil foi o carrasco da revolução em Cuba, onde o início de uma corajosa transição ao socialismo permaneceu bloqueada.
*Valerio Arcary é professor de história aposentado do IFSP. Autor, entre outros livros, de Ninguém disse que seria fácil (Boitempo). [https://amzn.to/3OWSRAc]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA