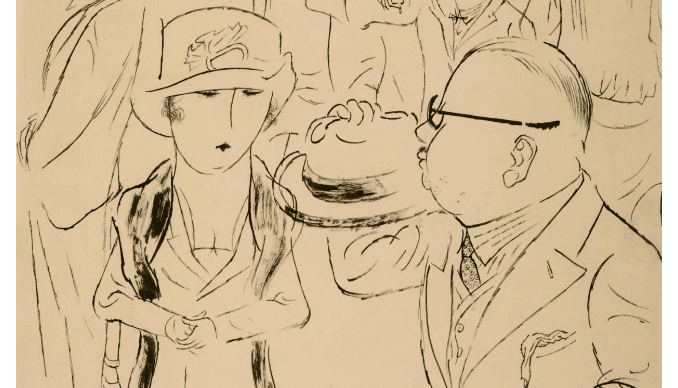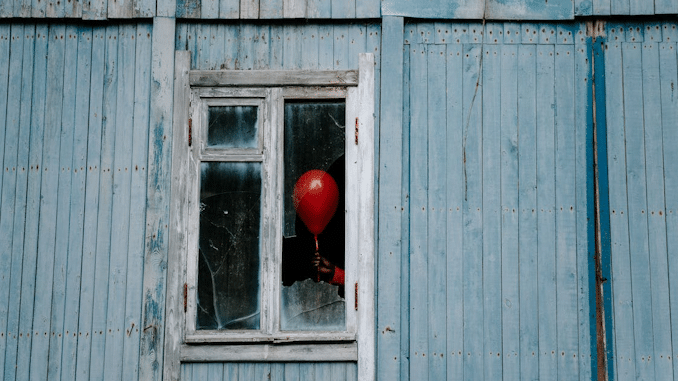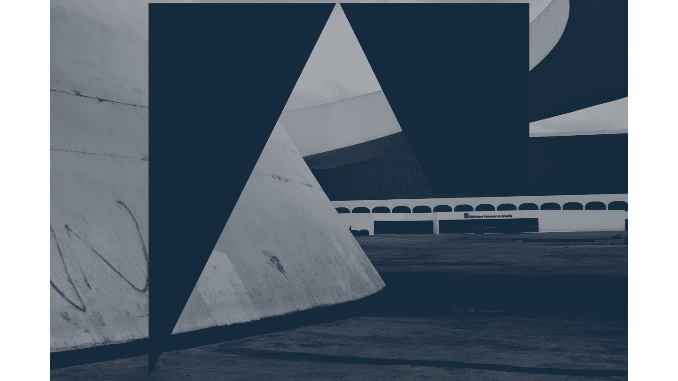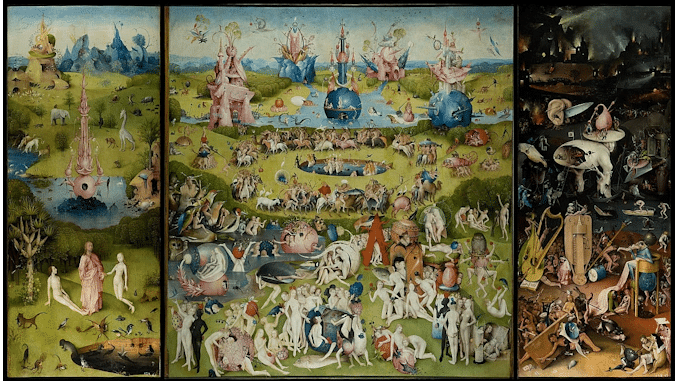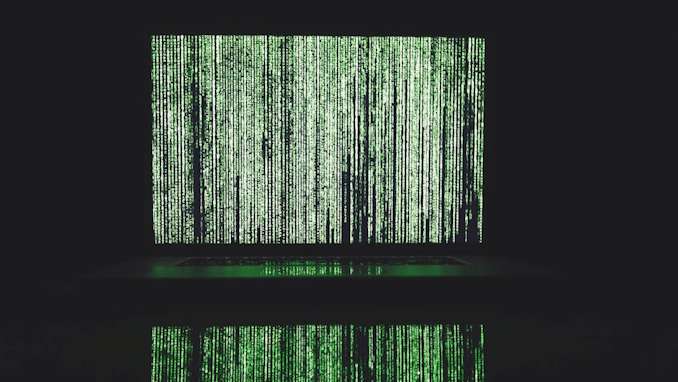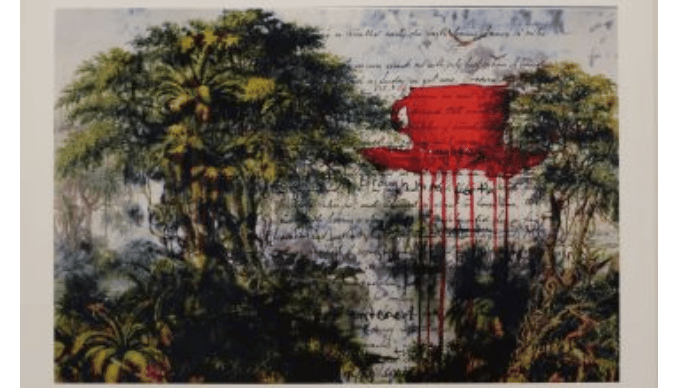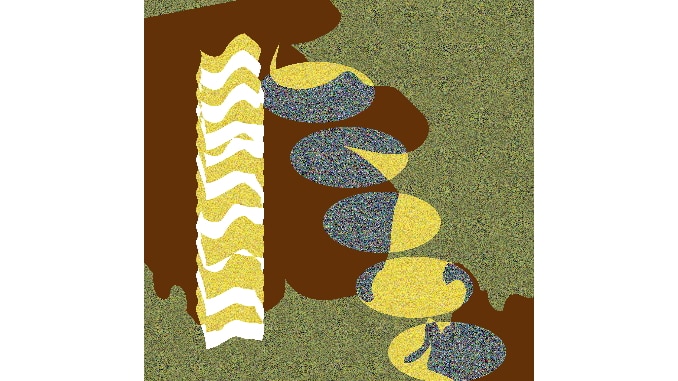Por PEDRO SALOMON BEZERRA MOUALLEM*
A discussão sobre autonomia do BC diante de poderes políticos, como propõe Lula, não deveria se restringir a questionar o mandato fixo de seu presidente
O debate público brasileiro desaprendeu a tratar o Banco Central do Brasil (BCB) e suas decisões como temas políticos. Não por outra razão veículos da imprensa e figuras públicas reagiram com espanto às recentes falas do presidente Lula sobre o Banco Central, por ocasião da última reunião do Copom que decidiu manter a meta Selic em 13,75% a.a.. As críticas de Lula e as reações a elas têm girado em torno da autonomia do Banco Central e das escolhas da política monetária diante da atual situação brasileira. Ambas as questões estão mal posicionadas e mereceriam aprofundamento.
A discussão sobre autonomia do Banco Central diante de poderes políticos, como propõe Lula, não deveria se restringir a questionar o mandato fixo de seu presidente. Isso porque, na verdade, a autonomia existente foi fabricada em um processo de décadas, no qual o Banco Central se imbricou a poderes privados e se afastou das considerações de poderes políticos. Isso se deu por meio de diversos expedientes.
Primeiro, foi fundamental o que se chamou de “aprendizado supervisionado” das práticas regulatórias difundidas internacionalmente, a partir da interação com organismos multilaterais desde meados dos anos 1990, por meio do qual a definição de políticas públicas e regulações tornou-se um assunto menos doméstico. Segundo, a conexão do Banco Central com atores financeiros tem se dado no nível do próprio corpo burocrático da autarquia, que tem preservado – mesmo em governo com orientações políticas diversas – perfis profissionais e educacionais “amigáveis ao mercado” entre seus diretores. Estudos sobre redes pessoais e “portas giratórias” são reveladores disso.
Terceiro, ao naturalizar uma ação estatal “através dos mercados”, o Banco Central do Brasil ampliou os pontos de veto e o poder infraestrutural de instituições financeiras. Nesse sentido, sua ação passa a pressupor algum acordo por parte dos agentes econômicos para funcionar. Para ficar no exemplo mais citado em outras experiências, pense na dinâmica das metas de inflação, em que o Banco Central visa alcançar meta de juros que supostamente conduzirá à meta de inflação por meio de operações de compra e vende de títulos em mercado – valendo-se, portanto, de instrumentos apenas indiretos para seu objetivo central e que dependem da preservação mínima de expectativas de mercado.
Combinados, tais vínculos normalizaram uma forma particular de política monetária (suas finalidades, seus instrumentos, modelos de funcionamento da economia e relações de causa e efeito) que passou a ser tratada publicamente como matéria neutra e técnica. Ao longo desse processo, um pedaço do Estado tornou-se mais poroso aos controles de atores financeiros que de políticos eleitos (o que, aliás, não se restringe ao caso brasileiro). A real autonomia do Banco Central, portanto, tem uma estrutura mais antiga e complexa do que sugere o debate sobre exonerar o presidente do Banco Central ou revogar a lei complementar nº 179/2021. Um debate sobre democratização do Banco Central deve enfrentá-la.
De mais a mais, quem se espantou com as críticas de Lula deveria acompanhar as cada vez mais difundidas discussões sobre os limites da autonomia diante dos papéis inequivocamente políticos que bancos centrais vêm assumindo mundo afora. Ninguém mais defende a sério a ideia de autonomia para bancos centrais cujos balanços foram tão inflados que não é possível desconsiderar seu impacto fiscal, que passaram a considerar em suas ações aspectos distributivos e questões climáticas, que adquiriram recentemente volumes massivos de dívida pública, e assim por diante. Não faria mal um pouco de jornalismo econômico honesto para além do pânico moral contra qualquer “intervenção da política na economia” – pelo contrário: suspeito que este tenha sido um dos motores da degradação democrática no país na última década.
Quanto às escolhas da política monetária, o debate também deveria ir além da oposição entre reduzir os juros vs. apertar a política fiscal. Não restringindo a discussão à política doméstica, o que se tem atualmente é um cenário de profundas incertezas e de uma economia global sujeita a múltiplos choques. Não há caminho fácil para qualquer país num futuro próximo e fincar raízes em soluções fáceis – isto é, como se reduzir a meta Selic pudesse destravar o crédito e o crescimento por si só ou como se o ajuste fiscal eliminasse todas as variáveis que pressionam inflação no país – apenas confunde sobre os reais dilemas que o país enfrentará.
Para estar à altura dos desafios atuais, o debate público deveria ir além da pasteurização de uma disputa entre fiscalistas vs. populistas, que no mais é fantasiosa. Deveria, isso sim, reaprender a se fazer perguntas difíceis, tais como: se a redução da inflação com recessão e desemprego é, de fato, melhor do que alguma inflação com crescimento econômico; ou se há caminhos possíveis de sintonia entre política fiscal e monetária para uma governança menos mistificada da moeda e do crédito.
Talvez o contexto de uma economia global de muitas crises simultâneas crie a oportunidade para que o se reaprenda a debater a estrutura e a finalidade políticas do Banco Central do Brasil. Ainda não tem sido o caso.
*Pedro Salomon Bezerra Mouallem é pesquisador de pós-doutorado no International Posdoctoral Program do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (IPP/CEBRAP).
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como