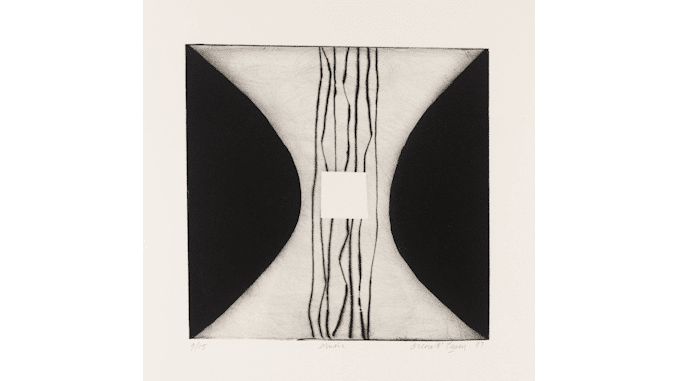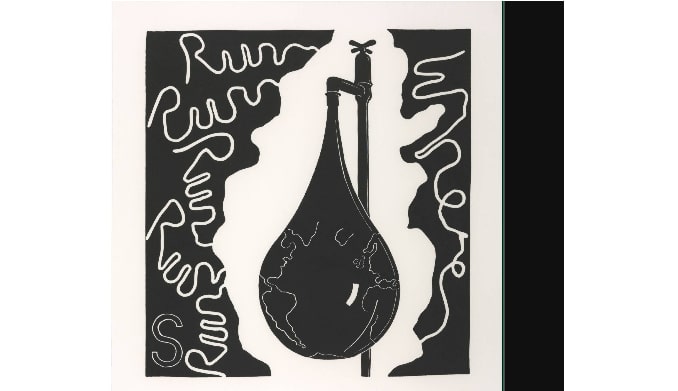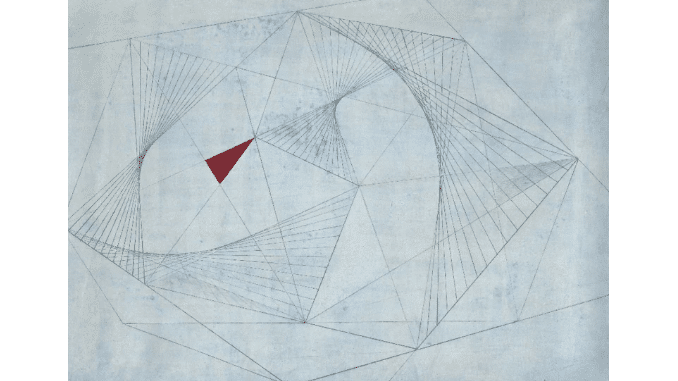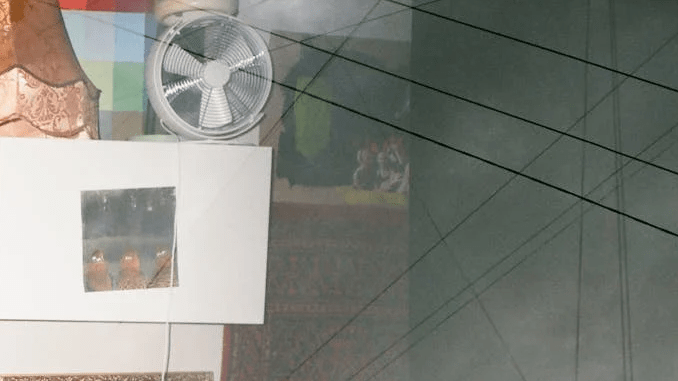Por RAPHAEL F. ALVARENGA*
Uma comparação do novo filme de Paul Thomas Anderson com o romance “Vineland”, de Thomas Pynchon
1.
Quando publicado em 1990, Vineland, de Thomas Pynchon, foi lido como uma elegia pós-Reagan ao longo crepúsculo dos anos 1960, um livro permeado por ex-radicais, comunas libertárias e uma sociedade que aprendera a domesticar a dissidência.
Trinta e cinco anos depois, Uma batalha após a outra, de Paul Thomas Anderson, adaptação livre e febril do romance de Thomas Pynchon, parece afinado com o momento de digitalização avançada em que vivemos: uma visão do desencanto político refratada pelo espetáculo cinematográfico.
Uma batalha após a outra tem sido elogiado pela narrativa inteligente e o enredo intricado, combinando múltiplos registros tonais – sátira política, thriller de ação, comédia noir –, bem como pela profunda humanidade de seus personagens principais, tão vividamente representados que até o pior deles, o cruel e desprezível Coronel Lockjaw, desperta, ao final, uma fugaz sensação de empatia.
O elenco, sem dúvida, entrega atuações primorosas, imprimindo vida a cada nuance. E visualmente o filme é, de fato, um verdadeiro banquete, repleto de perspectivas arrebatadoras e sequências de tirar o fôlego – do tableau inicial do muro na fronteira com o México à perseguição automobilística final, com a objetiva arqueando e mergulhando como um surfista em busca de uma onda monstruosa –, tudo elaborado com maestria e amarrado pela impressionante trilha sonora de Jonny Greenwood, que atua não apenas como acompanhamento, mas como força interpretativa própria.
Ainda assim, houve quem reprovasse a representação da revolução e da ação política no filme, bem como a ambiguidade de seu centro moral, reservas que abrem uma janela para o diálogo que a obra estabelece com Vineland.
O romance de Thomas Pynchon constitui uma meditação contínua sobre o potencial revolucionário perdido e sobre como os traços remanescentes daquela energia ainda poderiam ser mobilizados num momento de exaustão política. Ambientado em 1984, o livro retorna constantemente à contracultura dos anos 1960, onde figuras espectrais – os “Thanatoides” – são assombradas pela derrocada dos movimentos radicais do período.
Em contraste, Uma batalha após a outra tem sido criticado, sobretudo à esquerda, por transformar esse anseio político em espetáculo, convertendo a resistência em mera exibição. Nessa leitura, o desejo revolucionário se torna fetiche, ou mero ornamento estilístico, em vez de orientação coletiva concreta, obscurecendo as correntes políticas mais sutis e persistentes que Thomas Pynchon cultiva.
2.
Tal oposição binária – entre o poder da memória e a sedução do espetáculo – deixa escapar a continuidade mais profunda entre as obras. Vineland reflete um momento de desilusão, tanto no âmbito político quanto no cultural. Thomas Pynchon revisita os anos 1960 através do prisma da era Reagan, marcada pela dominação corporativa, pela militarização e pelo surgimento das chamadas “guerras culturais”, lineamentos que, nos dias atuais, atingem o paroxismo.
Embora a Guerra do Vietnã tivesse terminado em 1975, o saldo psíquico do conflito, assim como o fracasso da contracultura em sustentar seus ideais radicais, continuava a assombrar a imaginação coletiva. O romance configura-se, portanto, menos como um exercício de nostalgia do que como uma minuciosa investigação sobre o colapso de uma concepção específica de liberdade e de revolução, examinando o abismo que se abrira entre promessa e realidade.
Thomas Pynchon retrata uma geração suspensa entre os escombros do anticonformismo e a ordem conservadora entrincheirada que o sucedeu, um momento em que toda resistência se encontrava simultaneamente fragmentada, reprimida e cooptada, sujeita à tensão constante entre desejo de transformação e o peso esmagador das estruturas de poder.
A conexão entre os dois períodos revela-se tênue, mas não inteiramente perdida. Prairie Wheeler, a filha adolescente de antigos militantes, encarna essa continuidade frágil. Ela pode não herdar o fervor revolucionário da mãe, Frenesi Gates, mas ainda habita um mundo moldado pela luta anterior. Sob sua superfície cômica, Vineland expõe o legado da repressão ao estilo Cointelpro e os modos pelos quais o Estado estadunidense desmantelou e absorveu sistematicamente a dissidência anti-establishment. Embora a carga utópica tenha enfraquecido, Thomas Pynchon sugere que seus vestígios persistem, na memória, em atos dispersos de resistência e na absurda resiliência de figuras como Zoyd Wheeler.
Em Vineland, os segundos nomes dos pais de Prairie – Frenesi Margaret Gates e Zoyd Herbert Wheeler – funcionam como significantes históricos dissimulados que condensam a transição ideológica da efervescência dos anos 1960 ao individualismo consumista da década de 1980. “Margaret” evoca Thatcher e a consolidação da hegemonia de mercado, enquanto “Herbert” alude a Marcuse, emblema da esquerda contracultural. Frenesi personifica a sedução e a traição: outrora militante radical, torna-se colaboradora do Estado por intermédio de seu amante, um agente da DEA, passando de comunas libertárias e coletivos cinematográficos subterrâneos à máquina de pornografia política nixoniana.
Zoyd, por sua vez, agora um sujeito desastrado, brocoxô e prisioneiro de uma rebeldia ritualizada, representa o traço espectral daquele fervor intelectual anterior, doravante diluído em nostalgia e farsa. A união improvável dos dois personagens, que dá origem a Prairie, alegoriza a fusão desses legados antagônicos: o impulso utópico dos anos 1960 – a visão radical de uma civilização vital e erótica – absorvido e neutralizado no cenário híper-mercantilizado e “pós-ideológico” da era Reagan.
Por meio desse casamento, Thomas Pynchon dramatiza a passagem das aspirações utópico-coletivistas da Nova Esquerda à subjetividade sitiada e administrada da América tardo-imperial.
3.
É aí que entram em jogo as dessemelhanças e sobreposições do romance de Thomas Pynchon com o filme de Paul Thomas Anderson. Como observa Rory Doherty em resenha publicada na revista Time: “Além de suas abordagens estruturais contrastantes e das histórias de fundo dos personagens, a maior diferença entre texto e filme é o cenário. Vineland transborda detalhes de época, frequentemente ridículos e, por vezes, satiricamente inventados, enraizados na história de radicais apagados pelo establishment nixoniano, conduzindo aos inevitáveis e redutivos confins da ‘Guerra às Drogas’ de Reagan. Mas a imediaticidade de Uma batalha após a outra – com seus campos de detenção à la ICE, milícias ilegais invadindo ruas americanas e elites que promovem a supremacia branca em reuniões fechadas – visa reforçar o espírito de Vineland, e não miná-lo”.
Tanto o romance quanto o filme imaginam os escombros do radicalismo americano, mas o fazem por meio de dispositivos narrativos e ângulos distintos. No romance de Thomas Pynchon, a República Popular do Rock and Roll (People’s Republic of Rock and Roll, ou PR³) e o coletivo cinematográfico 24fps constituem uma alegoria dupla do colapso da contracultura em imagem e vigilância. Em Uma batalha após a outra, a célula militante French 75 reencena esse colapso em chave mais literal e violenta, transformando a ironia mediada do mundo pynchoniano num drama cinematográfico de insurgência e derrota. Tomados em conjunto, ambos mapeiam a transição da revolução como festival para a revolução como história fantasmagórica.
Em Vineland, a PR³ nasce do impulso utópico irreverente dos anos 1960: um enclave universitário que se proclama micro-nação soberana de paz, música e maconha. Thomas Pynchon a descreve com o tom de uma fábula seca: o momento em que o desejo político se torna teatral. Essa teatralidade, no entanto, carrega a marca de sua própria ruína. Os membros da comuna já estão desempenhando sua liberdade para a câmera, a qual pertence ao 24fps, o coletivo cinematográfico que tanto documenta quanto estetiza a dissidência.
Quando Frenesi, cinegrafista do 24fps, começa a filmar para as autoridades, a linha entre arte e vigilância se torna turva. O sonho de visibilidade da revolução coagula em exposição. Alegoricamente, a PR³ e o 24fps representam as duas faces do radicalismo do final dos anos 60: o anseio por uma comunidade emancipada e a crença fatal de que a libertação pudesse ser vista, e de que a imagem fosse a verdade. Thomas Pynchon sugere que a tragédia da contracultura não residira apenas na repressão, mas em sua transformação em espetáculo, na incorporação à economia midiática que pretendia subverter.
4.
Uma batalha após a outra reformula essa parábola numa alegoria histórica mais direta. Sua célula insurgente, a French 75, condensa o Weather Underground da vida real e grupos militantes similares que passaram do protesto à luta armada. Onde a PR³ parodia a república carnavalesca, a French 75 encena a lógica do pelotão de fuzilamento, cedendo às tentações do testemunho moral e do voluntarismo elitista: a revolta desesperada de uma classe pequena-burguesa dissidente mas sem base popular.
O filme comprime a temporalidade complexa de Thomas Pynchon numa narrativa simplificada de ascensão e ruína, com atentados, traições e erosão de ideais. Alegoricamente, a French 75 representa o momento em que o espetáculo da revolução buscava se autodestruir por meio da violência, apenas para se tornar um gênero de entretenimento entre outros. A cinematografia refinada e a edição rítmica tornam a própria representação da militância cúmplice do espetáculo que critica, enfatizando que, em ambas as ecologias midiáticas, não há saída possível da mediação.
Assim, a PR³ e o 24fps, de um lado, e a French 75, de outro, constituem uma dialética. Se os rebeldes contraculturais de Pynchon são vencidos por sua conversão em imagem, os radicais de Paul Thomas Anderson implodem na imediaticidade do ultraje. Os primeiros são derrotado pela câmera como arma; a segunda, pelo real da pistola. Entre eles desdobra-se a alegoria da decadência do idealismo americano: a lenta deriva da euforia comunal para a paranoia, da visibilidade para a sua instrumentalização.
Ao transformar a comuna “chapada” da PR³ na rede guerrilheira da French 75, Uma batalha após a outra troca a melancolia pós-moderna de Pynchon por uma imediaticidade trágica, mas ambas as obras terminam no mesmo espaço: o deserto reaganista (ou trumpista, tanto faz), onde a rebelião sobrevive apenas como imagem, a qual, nas mãos de Paul Thomas Anderson, se intensifica em vez de alcançar uma resolução.
Nesse sentido, a PR³, o 24fps e a French 75 não são facções tão distintas assim, mas máscaras sequenciais do mesmo sonho decaído, cada qual representando uma etapa na longa alegoria da resistência: primeiro a comuna, depois a câmera, seguida pela célula, cada uma esmagada, registrada e reproduzida, até que a nostagia seja tudo o que resta.
No entanto, há outro lado nessa história. Apesar de suas ênfases distintas, tanto o livro quanto o filme se preocupam menos em simplesmente evocar o passado do que em imaginar como a resistência, apoiando-se em experiências anteriores, pode persistir num presente em que parece impossível.
Em Vineland, o foco de Pynchon na família (Prairie, Zoyd, Frenesi) e na frágil solidariedade daqueles que permaneceram após o colapso da contracultura aponta para a resistência sustentada por meio do cuidado cotidiano, da lealdade e dos vínculos afetivos.
Se Uma batalha após a outra prolonga esse impulso, o que poderia parecer mera espetacularização torna-se, em vez disso, uma reinterpretação cinematográfica dessa mesma energia política: uma visão de como pequenas solidariedades, alianças improvisadas e atos de atenção persistem dentro da paisagem hipermediatizada do neoliberalismo tardio. O paralelo com Vineland, nesse sentido, pode lançar luz adicional sobre essa transformação.
5.
O romance de Thomas Pynchon se move na lógica onírica, mnemônica e fragmentária que caracteriza sua obra: memória, transgressão, fracasso e o não-ainda importam tanto quanto a trama ostensiva. Sonhos e fantasias funcionam ali como sítios latentes de desejo político. Em Vineland, Prairie, a adolescente que anseia reencontrar a mãe, representa o desejo de manter continuidade com um passado radical, inviabilizado em meio à campanha de reeleição de Reagan e pelo então já onipresente “Tubo” (a televisão), mas que persiste virtualmente.
Prairie herda a história e suas derrotas, ainda que não da mesma forma que a geração de seus pais. As energias utópicas esmagadas dos anos 1960 permanecem, aguardando outra abertura histórica. Ao assistir a imagens de arquivo de um protesto anterior, ela sente uma onda tardia da intensidade perdida daquele momento: “Mesmo através das cores grosseiras e do som distorcido, Prairie podia sentir a libertação no local naquela noite, a fé de que tudo era possível, de que nada poderia se interpor àquela certeza jubilosa. Ela nunca tinha visto nada igual antes” (Vineland, p. 210).
Diferentemente de outros romances de Thomas Pynchon, em que dinâmicas revolucionárias mais intensas oferecem alguma medida de redenção – pense-se na contra-força dos foguetes n’O arco-íris da gravidade (Gravity’s Rainbow, 1973) ou nos anarquistas de Contra o dia (Against the Day, 2006) –, Vineland apresenta uma forma de sobrevivência em menor escala. Nada que ver com o “sobrevivencialismo” da ideologia contemporânea, dizendo respeito, antes, à resistência de uma filha, uma família dilacerada, um sonho diferido.
O desfecho semelhante ao de uma telenovela sinaliza com ironia o colapso das grandes energias revolucionárias, mas não deixa de preservar as condições para um desejo ainda não de todo consciente de algo diferente. A domesticidade, aparentemente apolítica, adquire um peso político silencioso: a intimidade cotidiana – família, narrativas, solidariedade – carrega seu próprio valor utópico, uma recusa discreta a se render à vigilância e ao poder do Estado.
Voltando ao filme de Paul Thomas Anderson, lê-lo apenas como um achatamento do potencial utópico pelo espetáculo é perder de vista sua atenção a formas alternativas de resistência: os modos como a família (por mais disfuncional que seja), a amizade duradoura e a entreajuda dos margin walkers operam como núcleos de possibilidade política no presente, ecoando as contra-forças íntimas de Vineland.
Em ambas as obras, “família” não significa retiro privado, mas microestrutura social resistente. Em Vineland, a busca de Prairie pela mãe e a reconstituição do núcleo familiar tornam-se alegoria da reconstrução da memória social e da solidariedade entre os despossuídos. Em Uma batalha após a outra, os laços familiares ou comunitários entre figuras marginais resistem à incorporação no espetáculo.
As margens, aqui, não são apenas sociais, mas de certo modo ontológicas, espaços de possibilidade nos quais ainda é possível agir fora de narrativas midiáticas pré-roteirizadas. Esta é a “contra-força” de Thomas Pynchon transposta para o registro visual: não uma revolução heroica, mas uma persistência cotidiana e difusa.
Considere-se, por exemplo, a gentileza discreta, a engenhosidade e a compostura de Sensei Sergio – o professor de caratê de Willa (personagem homóloga a Prairie no filme) –, que se colocam a serviço da rede clandestina responsável por proteger imigrantes sem documentação da violência fascista. Na mesma sequência dessa organização alternativa da vida cotidiana urbana – um dos pontos altos do filme –, o plano em que uma fileira de jovens latinos avança de skate pelas ruas de noite: a juventude em movimento torna-se um motivo visual de marginalidade e improvisação, evocando as energias latentes e inquietas do universo romanesco pynchoniano.
O skate e a cultura juvenil urbana ou suburbana ressurgem aqui como uma síntese figurativa da vida pulsando na camaradagem, na rebeldia, na liberdade e na sobrevivência de espaços sociais alternativos dentro de ambientes rigidamente estruturados e frequentemente opressivos. Assim como a navegação de Prairie pelos espaços domésticos e marginais em Vineland, esses efêmeros instantes de mobilidade juvenil sugerem a possibilidade contínua de se viver de outro modo, de afirmar autonomia e solidariedade em situações de restrição e vigilância.
Em tais gestos, o novo filme de Paul Thomas Anderson encontra sua política silenciosa: não o espetáculo do sacrifício, mas o trabalho paciente do cuidado; não, portanto, uma revolução televisionada, mas uma revolução baixa e contínua, residual, sustentada em movimento, memória e atenção constante.
Ainda assim, como observou recentemente Richard Brody em resenha publicada na New Yorker, enquanto filmes como A chinesa (1967), de Godard, e Zabriskie Point (1970), de Antonioni, mantinham um contato documental com ativistas reais e com a experiência imediata da ação política que dramatizavam, Uma batalha após a outra enfatiza, ao contrário, o registro do trabalho afetivo, resultando, segundo o crítico, num filme simultaneamente “brilhante e oco”, “uma visão de possibilidades esperançosas” mas “desancorada da realidade”.
A suposta vacuidade, no entanto, talvez seja menos uma falha do filme do que o indício de um impasse objetivo. A ausência de um trabalho revolucionário direto reflete a própria lógica do neoliberalismo tardio, em que a ação coletiva, em contexto de desindustrialização e hiperprodutividade, se encontra extremamente fracionada, desmunida e estetizada.
Em última instância, tanto Vineland quanto Uma batalha após a outra convergem na imaginação de uma política do resto; uma política do que persiste quando as grandes narrativas de emancipação parecem esgotadas. Thomas Pynchon já intuía, em meio ao refluxo conservador dos anos 1980, que a resistência sobreviveria menos como insurgência armada do que como energia residual, dispersa em gestos cotidianos de cuidado, memória e solidariedade.
Paul Thomas Anderson, por sua vez, traduz essa intuição para o regime visual do século XXI, no qual a mediação total e o espetáculo substituem a experiência imediata. Sua aposta é a de que ainda se podem cultivar brechas de sentido e comunidade dentro desse regime: zonas autônomas de afeto e atenção, onde a política se reaprende como prática paciente e partilhada.
Longe de se oporem à organização coletiva, essas zonas podem estar mais afinadas com formas de controle do poder econômico pensadas para a classe trabalhadora e por ela, enraizadas em redes de solidariedade material, cuidado mútuo e reapropriação democrática do espaço urbano, dos recursos e dos meios de produção e sobrevivência disponíveis.
O que o filme herda de Vineland não é apenas a desilusão, mas a persistência do possível num tempo em que parecemos incapazes de enxergar um palmo à frente; uma utopia mínima, que insiste em germinar sob as ruínas do espetáculo.
*Raphael F. Alvarenga, é doutor em filosofia pela Universidade de Louvain (Bélgica).
Referências

Thomas Pynchon. Vineland. Tradução: Reinaldo de Moraes e Matthew Shirts. Companhia das Letras. São Paulo, 1991, 504 págs. [https://amzn.to/3L5xoFC]
Uma batalha após a outra (One Battle After Another).
Estados Unidos, 2025, 162 minutos.
Direção e roteiro: Paul Thomas Anderson.
Baseado em: Vineland (1990), de Thomas Pynchon.
Elenco: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti.
Música: Jonny Greenwood.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A