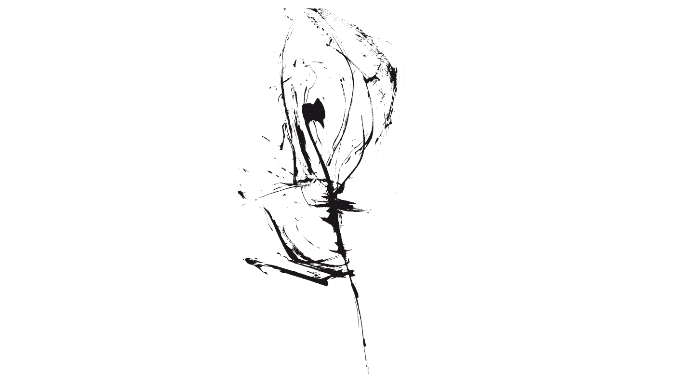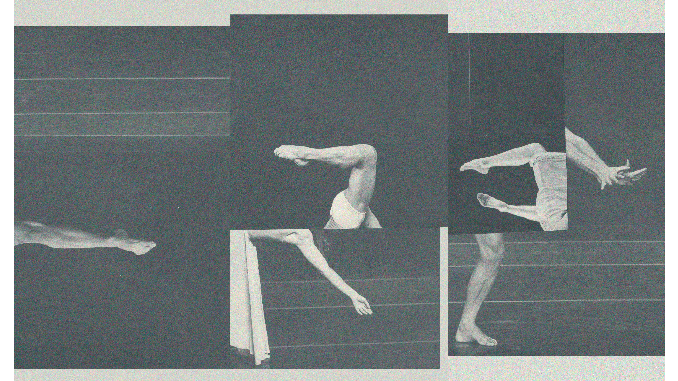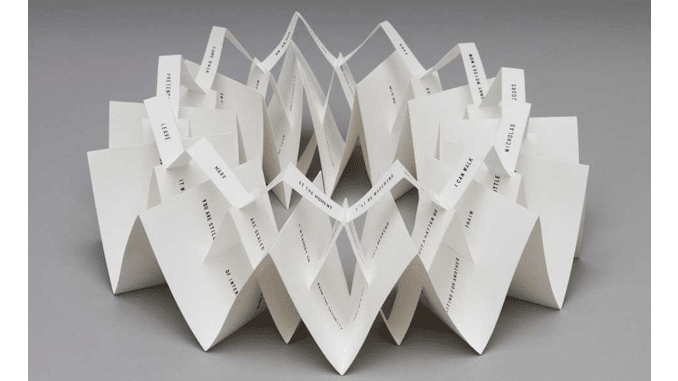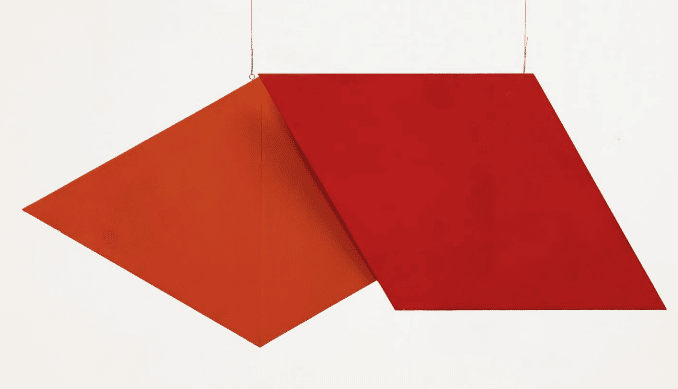Por ARTHUR NESTROVSKI*
Comentário sobre o livro de Luiz Alfredo Garcia-Roza
“Chegou à conclusão de que perdera simultaneamente o passado e o futuro e procurava o sentido do presente.” Isso acontece, não chega a ser raro; mas também não é a reflexão que se espera de um delegado de romance policial, no caminho entre a sua casa e a 12ª DP, em Copacabana, depois de uma visita a um sebo. Mas nem todo delegado se chama Espinosa, nome bom demais para ser verdade. E é verdade: uma das mais inesperadas e benquistas verdades da literatura brasileira recente, renovada neste quarto livro de Luiz Alfredo Garcia-Roza.
Era o filósofo Theodor Adorno quem dizia, de Proust, que ele não cometia jamais a deselegância de fazer o leitor se sentir mais inteligente que o autor. A frase poderia ser adaptada para a ficção de Garcia-Roza. Faz cada um de nós se sentir mais inteligente do que é, mais experiente, mais vivido, mais afinado com as percepções, e nem por isso vacila no exercício de sua própria e superior sabedoria. Que o prazer de pensar se confunde, aqui, com a habitação de uma sensibilidade só reforça o caráter literário até os ossos desse grande estilista – sem nenhum favor, um dos grandes mestres internacionais do romance policial.
Que Garcia-Roza, como se sabe (está na orelha dos livros), foi professor titular de teoria psicanalítica e escreveu oito livros acadêmicos seria o bastante para ler os policiais com um pé atrás. A proximidade entre detetives e psicanalistas é óbvia; e barata. E o nome Espinosa, por si, acende outra luz de alerta: aludir assim explicitamente ao filósofo do pensamento livre, do raciocínio levado às últimas consequências e da ética como campo humano da experiência seria motivo mais que provável para dar tudo errado.
O fato de que há gente hoje querendo ir ao Rio só para conhecer o bairro Peixoto (como há outros que vão visitar o Catete de Machado de Assis) dá a medida do acerto da mistura, onde as forças se somam não para compor uma tese, mas para elaborar o sedutor enigma de um homem chamado Espinosa, delegado carioca.
O encantamento de lugar é uma das tantas marcas do gênero policial, que Garcia-Roza pratica com desenvoltura. Uma Janela em Copacabana não é só a história de uma janela, mas a mesma concentração de sentidos num ponto particular do espaço, que anima a ficção de mistério desde o início do século XIX, ressurge aqui associada a… uma janela em Copacabana. Janela onde certo crime é observado por certa mulher, no início do livro, e que funciona como um ímã para a espiral de encontros e desencontros da história.
“O máximo de visibilidade” e ao mesmo tempo “o máximo de cegueira”: não soa como uma lei do inconsciente? Já no primeiro romance, O silêncio da chuva (1996), a mesma ideia era crucial, tanto do ponto de vista psicanalítico quanto criminalístico. E mais uma vez nosso autor tem o cuidado natural e o talento trabalhado de não fazer de cada descrição uma alegoria. A janela é uma janela. O que não significa que seja fácil de interpretar, para o delegado.
É bem verdade que Espinosa “sentia-se como um ficcionista cujos personagens eram as pessoas reais que encontrava”, observação que merece ser comparada com a afirmativa, na página de créditos, de que “os personagens e situações desta obra são reais apenas no universo da ficção”. Nessa hora, certa vertigem pode tomar conta do leitor. Mas não é a vertigem da loucura; é a vertigem da leitura.
Certas criaturas da ficção, bem entendido, são presenças muito mais reais na vida do que outras tantas, que se encontram sonambulisticamente fora dos livros. Exemplo próximo de nós: o delegado Espinosa, às voltas com seus livros empilhados, seu carro sem bateria e sua torradeira que só queima um lado do pão, envolvido diariamente com seu assistente Welber (dublê “real” de Sancho Pança ou Dr. Watson) e, em ritmo picado (mutuamente conveniente), com a quase perfeita Irene, ex-amante de Olga, uma das vítimas no livro anterior, Vento Sudoeste (1999).
Toda a graça delicada dos pequenos incômodos do dia-a-dia confere ao romance uma aura particular, reconhecível pelo visitante que volta com gosto à prosa de Garcia-Roza. Nenhum detalhe é insignificante, nem para o delegado, nem, com outro sentido, para nós. Não há nenhuma ingenuidade da parte de Espinosa, nem para interpretar sinais dos outros, nem para avaliar seus próprios sintomas. Vale dizer que o autor respeita seu personagem, como respeita o leitor. Se um e outro se veem traídos depois, isso, como diria Espinosa (o filósofo, não o delegado), talvez seja uma inevitabilidade na ordem natural das coisas.
No romance, ao menos, a ordem das coisas tem um ritmo composto; e o tempo da escrita aqui se deixa modular flexivelmente pelo tempo e pelo clima da cidade. Nem rápido demais, nem devagar demais. Os avanços da história se deixam interromper por calmarias e planuras. Certa lógica de coincidências, certos curtos-circuitos de entendimento fazem homenagem à arte dos precursores (de Sófocles a Cornell Woolrich), que sempre extraíram o máximo das torções e retroversões de uma história. Mas sem exageros de sobredeterminação: só psicanalista de folhetim vê sentido definido em tudo, ou então detetives caricatos de TV. No bairro Peixoto, estamos noutro mundo (“crime também é cultura”, comenta Espinosa, para um Welber pasmado pela ironia).
A cultura do crime tinha acento mais baixo em Achados e perdidos (1998); mas o policialato corrupto se expõe de novo aqui, em contraponto com figuras do primeiro escalão da equipe econômica do governo e uma sucessão de mulheres em “e”: Celeste, Serena, Irene. Somando Espinosa e Welber, é um verdadeiro mundo da segunda vogal, percorrendo as hieroglíficas ruas do Rio em busca de certezas e felicidades (“certeza não é verdade”).
E os assassinos? E os assassinatos? E as testemunhas? Não se conta isso numa resenha de romance policial. Nem têm tanta importância. Acidentes e crimes são só um arcabouço para que o cenário humano venha se formar mais uma vez. E que prazer enorme habitar esse bairro de novo, a despeito de todos os abusos e aberrações que Garcia-Roza nos faz ver, com um olhar que não chega a ser de denúncia, mas não renega a escola de realismo à qual dedicou, afinal, os primeiros 60 anos de vida. De lá para cá, foram mais três livros. Fazem dele hoje um dos nomes de frente da nossa literatura, só limitado pelas contingências do gênero que escolheu modestamente praticar.
*Arthur Nestrovski, ensaísta, crítico musical e literário, é diretor artístico da OSESP e autor, entre outros livros, de Tudo tem a ver. Literatura e música. São Paulo: Todavia, 2019.
Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo, em 18/11/2001.
Referência
Luiz Alfredo Garcia-Roza. Uma Janela em Copacabana. São Paulo, Companhia das Letras, 2001 (https://amzn.to/3YE99RH).