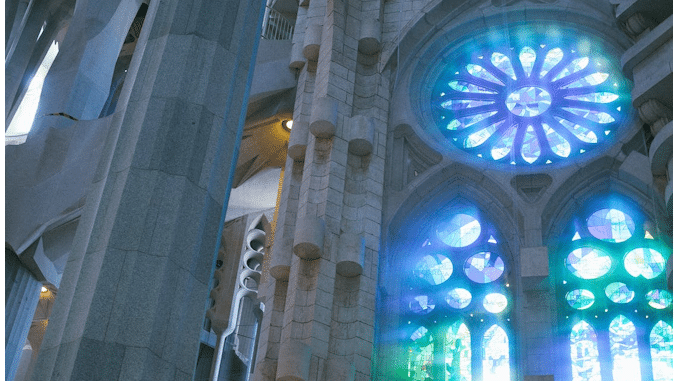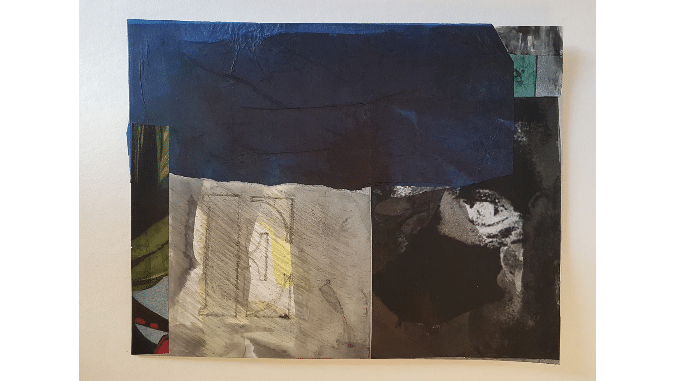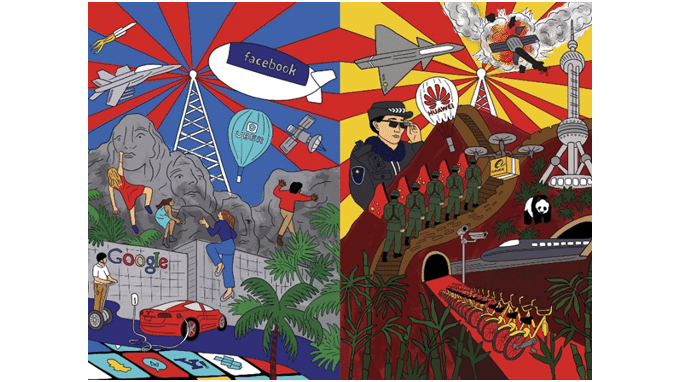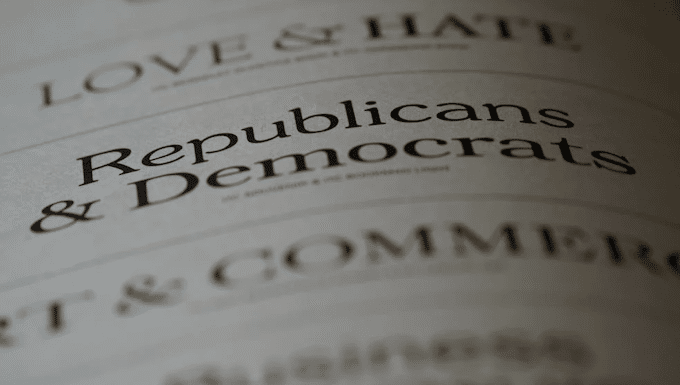Por VITOR LEMOS REIS & DANICHI HAUSEN MIZOGUCHI
A violência macroscópica nas favelas revela o funcionamento da necropolítica: um soberano que decide quem deve morrer e uma massa que deseja o extermínio
1.
Um samba antigo que Zé Keti dedicou ao querido e amigo povo brasileiro dizia: “acender as velas/já é profissão”. Na composição de 1964, a inoperância do Estado, a precariedade urbana e as desigualdades sociais deixavam à mingua as vidas dos jovens moradores das favelas. Porque no morro não tinha automóvel para subir nem telefone para chamar, o doutor chegava tarde demais, porque no morro não tinha automóvel para subir nem telefone para chamar, e, assim, mesmo que não de morte matada, a gente morria sem querer morrer.
Diante da imagem dos corpos enfileirados na praça São Lucas, lampejam memórias de um passado nunca ultrapassado: Acari, Vigário Geral, Candelária, Jacarezinho, Vila Cruzeiro, Baixada Santista, Baixada Fluminense, Carandiru, Cabula, Curió – a fotografia que estampou boa parte das capas dos jornais no dia seguinte atualiza tragicamente a sequência mortífera de ações policiais brasileiras, em cujo topo doravante estará, não se sabe por quanto tempo, a chacina que no dia 28 de outubro deixou 120 mortos na Penha e no Complexo do Alemão.
Não há nenhuma dúvida que se trata de necropolítica. Já nas primeiras linhas do ensaio publicado em 2003, o filósofo camaronês Achille Mbembe defende a tese de que “a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer”. A ideia já estava em Vigiar e Punir, mas deriva mais especificamente de Em defesa da sociedade, curso ministrado em 1976 por Michel Foucault no Collège de France.
A apresentação da biopolítica – ou seja, do modo como o poder moderno, especialmente a partir do século XVIII, conduz a vida e regula processos biológicos coletivos, como, por exemplo, saúde, natalidade, longevidade e higiene – torna-se, em sua última aula, uma consideração acerca da sobreposição de duas espécies de gestão.
A questão que aparece quase ao final desta aula é como, nessas condições de intensificação da vida, “é possível, para um poder político, matar, reclamar a morte, pedir a morte, mandar matar, dar a ordem de matar, expor à morte não só seus inimigos, mas mesmo seus próprios cidadãos?”
O próprio Foucault responde: o racismo é que estabelece o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Mais precisamente, com o racismo, a morte do outro é o que vai deixar a vida em geral mais sadia e mais pura. É, portanto, em defesa da sociedade que se mata, em uma lógica que chegou ao supra sumo com o arianismo nazista.
2.
Horas depois da chacina, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, se apressou em anunciar que, diante de um suposto abandono da população à sua própria sorte por parte do executivo federal, as polícias civil e militar fluminenses eram as responsáveis únicas e exclusivas pelo sucesso da operação que devolvia a liberdade à população.
Dois dias depois, acompanhado por meia dúzia de gestores estaduais à direita do espectro político, sem demonstrar nenhum remorso ou sentimento pelos mortos ou por suas famílias, anunciou a criação de um “Consórcio da Paz” – um conglomerado de unidades federativas que iria juntar esforços “a favor do nosso povo”.
Consórcio é um termo costumeiramente usado para se referir à modalidade de autofinanciamento em que um grupo se reúne temporariamente a fim de comprar bens e serviços parceladamente e sem taxa de juros. A imagem da coletiva, exuberantemente didática, anunciava que a campanha eleitoral de 2026 havia iniciado e que nela a segurança pública será central. Nesse consórcio sangrento, onde o aporte monetário é a bala, explicita-se uma vez mais o caráter lucrativo da violência.
Quando vieram a público, as pesquisas de opinião indicaram que havia muito mais aprovação do que reprovação à operação – inclusive na população residente em favelas. Entre agosto e os últimos dias de outubro, a avaliação positiva do mandatário fluminense subiu cerca de 10%.
As mesmas pesquisas, porém, indicam que a maioria da população do Rio de Janeiro não acredita que a cidade tenha se tornado mais segura. A aprovação, portanto, não diz respeito à sensação de segurança, mas a outra coisa. A aparente contradição, porém, se desfaz se observada por outra lógica.
Poucos meses após a ascensão de Adolf Hitler ao poder, Wilhelm Reich publicou A psicologia de massas do fascismo. A questão fundamental do livro é curiosa: por que as massas se voltaram para o autoritarismo? A conversa era com a própria esquerda, que, em boa medida, cria que o proletariado havia sido enganado pelo nazismo – ou, em outros termos, como o povo poderia ter desejado a própria repressão?
Em O anti-Édipo, Gilles Deleuze e Felix Guattari afirmam: “Nunca Reich mostra-se maior pensador do que quando recusa invocar o desconhecimento ou a ilusão das massas para explicar o fascismo, e exige uma explicação pelo desejo, em termos de desejo: não, as massas não foram enganadas, elas desejaram o fascismo num certo momento, em determinadas circunstâncias, e é isso que é necessário explicar, essa perversão do desejo gregário”.
Na ortodoxia marxista, a alienação do povo por parte do sistema capitalista deveria ter como resposta a conscientização. No trabalho de base, a função primordial era esclarecer a opressão aos proletários para que, assim, conscientizados da exploração, se unissem à luta de classes.
Porém, o que Wilhelm Reich nos ensina é que não é possível pensar em um outro mundo possível sem levar em consideração um elemento aquém e além da consciência. Em outros termos, que há um elemento afetivo, molecular, invisível, impassível aos letramentos – para usar um termo estadunidense caro ao léxico progressista atual: o desejo.
3.
A oposição entre os amigos e os inimigos é fundamental na teoria política do jurista nazista Carl Schmitt. Destoando da tradição aristotélica, a identificação da amizade, para ele, não se relaciona diretamente ao espelhamento entre virtuosos, mas, mais especialmente, pela intensidade relacional.
Um amigo é aquele que está do mesmo lado, enquanto um inimigo é o outro. O soberano é aquele que tem o poder de decidir quando e quem é o inimigo, e, a partir desta detecção, pode suspender a lei para confrontá-lo em um estado de exceção.
Conectando a luta de classes ao inconsciente, o psiquiatra Frantz Fanon indicava que há umainternalização no colonizado do desejo de ser como o colonizador – rejeitando no limite, a si mesmo. Esse processo psicopolítico é um dos pilares da dominação colonial.
A frustração e a raiva geradas pela opressão, mas também o desejo inalcançável de ser o outro, por vezes são deslocadas e direcionadas contra os próprios semelhantes. Nos termos célebres do educador brasileiro Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é tornar-se o opressor.
Em um ato eleitoral em Iowa em 2016, Donald Trump declarou: “Tenho os eleitores mais leais. Alguma vez vocês viram algo assim? Eu poderia parar na metade da Quinta Avenida, disparar contra as pessoas e não perderia eleitores”. Talvez não se tratasse de lealdade, mas de desejo – de funcionar como um líder carismático que carrega o gatilho que retira as camadas repressivas e dá vazão ao desejo do homem médio.
Apesar de não romantizá-la como um fim em si, Frantz Fanon acreditava que a violência poderia criar uma catarse necessária para o processo de desalienação do colonizado. Porém, quando essa potência catártica é cooptada, ela pode servir de combustível para mais opressão. Os tiros de Donald Trump não são metáforas, mas o próprio gatilho para essa lealdade irracional.
Talvez precisemos admitir que as massas não foram enganadas: elas desejaram a violência macroscópica dessa intervenção, o grande momento de um soberano schmittiano que, ao declarar o inimigo – o terrorista das favelas – suspende a lei em nome da intensidade relacional do “nós contra eles”, até porque eles, mestiços e precarizados, talvez sejam por demais próximos de um nós que nós não queremos reconhecer.
Cláudio Castro e os outros financiadores do consórcio macabro não perdem eleitores ao disparar na Quinta Avenida das comunidades. Ao contrário, convertem a raiva de nós em nós em combustível eleitoral para 2026.
Acender as velas ainda e cada vez mais é profissão. Diante da insistência desejante colonial e necropolítica, o amigo e o inimigo embaralham-se – o que, em suma, indica um embaralhamento da política. A tristeza absoluta pela renitência das chacinas em favelas, mas também o assombro com a aprovação reiterada da morte em nosso país, indica que a tarefa fanoniana e freireana precisa, cada vez mais, ser reativada.
Se a eleição de 2026 de fato já começou, resta saber se, para além do desenvolvimentismo e do socialismo de consumo, ainda há condições de se forjar outras imagens do desejo entre nós – porque, se não, em nosso futuro talvez restem apenas o luto, o samba e a desilusão diante de tanta morte matada.
*Vitor Lemos Reis é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
*Danichi Hausen Mizoguchi é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A