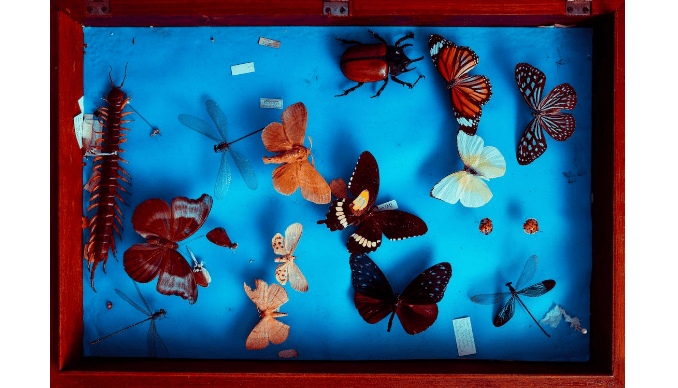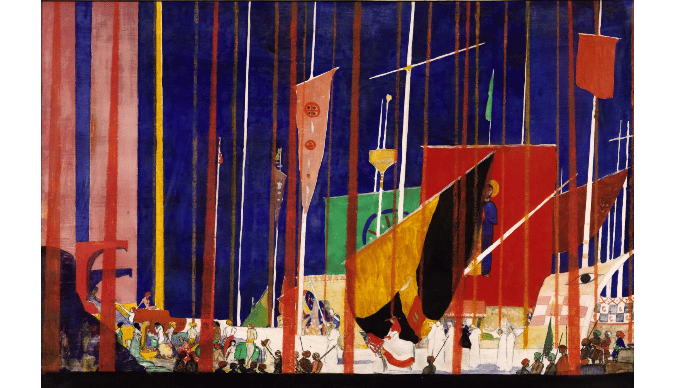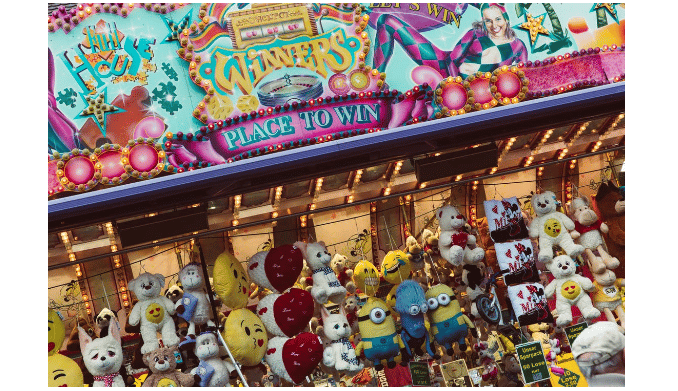Por MARCUS IANONI*
A política de massas está posta no Brasil atual e não há nada que indique que não vá se expressar nas eleições de 2022
“As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas se afastam de evidências que não são do seu gosto, preferindo deificar o erro, se o erro as seduzir. Quem quer que possa lhes fornecer ilusões é facilmente seu senhor; quem tenta destruir suas ilusões é sempre sua vítima” (Gustave Le Bon, A multidão: um estudo da mente popular, 1895).
O tema das massas emergiu na Europa, no final do século XIX, em contraponto às transformações urbano-industriais e políticas que induziram às demandas democráticas, ao sindicalismo e à formação dos partidos socialistas. Sabemos que Le Bon desenvolveu uma visão conservadora das massas, que agradou aos elitistas italianos, como Michels, que aderiu ao fascismo de Mussolini. A despeito disso, ou exatamente por isso, a questão das massas, abordada por esse e outros autores, é uma pista interessante para refletirmos sobre alguns dos novos processos e fenômenos sociais e políticos que emergiram nos últimos anos, em vários cantos do mundo.
Mas aqui interessa abordar suas expressões no Brasil, especialmente a ascensão simultânea do neofascismo e do ultraliberalismo, as fake news, o inusitado protagonismo participativo da extrema-direita, desarmada ou armada, evangélica ou literalmente beligerante, em nome da lei ou abertamente fora dela, a sensação generalizada de caos e a coletânea de contradições.
Afinal, o “gado” bolsonarista se vê como gigante despertado; o herói é desprovido de empatia e de virtudes; aquele que exalta o caráter libertador da verdade do Evangelho constrói o reino da mentira e da manipulação; o Messias banaliza a vida; o fanatismo abre o sinal para um vale tudo simultaneamente salvacionista e negacionista, que, ao mesmo tempo e coerentemente, procura fechar o caminho para a ciência, para os direitos humanos, para o meio ambiente e para a cultura em geral, vista como marxista por esses sectários; uma operação política chamada Lava Jato coaliza-se com o Grupo Globo, corporação de comunicação que diz combater as fake news, para alavancar uma farsa jurídico-midiática em nome do combate à corrupção, que resulta na eleição de um líder, respaldado por sua multidão, que ataca até sua produção artística; juízes da lei praticam crimes, conforme revelações da Vaza Jato e, como consequência do espetáculo, tornam-se celebridades, ministros do governo federal e candidatos às eleições; a teologia da prosperidade contrai matrimônio com a economia política da miséria e assim por diante. Enfim, que país é esse, muito pior hoje que em 1987, nos idos da Constituinte, quando a canção de Cazuza foi lançada e alguma esperança havia, ao passo que a sensação panorâmica atual evoca o poço sem fundo?
A questão das massas pode ajudar a entender o país. Para enfrentar um partido com enraizamento de massas, ainda que limitado e oscilante, e com liderança carismática, nada mais adequado que uma forte investida política pré-fabricada capaz de penetrar na mente popular e de confeccionar uma fatia de multidão nas ruas, nas redes sociais e na grande mídia, uma fatia de bolo de massa mobilizada e enfeitada com a cereja Jair Messias, suposto guerreiro destemido, igual aos que nele creem, batizado no Rio Jordão pelo Pastor Everaldo, da Assembleia de Deus e presidente do PSC. Há gosto para tudo e novos paladares surgem na história. Essa investida política arma-se não apenas com as novas tecnologias e a velha Bíblia, mas também com as balas de chumbo, também apoiadas pelos reis do gado, donos do boi-mercadoria-capital, da soja etc.
Nos últimos anos, a bancada BBB (bala, boi e bíblia – armamentista, ruralista e evangélica), identificada na legislatura empossada no Congresso Nacional em 2015, expandiu-se. Liderada pelos antiglobalistas, equipada com as redes sociais e com o capital financiador da indústria de fake news, a frente ideológica massificou-se. Além dos evangélicos, arregimentou o salvacionismo moralista e o anticomunismo militante. Alucinações abundam. O armamentismo entrou no campo de batalha, sobretudo, pelo protagonismo das Forças Armadas, policiais e milicianas, respaldadas, sobretudo as duas primeiras, pelo aparelho repressivo-judicial, mais afim à coerção que à garantia dos direitos. Por fim, o capital não é só B de boi, mas também B de bancos, enfim, B de burguesias, nacional e estrangeira, que apoiaram o golpe de 2016 em frente única das suas frações de classe, sem contar os investidores em portfólio não residentes.
Mesmo agora, apesar das várias opções eleitorais das direitas em 2022 – Bolsonaro, Moro, Doria, talvez também Mandetta, Pacheco, enfim –, a grande burguesia, obviamente, está nesse campo ideológico. Resta saber como ela se comportará em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Em 2018, o professor da USP, Fernando Haddad, foi preterido pelos donos do dinheiro, que escolheram um deputado federal insignificante, do baixo clero, assumidamente violento, terrivelmente evangélico e incrivelmente alucinado.
No fim das contas, a coalizão parida na crise nacional reúne, sobretudo, as burguesias, com o capital que busca valorização financeira à frente, o aparato repressivo jurídico-militar expandido (camadas médias) e os evangélicos. Mas essa aliança não tem pão para oferecer – muito pelo contrário, a taxa de desemprego está em 13,2%, a precarização do trabalho se revela na uberização generalizada, a expectativa de inflação supera os 10% (Boletim Focus), a miséria e a fome voltaram, as calçadas viraram moradia. Para tentar compensar a miséria material destinada às massas e, ao mesmo tempo, assegurar sua reeleição, resta a Bolsonaro, que se coloca como guardião dos interesses dessa ampla dominação de classes, continuar ofertando circo de massas e violência, a mesma fórmula de sua ascensão.
Por um lado, suas redes sociais investem na agenda comportamental conservadora, em kit covid, semeiam ilusões e plantam mentiras, mas têm colhido a perda de popularidade do charlatão. Por outro lado, como as ilusões podem, no máximo, enganar o estômago, mas não saciar a fome, e como nem todas as mentes se sujeitam o tempo todo à enganação, só resta ofertar uma dose maior de violência para compensar a escassez de pão. As parcelas da opinião pública menos suscetíveis ao canto de sereia das ilusões vazias, que não geram benefícios concretos, e aqueles que, examinando os fatos, enxergaram os absurdos em curso – a trágica gestão da pandemia, o mal-estar econômico e social e a crônica barbárie mental do neofascista – já pularam fora da nau errática e desgovernada que está aprofundando o naufrágio nacional em curso desde o golpe de 2016.
Gramsci argumenta que o Estado é ditadura e hegemonia, força e consenso. Em 2018, em função da crise do neoliberalismo no Brasil, da crise do PSDB e do MDB e da existência de uma organização partidária de esquerda, com enraizamento de massas (limitado), que mesmo ferida na luta política, entrou firme na disputa eleitoral, configurou-se e consolidou-se a oportunidade de um bufão neofascista, oriundo do baixo clero parlamentar, surfar na crista da onda política, abençoado por uma classe dominante desesperada, aberta até mesmo, com ou sem pudor, a servir-se de um anticristo que derrotasse o PT. Pensando com Pareto, outro elitista italiano, houve então, naquele contexto, circulação das elites. Por meio eleitoral, mas também viabilizado por outras vias institucionais e em nome de uma improvável estabilidade social ultraliberal com salvaguarda militar, o baixo clero ascendeu ao governo, com o apoio do alto clero.
Os fatos políticos de 2015 para cá, ou seja, desde a presidência de Câmara dos Deputados por Eduardo Cunha, parecem cada vez mais confirmar a avaliação elitista de que a democracia é uma fantasia. Essa ideia é uma declaração sincera de autoconfiança e arrogância oligárquicas. Porém, uma fantasia cuja atual relação entre custo e benefício está se tornando ineficiente para as classes dominantes, como já ocorreu outrora no Brasil, quando preferiram o autoritarismo explícito. Em todo o caso, embora vista como ineficiente e como ameaçadora, a democracia ainda tem valor na cultura política, a despeito dos que pedem intervenção militar, que chegam a usar argumentos da democracia direta para defender sua ditadura. Daí que, diante da crise da legitimação democrática da dominação neoliberal no Brasil, a tábua de salvação do conservadorismo pró-mercado e pró-Estado mínimo implicou em abonar um padrão de legitimação organicamente contraditório.
Nesse sentido, dois novos ingredientes políticos surgiram, de meados do governo Dilma 1 para cá, reequacionando a estruturação do Estado, aqui compreendido tridimensionalmente, como relação social alicerçada institucionalmente em um bloco no poder, como regime político e como decisor de políticas públicas. Quanto ao último aspecto, sabemos que, desde Temer-Meirelles, o conteúdo neoliberal das decisões do governo federal foi fortemente retomado.
Os novos ingredientes compõem uma dupla face da moeda, que conforma uma investida política bifronte. Por um lado, a política de massas das direitas, ineditamente mobilizadas nas ruas e nas redes sociais, processo que remonta às manifestações de 2013, cujo desenrolar acabou por beneficiar a vertente neofascista, vitoriosa em 2018 com o “mito”, ator oportuno e oportunista, disposto a derrotar, a qualquer custo, o PT, eleito, então, como inimigo público número 1 de um amplo leque de forças, sob hegemonia das finanças. Por outro lado, também é novo o dispositivo de violência judiciária (populismo penal) e armamentista (lícita e ilícita), contra esse mesmo inimigo, como se uma virtual ditadura se entranhasse ocultamente na estrutura formal do Estado Democrático de Direito.
No caso do armamento lícito, além da matança corriqueira de pretos e pobres, ressurgiu, sobretudo, mas não só, a tutela das Forças Armadas, a violência das ameaças da cúpula militar da ativa e da reserva sobre os poderes constituídos, como ocorreu em 2018, na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula pelo STF, que havia sido excluído do pleito por uma condenação anulada em abril desse ano. Sobre a violência política ilícita, já mencionei as milícias, a intimidação, a imposição do medo, um cabedal de ações, umas sutis e quase invisíveis, outras com inevitável visibilidade pública, como o assassinato político de Marielle e Anderson, até agora não devidamente esclarecido.
Essa equação entre a política de massas da extrema-direita e a violência ilegítima, entre outros ingredientes, como o anti-intelectualismo, delineia o neofascismo, que vem deteriorando o Estado da Lei e a democracia enquanto um contrato social amparado no princípio da igualdade política. Embora não haja um regime fascista, a situação é tão crítica que o principal teórico moderno do absolutismo vem à mente.
A conexão entre a política de massas da extrema-direita e a violência predisposta à ilegitimidade deu à luz, de uma só vez, a dois monstros antitéticos: o Leviatã e o estado de natureza. A realidade questiona Hobbes. O pacto social que funda o Estado brasileiro desde o golpe de 2016, mas que maturou com Bolsonaro, gera o pior dos mundos. Por um lado, o Leviatã implícito no atual governo de militares não traz paz e nem reduz as ameaças à vida. Muito pelo contrário. A CPI da Pandemia esclareceu o quanto a vida foi desprezada. Os mortos superam os 616 mil. Não precisava ter sido assim.
O relatório final de Renan Calheiros sugeriu o indiciamento de Bolsonaro em nove crimes, entre eles, o crime de pandemia resultando em morte, o crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Isso é gravíssimo! Afora os crimes de seus ministros militares e civis, de seus três filhos com cargos políticos etc, totalizando 66 pessoas com pedidos de indiciamento. Por outro lado, o estado de natureza prossegue, inclusive alimentado pelo soberano, que instiga a guerra de todos contra todos, por exemplo, ao defender o armamento como meio de superação da violência, ao argumentar que bandido bom é bandido morto etc. Sabemos que o pacto arquitetado por Hobbes é de submissão, mas ele admite uma única exceção de desobediência do súbito, precisamente quando o soberano não lhe protege a própria vida. Por que obedecer a um soberano que, embora não deva nada aos súditos, não cumpre sequer o papel básico de lhes proteger a vida?
Prosseguindo nessa metáfora do contrato, trata-se, em primeiro lugar, de um arremedo de pacto, por não ter sido indubitavelmente instituído entre iguais. Se a deposição presidencial de 2016 não bastou para convencer os relutantes, o que dizer das eleições de 2018 após as decisões do STF, em abril e junho desse ano, que anularam os processos contra Lula e declararam a suspeição de Moro? Além disso, o pacto em questão resulta em um Estado cuja autoridade é estrategicamente ambivalente, fugidia, perversa, uma autoridade simultaneamente movida por valores ditatoriais confessáveis e inconfessáveis.
Nesse aspecto, para o absolutismo hobbesiano, não há problema, pois o soberano não está sujeito a nada. Ocorre que o regime constitucional é a democracia. Assim, com Bolsonaro, o Estado brasileiro virtualmente assenta-se em forças ideológicas e armadas não legítimas, por não estarem lastreadas nos valores democráticos. Relembremos o que sabemos: os bolsonaristas abertamente pediram para fechar o Congresso e o STF e a volta do AI-5. Os militares tentam alimentar a confusão institucional quando evocam o polêmico Art. 142 da Constituição de 1988. A balbúrdia chegou a tal ponto que uma liminar do ministro Luiz Fux, expedida em 2020, precisou confirmar que não há dispositivo legal que autorize a intervenção das Forças Armadas em nenhum dos Três Poderes.
As reações do STF e mesmo dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal às ameaças autoritárias de Bolsonaro, culminando na diminuição dos ataques do presidente às instituições, após o 7 de setembro, implicaram em um recuo parcial da frente de ação assumidamente violenta das ofensivas neofascistas. Mas a guerra ideológica de manipulação das massas contra o marxismo cultural ou o gramscismo prossegue.
Volto aqui a Le Bon. Vários autores já argumentaram que o bolsonarismo, semelhantemente ao trumpismo, ensejou que a voz narcísica dos ressentidos, sobretudo de membros dos estratos sociais conservadores das camadas médias, repercutisse no espaço público. Até então isolados e atomizados, constituíram-se em massas nas lutas de classe dos últimos anos e projetaram seu clamor por reconhecimento no líder de inclinação neofascista. A popularidade de Bolsonaro tem caído, o que parece também impactar no chamado bolsonarismo raiz, que, segundo Reginaldo Prandi, agrupava, em julho de 2020, 15% dos eleitores, e 12% em agosto último.
Mas sabemos que é importante levar em conta o conteúdo aguerrido dessa massa, que fornece legitimação autoritária para as barbáries de seu líder carismático. Nesse sentido, a política de massas está posta no Brasil atual e não há nada que indique que não vá se expressar nas eleições de 2022, pelo contrário, pois o presidente quer se reeleger. A disputa das massas está colocada. O principal desafio é enquadrar o fanatismo bolsonarista no pacto democrático. A dúvida é sobre como fazer isso.
A polarização não veio da esquerda, veio dos ricos e das camadas médias que, desde 2013 – passando pelas eleições de 2014, pelos acontecimentos de 2015 e 2016, que resultaram no golpe da deposição presidencial, pelas eleições de 2018 e pelas manifestações desde 2019 até 7 de setembro último –, partiram para cima do PT e de Lula. Qual será o melhor caminho para o candidato favorito nas pesquisas enfrentar, nas eleições de 2022, a crise do bolsonarismo, crise que lhe tira popularidade e fragmenta as direitas, mas que não destrói o núcleo duro de sua facção extremada? Uma campanha eleitoral de massa, que não aposte nas depreciativas ilusões que Le Bon atribui ao psiquismo da multidão, mas na esperança, no sonho, na vontade de superar esse interregno histórico sombrio, enfim, uma campanha que mobilize a militância e o eleitorado em torno de um projeto coletivo de reconstrução da democracia e do país não seria uma hipótese a ser devidamente considerada por uma liderança política que apreende as massas como fator de construção, e não de destruição? Em 2002, a esperança venceu o medo. Sim, não estamos em 2002.
*Marcus Ianoni é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Publicado originalmente na revista Teoria e debate.