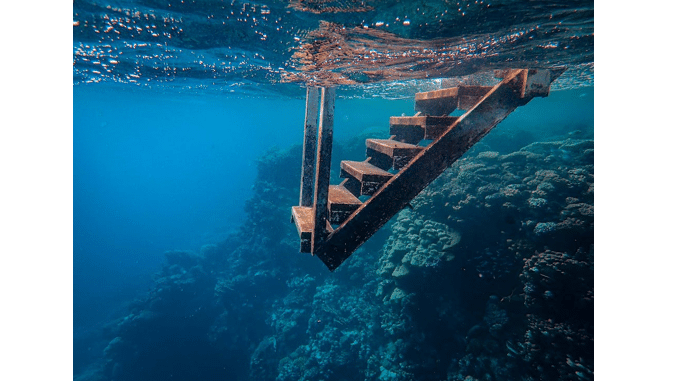Por MARCO AURÉLIO GARCIA*
Um balanço, feito no calor da hora, dos dois mandatos do PSDB na presidência da República
Quando passar a faixa presidencial para seu sucessor, o professor Fernando Henrique Cardoso terá sido o presidente que mais tempo ficou no governo da República, à exceção de Getúlio Vargas. Dez anos menos do que Getúlio talvez não tenham sido suficientes para FHC pôr fim à “era Vargas” e construir um projeto alternativo para o país.
Os meses que antecedem o fim de um mandato presidencial são marcados não só pelo café requentado servido ao mandatário – segundo a lenda – como pela tentação de realizar antecipadamente balanços da gestão que se encerra. A tarefa não é fácil. As análises pecam por estarem demasiado próximas dos acontecimentos e das paixões que as sucessões presidenciais suscitam, sobretudo quando o presidente que sai tem candidato próprio, como é o caso atual.
Apesar de haver recuperado parte de seu prestígio em relação a pesquisas de opinião anteriores, Fernando Henrique dificilmente chegará ao fim de seu mandato com altos índices de aceitação popular. Mesmo que seu candidato vença, isso não representaria a sua consagração, pois José Serra tem se diferenciado da atual administração, sobretudo em questões da política econômica. O lema “continuidade sem continuísmo” ilustra a relação ambígua que mantém com o governo.
Em 1960, o festejado Juscelino Kubitschek não fez seu sucessor, talvez por estar demasiadamente preocupado em reeleger-se em 1965. Mas JK deixou herança. Não só – nem tanto – a construção de Brasília como, sobretudo, a abertura de um novo ciclo de industrialização que provocou crescimento significativo da economia e mudanças na sociedade. O Brasil viveu à época um período relativamente tranquilo do ponto de vista político e foi cenário de efervescência cultural ímpar.
É certo que, ao final do seu mandato, começaram a avolumar-se sinais premonitórios do que viria a ser a crise dos anos 1960/1964, que desembocou no golpe militar. Desnudavam-se contradições do modelo de desenvolvimento vigente e revelavam-se novos ou renovados movimentos sociais que propunham questões candentes para repensar o futuro do país.
Fernando Henrique não terá condições de exibir obra tangível como a de JK. Talvez por essa razão tenha celebrado uma “revolução silenciosa” em curso, cujo eixo seria o programa de estabilização dos preços iniciado em 1994. Mas, independentemente dos humores que a sucessão presidencial provoque nos mercados, essa herança está questionada. A vulnerabilidade externa da economia permanecerá, ou se agravará, até que sejam feitas mudanças de fundo no atual modelo.
“O homem que acabou com a inflação, acabará com o desemprego”, prometia a propaganda eleitoral de FHC em 1998. O desemprego aumentou. Os métodos de combate adotados para lograr a estabilidade determinaram a formação de volumosa dívida pública, mergulhando o país na incerteza. Para atingir suas “metas de inflação”, invariavelmente não cumpridas, o governo cortou gastos, restringiu investimentos, aumentou impostos e manteve juros elevadíssimos.
Essas medidas já não têm hoje sequer a capacidade de atrair capitais estrangeiros especulativos para tapar os buracos do balanço de pagamentos, nem tranquilizar os meios financeiros internacionais. Com isso, agravou-se nossa vulnerabilidade externa.
A recessão, ou o pífio crescimento decorrente dessa política, aumentou o desemprego. Decaiu a participação dos salários na renda nacional. Aprofundou-se a crise social e, na sua esteira, cresceu a insegurança da sociedade. A “revolução silenciosa” arrisca tornar-se inaudível, imperceptível para a sociedade brasileira. FHC talvez confie que o futuro lhe reservará julgamento favorável no país e que no plano internacional ele poderá ter um reconhecimento mais imediato, decorrência de suas performances no exercício da “diplomacia presidencial”.
O que se pode chamar latu sensu de “era Vargas” abrange um vasto período histórico que vai dos anos 1930 até sua crise nos 1980, quando o Brasil exibiu excepcionais taxas de crescimento, beneficiando-se do encadeamento de três conjunturas internacionais bem aproveitadas. Getúlio chegou à Presidência em 1930 investido de amplos poderes. O país e o mundo viviam os efeitos da crise de 1929. O Brasil, diferentemente de alguns de seus vizinhos, tirou proveito da crise mundial. Voltou-se para dentro e criou condições institucionais e materiais para o início da industrialização substitutiva de importações.
A Segunda Guerra e o período posterior ao conflito – os “trinta anos gloriosos” – favoreceram, com pequenas interrupções, a continuidade e expansão do ciclo de crescimento, como se viu sobretudo no período JK.
No Brasil, passado o breve intervalo dos primeiros anos que se seguiram ao golpe de 1964, a tendência de expansão econômica manteve-se, impulsionada no plano internacional pela disponibilidade de capitais, consecutiva às crises do petróleo dos anos 1970, a despeito dos constrangimentos que essa mesma crise havia criado para a economia mundial. Os impasses políticos do governo militar, que coincidem com o esgotamento do seu modelo econômico, tiveram como moldura o início do fim do ciclo expansivo do pós-guerra no mundo, a crise do Welfare State e os primeiros ajustes neoliberais a partir da experiência de Margaret Thatcher na Inglaterra. A tudo isso veio somar-se o colapso do socialismo estatal na URSS e nos países do Leste europeu, que produziu mudanças na cultura política do fim de século XX.
Em relação aos demais países da América Latina, o ajuste de inspiração neoliberal chegou tardiamente ao Brasil. Não se legitimou plenamente durante o breve período Collor de Mello, patinou no interregno Itamar Franco e, finalmente, se fez na dupla Presidência de Fernando Henrique. A resistência popular e as reticências do empresariado nos anos 1980 contribuíram em muito para que esse atraso ocorresse.
É oportuno observar, no entanto, que quando FHC chegou à presidência, aplicando tardiamente o ideário do Consenso de Washington, já apareciam no mundo as primeiras fissuras na proposta neoliberal. Basta lembrar o desencadeamento, dias antes do início do governo FHC, da crise mexicana cujas consequências (o “efeito tequila”) se fariam sentir fortemente aqui.
A opção de FHC pelo conservadorismo econômico, já contida em seu programa de governo, não pode ser explicada apenas como expressão de um realismo diante dos constrangimentos internacionais e/ou nacionais. Ela parece refletir um pensamento mais profundo.
O mundo vive um “novo Renascimento”, proclamou o presidente. O Brasil, acreditava FHC, como acreditara antes Collor, ainda que com menos visão estratégica, poderia tirar proveito do contexto internacional para garantir inserção competitiva na economia globalizada. Teria apenas de “fazer o dever de casa”, especialmente aquele codificado pelo FMI. O ajuste devolver-lhe-ia a credibilidade, contribuindo para atrair capitais produtivos e especulativos, permitindo seu modelo funcionar.
O “dever de casa” brasileiro, como antes dele o argentino, não foi capaz de tirar o país da zona de vulnerabilidade. Ao contrário, aumentou sua instabilidade e dependência externa. Haver chegado, após tantos anos de sacrifícios para lograr a estabilidade, a uma situação de vulnerabilidade econômica como a atual explica em grande medida a frustração que a sociedade vive hoje e o crescimento da oposição.
Collor frustrou os milhões que haviam sido seduzidos por suas propostas de “levar o Brasil ao primeiro mundo” e desmoralizou outros tantos que, por conservadorismo, nele votaram para impedir a eleição de Lula.
Na sucessão de 1994, Fernando Henrique pôde beneficiar-se não somente dos êxitos do Plano Real, como de sua própria biografia. Quando Jorge Amado – eleitor de FHC – afirmou que era um privilégio poder escolher entre dois candidatos como Fernando Henrique e Lula, ele estava expressando um sentimento de parte das classes médias ilustradas. Esse sentimento refletia não só a incompreensão de que FHC se havia transformado na grande alternativa da direita brasileira e internacional. Ele expressava igualmente a ilusão de que o ex-professor cassado, mesmo aliado com a direita clientelista, cevada na ditadura que o perseguira, seria capaz de realizar a sonhada (e imprecisa) modernização que o fim do regime militar colocara na ordem do dia.
A conversão de amplos setores das classes médias, e mesmo populares, às teses liberais não decorreu somente de uma bem urdida propaganda, reforçada pelo colapso do socialismo lá fora. Ela refletia igualmente o esgotamento do nacional-desenvolvimentismo aqui. A crise da “década perdida” havia acentuado as distorções do Estado brasileiro e posto mais em evidência as desigualdades sociais.
Fernando Henrique, no seu ataque ao estatismo e ao nacionalismo, fez a crítica da era Vargas pela direita, no entanto. Minimizou o fato de que a presença do Estado na economia no Brasil não decorreu de um pacto, como na Europa, mas serviu para preservar os interesses das elites econômicas e políticas que acabariam por o eleger. Não disse tampouco que o nacionalismo servira fundamentalmente para ocultar o caráter excludente do desenvolvimento brasileiro e para combater os conflitos sociais daí resultantes.
A exclusão social aparece em seu discurso como mera anomalia. “O Brasil não é um país subdesenvolvido, mas injusto”, sentencia o presidente. Ora é exatamente o tipo de crescimento que o país teve (o “subdesenvolvimento”) que deu origem à desigualdade, à injustiça. Logo ele é injusto em razão desse (sub)desenvolvimento.
Diferentemente da Europa, no Brasil não havia uma crise do Welfare State. Nunca o havíamos experimentado. Na Europa, a crise do Estado Providência – a grande obra da social-democracia – provocou nesta um terremoto político-ideológico que inclinou grande parte de seus dirigentes para uma opção liberal-conservadora. No Brasil não havia uma social-democracia. O PSDB só se encontrou com o ideário social-democrata no dia da agonia deste.
A única diretriz que o governo acabou por seguir sem hesitações foi a de lograr a qualquer preço a estabilidade, na esperança de que o mercado se encarregasse de sentar as bases para um novo ciclo (e tipo) de desenvolvimento. Os quatro primeiros anos do governo, dominados pela sobrevalorização cambial, provocaram um ilusório sentimento de bem-estar social e, com isso, garantiram a aprovação da emenda que autorizava a reeleição e, posteriormente, o segundo mandato.
Para evitar que o ataque especulativo contra o real, de agosto/setembro de 1998, derrubasse a candidatura de FHC, o governo não vacilou em despender 40 bilhões de dólares de reservas cambiais. A desvalorização foi postergada e o presidente foi reeleito.
Tardia, a desvalorização de janeiro de 1999 não produziu os efeitos que poderia ter provocado se houvesse sido adotada antes. O sistema produtivo fora duramente golpeado pela abertura comercial, os juros altos e o câmbio sobrevalorizado. Recuperar posições perdidas no comércio mundial é tarefa árdua. Com a deterioração das contas externas, a balança comercial tornou-se problema crítico. O crescimento da dívida pública acabou por exigir superávits primários elevados, inibiu os investimentos, sobretudo os sociais, e colocou o país no limiar da recessão.
Malan, o candidato dos sonhos de FHC para sua sucessão, foi inflexível, contribuindo para que o ciclo vicioso da economia fosse acentuado. Aí começa o declínio do governo. Nos quatro primeiros anos, animados pelo êxito do populismo cambial, o governo pôde desqualificar seus críticos com relativa tranquilidade, na medida que estes apareciam como vozes isoladas, supostamente brigando com os fatos. Quando o encanto do modelo acabou, no entanto, o poder de resposta do governo restringiu-se.
Já antes dessa conjuntura, setores do próprio PSDB advertiam para as consequências que teriam para a biografia de FHC a aceitação sem restrições da hipoteca liberal. Quando, de seu leito de morte, Sérgio Motta pede a FHC que “não se apequene”, ele está advertindo que o fundamentalismo da política econômica ameaça o projeto de 20 anos de poder que o próprio ex-ministro havia anunciado.
O governo aparece então como sempre fora, mas que as circunstâncias (e as esperanças nele depositadas) impediam de ver. Um governo de uma só jogada – e ela mesma problemática, pois não evitava a fragilidade externa –, incapaz de enfrentar o problema do crescimento e de dar as respostas necessárias às cruciais desigualdades resultantes da concentração de renda.
Um governante de tal forma tributário da “racionalidade econômica” imposta pelos mercados é um contrassenso político. Para que presidente, se não há alternativas em matéria de política econômica? O chefe do governo passa a ser uma espécie de mestre de cerimônias do poder, que apenas vocaliza um script produzido alhures. Mesmo essa função ele não chega a cumprir bem, salvo na esfera internacional. O presidente não mobiliza a sociedade, talvez porque não tenha mais como explicar convincentemente para onde o país vai.
O governo perde a batalha de ideias, o que vem agravar o déficit de hegemonia que a ausência de política cultural e o abandono da universidade durante oito anos já havia revelado.
Sem crescimento, após 20 anos de marasmo econômico, torna-se impossível enfrentar o grave desafio social, a não ser por medidas compensatórias ou políticas tópicas que não modificam o problema crucial da concentração de renda. Sem reformas estruturais e diante dos percalços do modelo econômico, a tendência da base de sustentação do governo foi de esfacelar-se, como ilustram as crises com o PFL e parte do PMDB, para não citar as dificuldades que a candidatura Serra encontrou inicialmente no PSDB.
O compromisso histórico conservador estabelecido por FHC, sob pretexto de que era necessária forte dose de realismo para conduzir o país – longe dos extremismos – a um novo patamar, transformou-se em uma vulgar negociação de varejo político.
A incapacidade de implantar as reformas tributária, previdenciária e política são emblemáticas desse apequenamento da agenda nacional. São questões de dimensão estratégica e que só poderiam ser equacionadas com amplitude de visão, ainda que o governo dispusesse teoricamente de votos para implementá-las.
A reforma tributária envolve um amplo reequilíbrio de interesses sociais e regionais para enfrentar os conflitos distributivos e a readequação do pacto federativo. Nada foi feito. Falaram mais alto as exigências imediatistas de “fazer caixa” do Tesouro para permitir que um modelo inviável e imposto desde fora pudesse funcionar (até quando?).
A reforma previdenciária, central na agenda neoliberal, era deslegitimada desde o início. Apesar das distorções do sistema atual, os problemas centrais da Previdência se localizam nas medíocres performances da economia que condenam o sistema à anemia atual. Uma reforma como essa supõe ampla negociação social, difícil de ser conduzida por um governo que pouco tinha a oferecer às classes subalternas.
Finalmente, a reforma política chocava-se com as forças que haviam conduzido FHC à Presidência – integrantes do compromisso histórico conservador – e que não estavam dispostas a perder posições.
Alguns intelectuais tucanos tentaram apresentar as renúncias de Antonio Carlos Magalhães ou Jader Barbalho ou a defenestração da candidatura de Roseana Sarney como sinais de “crise das oligarquias” e indícios de um processo de “modernização” política do país. Falso. São apenas episódios menores, lutas intestinas no bloco de sustentação do governo. Quando os interesses nada modernos dessa gente foram ameaçados, como por exemplo nos pedidos de CPI para investigar a corrupção, o bloco se manteve unido.
As incertezas sobre os rumos da economia mundial e sobre a extensão e profundidade da crise do capitalismo, aliadas à inflexão que a eleição de Bush provocou na política dos EUA, sobretudo posteriormente ao 11 de setembro, desfazem as ilusões de FHC sobre o novo Renascimento em escala mundial.
O Brasil que o sucessor de Fernando Henrique Cardoso encontrará tem contornos imprecisos e incertos. Será um país difícil de ser governado pela fragilidade de sua economia, sobretudo por sua vulnerabilidade externa. O contencioso social e as expectativas que normalmente as eleições provocam criarão uma avalanche de demandas represadas e que o estado em que se encontra o país tornará difícil atender, pelo menos em curto e médio prazos.
A sabedoria dos novos governantes, sobretudo se Lula vencer, estará em sinalizar o novo rumo para onde o país se encaminhará, mostrar com clareza as dificuldades existentes e particularmente definir os instrumentos, os atores e os métodos que vão presidir a transição para um novo Brasil.
O realismo que se imporá aos novos governantes não pode frustrar a esperança, menos ainda conduzir à paralisia e à mesmice.
Se Lula suceder FHC, a política será restabelecida em toda sua integridade. Os constrangimentos objetivos, sobretudo aqueles herdados do governo anterior, não serão desconhecidos ou desconsiderados, mas o exercício continuado da mobilização e da negociação políticas recolocarão a vontade como fator de mudança histórica.
*Marco Aurélio Garcia (1941-2017) foi professor no Departamento de História da Unicamp e assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais nos governos de Lula e Dilma. Autor, entre outros livros, de Construir o amanhã: reflexões sobre a esquerda (1983-2017) (Fundação Perseu Abramo).
Publicado originalmente na revista Teoria e Debate no. 51, jun/jul/ago. de 2002.