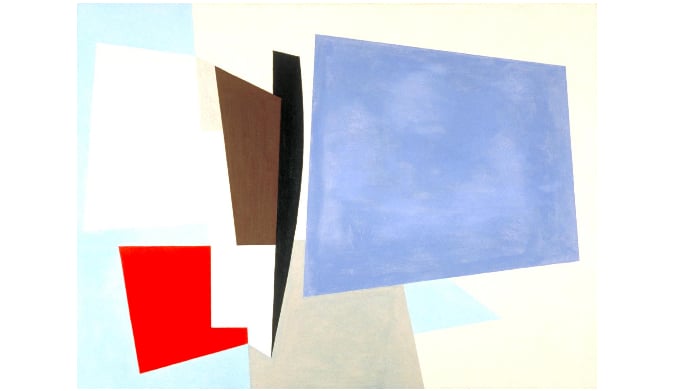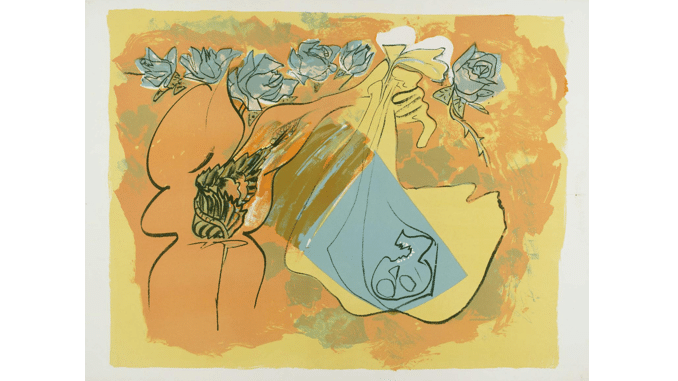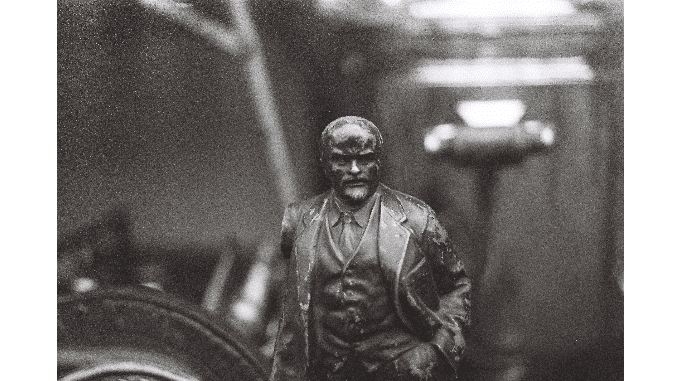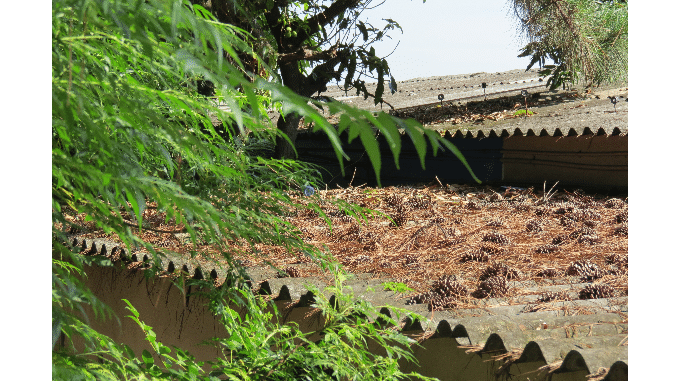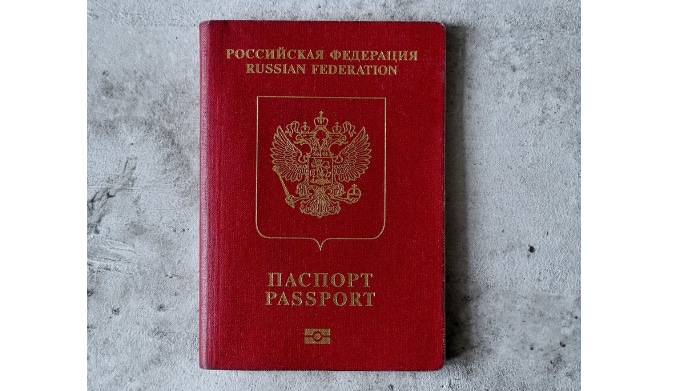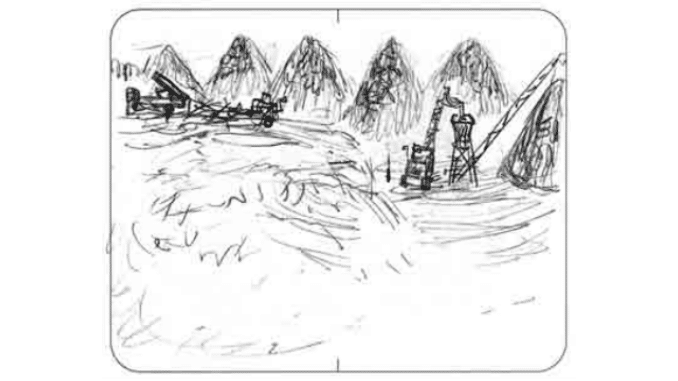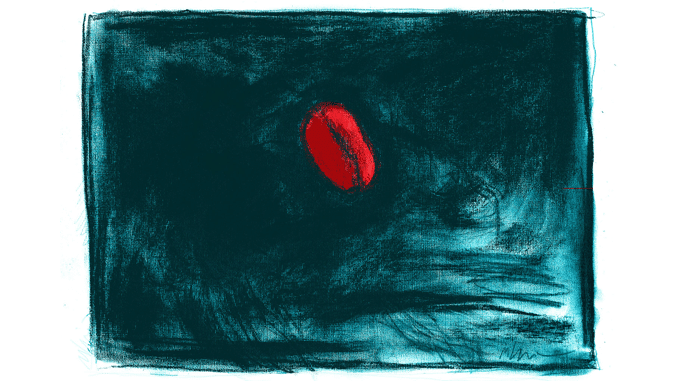Por SALEM NASSER*
A revolta talvez canse também, mas dessa eu não me separo. Não saberei esquecer, nem saberei perdoar
Uma amiga, enquanto debatíamos a mostra “Lágrimas da Terra”, lembrou de ter encontrado, quando trabalhava com o acolhimento de refugiados, o conceito de “fadiga da compaixão”. A expressão é perfeita para nomear o que tantos de nós sentimos nos dias que correm.
Quantos de nós têm dito que evitam o contato com as notícias sobre Gaza, especialmente aquelas que nos contam das crianças que morreram, as que perderam os pais, as que lutam pela vida nos hospitais destruídos? Dizemos que já não podemos lidar com as imagens e as histórias; que não poderíamos funcionar ou responder às demandas da vida normal se continuássemos a prestar atenção; que já não aguentamos tanto sentir…
É isso a fadiga da compaixão. Precisamos de algum modo nos fazermos frios. Sabemos que a tragédia continua inteira e que durará; sabemos que somos impotentes em alguma medida; não queremos acreditar que nós, os animais humanos, os civilizados, somos capazes de assim massacrar os inocentes e/ou de calarmos enquanto os inocentes são massacrados.
Eu também, já não quero escrever sobre a Palestina e suas crianças se o meu texto não tiver o poder e o efeito de despertar o mundo. Se eu não encontrar as palavras justas para mostrar em sua inteireza o drama, as palavras que preenchessem cada consciência com o peso das imagens cruas, nuas, da nossa vergonha, então de que serve escrever?
Essas palavras, esse discurso, existem? Serão o instrumento de uma única pena, ou de algumas poucas penas? Justamente, a resposta é não, e isso faz parte do que tenho chamado de cegueira seletiva.
Quem decide o que deve nos preocupar?
Há muito eu percebi a existência de um mecanismo na cobertura midiática de alguns temas internacionais, e percebi um efeito do modo como o mecanismo funciona.
Mas, antes mesmo do mecanismo a que me refiro, cabe levantar um tema importante: quem define e como é definida a pauta de notícias que nos chegam todos os dias? Quem nos diz que um determinado conflito deve aparecer no jornal e ocupar uma ou duas páginas, se deve receber destaque nas manchetes, e quem nos diz que outro conflito não deve ou precisa ser mencionado? Quem escolhe as imagens que veremos?…
Poderemos voltar às possíveis respostas a essas perguntas no futuro. Ofereço apenas uma pista mais genérica: aqui no Brasil, será visto como importante aquilo que nos Estados Unidos for visto como importante.
Já o mecanismo a que me referia, funciona mais ou menos assim, e uso um exemplo para ficar mais claro: por um tempo, não há como não cobrir uma guerra no Oriente Médio, especialmente se envolve Israel; o viés tenderá a ser no sentido de reproduzir os argumentos e a narrativa de Israel e/ou dos Estados Unidos e do Ocidente.
A intensidade da cobertura e o viés prevalente operam dois efeitos desejados, vendem notícias e reforçam as narrativas oficiais; em algum momento, se a realidade se insurge e chega ao público contrariando a narrativa dominante, é preciso mostrar um pouco mais do “outro lado” para preservar alguma credibilidade; e, finalmente, chega o momento em que a notícia para de vender, talvez se instale a fadiga da compaixão ou, por mais que os eventos ainda em curso sejam importantes, talvez vitais, já não há novidade que atraia o consumidor médio de informação.
Morre a notícia e ela some dos jornais e das TVs. Mas, depois de um tempo, semanas, meses ou mesmo anos, algo se dá naquela guerra que nunca terminou ou arrefeceu, algo novo que faz com que ela volte à superfície e ocupe as pautas. O efeito disso, para a maior parte, é a impressão de que enquanto nada era noticiado nada estava de fato acontecendo; a impressão de que a história tem sempre um novo começo, fresco. Ou seja, não se entende nada do que interessaria saber. A cada rodada, naturaliza-se as representações que nos são oferecidas por aquelas parcelas de cobertura.
Só vemos o que alguém indeterminado quer que vejamos e entendemos as coisas como nos dizem que elas são…
Eles morreram com fome!
Ontem, enquanto eu tentava desviar minha atenção das imagens que me chegam sem parar de Gaza, enquanto eu tentava não cruzar o olhar daquelas crianças, um olhar sem vida para muitas, um olhar assustado, assombrado, para tantas outras, um olhar furioso, traído, para as demais, enquanto eu evitava tudo isso, de repente, uma frase me capturou e eu já não pude escapar.
Falava-se de uma mãe que perdeu todos os filhos, que dormiam, num único ataque israelense; em estado de choque, ela perguntava: “onde estão as crianças? onde estão as crianças? morreram sem terem comido nada! morreram com fome!”.
Um pecado montado em pecado. A mãe chora, como nós deveríamos chorar, a morte dos filhos, e chora a fome que eles sentiram antes de morrer. A compaixão pode cansar; se não deveria ser assim, não sei.
A revolta talvez canse também, mas dessa eu não me separo. Não saberei esquecer, nem saberei perdoar.
*Salem Nasser é professor da Faculdade de Direito da FGV-SP. Autor de, entre outros livros, de Direito global: normas e suas relações (Alamedina). [https://amzn.to/3s3s64E]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA