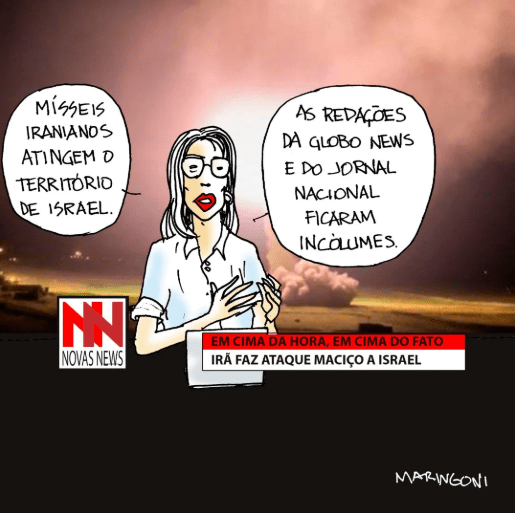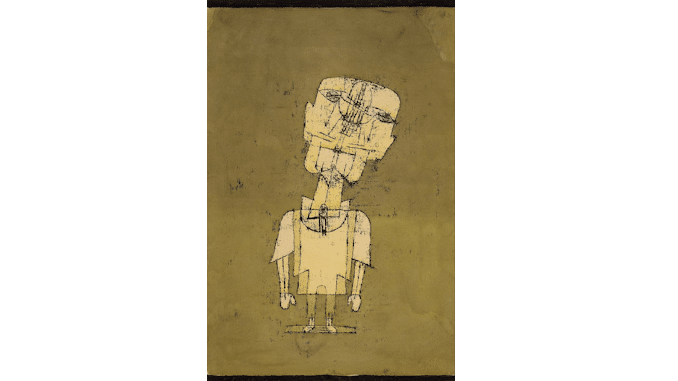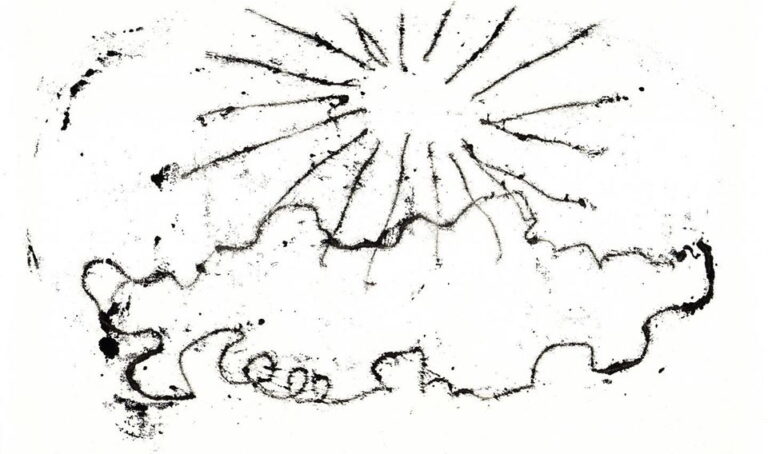Por LUCAS FIASCHETTI ESTEVEZ*
Comentário sobre o livro recém-lançado de Pedro Alexandre Sanches
“Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo: perigoso, divino, maravilhoso” (Torquato Neto. Os últimos dias de Paupéria).
O livro do jornalista e crítico musical Pedro Alexandre Sanches inaugura a “Coleção Álbum: A história da música brasileira por seus discos” da Editora Sesc São Paulo, que contará ao todo com quatro volumes. Segundo os organizadores, a coleção se propõe a construir um mostruário robusto de nossa música, desde os primeiros álbuns que surgiram com a invenção do disco de longa duração (long playing) até o ocaso dessa mídia com o surgimento dos CDs e a subsequente hegemonização do mercado pelas mídias digitais, que dispensam o suporte físico do disco.
Cobrindo a produção musical dos anos 1950 até hoje, a coleção busca, a partir de uma criteriosa seleção cronológica de álbuns fundamentais dos mais variados gêneros musicais, lançar luz tanto sobre os clássicos incontornáveis como também sobre álbuns injustamente esquecidos, numa tarefa que Sanches definiu como um “garimpo de diamantes”. Ainda segundo o autor, o formato “álbum” foi tomado como um “fragmento da história cultural do país” na medida em que registra uma “coleção de recordações, de impressões sobre a vida e o mundo”, eternizando em seu material um “instante fugidio”. Em sua “fina escritura ondulada”, poderíamos afirmar como os discos nos oferecem “fotografias acústicas”[i] que captam certos momentos e os perenizam, transformando-os em nossa herança cultural constantemente revivida.
Através da curadoria de Sanches, a obra felizmente não compartilha de algumas tendências observadas em livros do gênero, que por vezes tentam, sem sucesso, realizar um inventário completo das obras e artistas de determinado período numa espécie de coleção de centenas de discos dispostos em sequência. Quando isso ocorre, pouca ou nenhuma atenção é dada às particularidades de cada um, fazendo com que a análise permaneça no nível da superficialidade estatística. Ao assumir uma postura distinta, de caráter arqueológico, a obra recém-lançada se revela mais próxima de um “álbum de álbuns” que prima pela qualidade da seleção, não pelo empilhamento de informações desconexas. Tal como na figura do banquete com o qual Gilberto Gil se referia à tropicália, temos aqui um tratamento do objeto que reconhece a cultura “como um processo extensivo, e não centralizado. Como um processo radiante, e não aglutinante”.[ii] Neste primeiro volume, contamos com uma seleção que cobre desde os primeiros anos da história dos LPs no país até as profundas transformações que se sucederam no início dos anos 1970. O livro também traz as capas originais e a lista completa das faixas de cada disco, informações que hoje nem sempre são fáceis de serem encontradas. Cada álbum é seguido dos comentários de Sanches. Neles, o autor destrincha as obras principalmente através da análise e interpretação das letras de suas canções. Além disso, faz um esforço em ressaltara origem geográfica e socioeconômica dos músicos, tal como tece considerações sobre os diferentes movimentos musicais da época. Por fim, também traz informações relevantes sobre o lugar dos álbuns nas trajetórias dos próprios músicos, o que contribui para encarar as obras enquanto momentos particulares que não podem ser tomados como representantes de toda uma carreira.
Entretanto, o modus operandi de Sanches por vezes também prejudica o leitor a entender os porquês da importância dos álbuns selecionados. O autor dá pouquíssima relevância ao material musical das canções, criando uma espécie de lacuna difícil de ser contornada para a apreciação do significado estético das obras. Com isso, não afirmo que o autor “deveria” ter priorizado tais questões em sua análise, já que o foco do livro e o público ao qual se destina não condizem com uma abordagem musicológica e técnica. Entretanto, considerações mais detidas, mesmo que gerais e num bem-vindo linguajar simplificado, ajudariam em muito o texto a alcançar seus objetivos. Ao ignorar o tratamento da dimensão da melodia, do ritmo e da harmonia, quase todo juízo de valor fica restrito à análise das letras e do posicionamento dos compositores e intérpretes. Além disso, um problema secundário salta aos olhos quando o autor restringe a pouquíssimas linhas suas tentativas de correlacionar obras específicas com o contexto político, social e cultural de seu tempo. Tais questões são abordadas aquém do necessário, tendo em vista a importância da dimensão externa para a compreensão do material musical interno de cada uma das obras, que perante a externalidade do mundo sempre respondem de algum modo – seja de forma reacionária, revolucionária ou sob a fórmula da modernização conservadora, tão própria de nossas terras.
A chegada do LP no Brasil
O recorte escolhido na coleção acompanha as transformações sofridas na indústria fonográfica e na produção musical dos artistas com a ascensão do LP nos anos 1950. Entretanto, a pré-história do disco fonográfico no Brasil começa bastante antes. Em 1902, temos registros da chegada do primeiro disco no país. Dez anos depois, a primeira prensagem ocorre em território nacional, a qual iria inaugurar a era da música gravada.[iii] Até a década de 1950, o mercado seria então dominado pelos compactos, discos de pequena duração que só permitiam uma ou duas faixa sem cada um de seus lados. Esse formato reinaria absoluto através dos singles de artistas como Carmem Miranda, Pixinguinha, Orlando Silva, entre outros.
O primeiro disco de longa duração a ser produzido em território nacional foi o álbum Native Brazilian Music (1942). Entretanto, este não circulou no país até o final da década de 1980, o que revela muito sobre o mercado fonográfico do período. O novo formato só foi se estabelecer na década seguinte, com Carnaval em ‘Long Playing’ (1951), uma coletânea de marchinhas de carnaval. Nesses anos iniciais, entretanto, o disco teve que conviver com a hegemonia ainda exercida pelos compactos, tendo em vista a longa tradição que tinham no país. Além disso, ainda não havia um mercado consumidor capaz de absorver tais mudanças, tampouco existiam toca-discos adaptados ao LP. Nos anos seguintes, grandes empresas como a Sinter e a Odeon entraram no mercado nacional, fomentando esse novo nicho fonográfico. Na segunda metade da década, com o desenvolvimento dos LPs de 12 polegadas, o aparecimento de toca-discos portáteis mais acessíveis e o surgimento de um novo público consumidor – os jovens -, a nova tecnologia finalmente foi se consolidando como o principal veículo – além do rádio, é claro – de disseminação da música brasileira.
As mudanças tecnológicas que resultaram no aparecimento do LP também causaram uma profunda mudança na lógica artística e composicional que regia a produção. Agora, os artistas tinham diante de si a tarefa de produzir uma quantidade maior de músicas a serem lançadas conjuntamente, diferentemente dos antigos hits avulsos do período anterior. Assim, tornava-se necessário estabelecer entre as diferentes faixas dos álbuns alguma lógica interna, mesmo que mínima, que lhe garantisse unidade e coesão. Segundo Sanches, “os bolachões” agora teriam que contar histórias próprias, numa longa narrativa musical com começo, meio e fim.
Primeiros álbuns, coletâneas e versões
Nos primeiros anos da década de 1950, entretanto, os artistas tiveram dificuldade em se adaptar ao novo formato, o que fica bem demonstrado no primeiro capítulo do livro. Segundo Sanches, os primeiros LPs ainda reproduziam o antigo modelo dos singles, tendo em vista que a maioria deles se resumia a compilações de sucessos lançados originalmente nos compactos. Além disso, abundavam “versões rememorativas de clássicos” do samba e de demais estilos. Essa difícil transição da velha guarda ao LP é exemplificada por Noel Rosa (1951), de Aracy de Almeida e A história do Nordeste na voz de Luiz Gonzaga (1955), do rei do baião. Mesmo ligados ao modelo antigo, esses discos operaram mudanças significativas no mercado fonográfico, na medida em que tais regravações e interpretações iam aos poucos se afastando do samba mais tradicional, imprimindo às suas faixas um toque de modernidade.
No contexto de um país que se industrializava e se urbanizava como nunca, é importante notar como a modernização do mercado musical e de sua tecnologia também contribuiu para a pulverização da antiga hegemonia do samba, que agora era atravessado pelo surgimento de novos estilos e sonoridades, próprias de um país que contava com milhões de migrantes em trânsito pelo seu território. Surgido em um momento em que a chamada música tradicional passa a dar lugar à “música urbana de origem popular”, nos termos de José Ramos Tinhorão, a indústria do disco enfrentava ao mesmo tempo não só os desafios do atraso tecnológico do país, como também a avalanche da música internacional.
No encontro entre as diversas tendências modernizantes e tradicionalistas que perpassavam a música brasileira, os álbuns desse período inicial conviviam com a herança múltipla da longa história do samba e do raiar da bossa nova. Segundo Sanches, um exemplar de tal convergência é Noturno (1957), de Elizeth Cardoso – o primeiro disco a se aproximar do conceito de álbum musical. Sanches o toma como um “símbolo da modernização nacional no âmbito da música”, tendo em vista que traçava as linhas iniciais de uma nova estética, ao mesmo tempo em que dialogava criticamente com a tradição. Trazendo tanto versões de sambas consagrados como composições de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, o álbum mostra sua potência no lugar ambíguo que ocupava entre aquelas tendências, com “um pé lá e outro cá”.
A bossa nova e a jovem guarda
De acordo com Sanches, o real estabelecimento do formato do álbum só se concretizou com o emblemático Chega de Saudade (1959), de João Gilberto – o que lhe permite afirmar que a bossa nova foi o primeiro gênero musical do país a incorporar por completo (ao mesmo tempo em que foi a mola propulsora) a nova mídia. Através da estética musical bossa-novista, o trabalho dos artistas na virada da década passou a ser predisposto pela duração de tempo que o disco era capaz de reproduzir, num claro exemplo de como a transformação da técnica impõe alterações profundas na prática artística – nesse caso, abrindo novas possibilidades então inéditas em nossa história musical. Levando ao limite aquela ambiguidade presente em Noturno, a bossa nova faria das contradições entre tradição e modernidade o material construtivo de sua linguagem musical. Embora entoando uma voz tímida, João Gilberto encarnaria o barulhento porta-voz de uma forma absolutamente original de interpretação.
Relendo o samba e propondo mudanças que transcendiam a própria música brasileira, a partir da conhecida influência exercida pelo jazz, a bossa nova se equilibrava entre a pura inovação e a tradição retrabalhada. Essa revolução, indelevelmente ligada às classes médias de perfil intelectualizado e com pouca inserção nas demais camadas sociais, coube como uma luva no novo formato do LP, que encontrava seu nicho de mercado justamente em tais camadas – o que explica, em partes, porque a bossa nova foi tão importante para a consolidação do disco como “obra”.
Demais produções do período também flertavam com essa nova linguagem, embora adicionassem a ela novas camadas que ora eram mais receptivas às influências do rock, como Se acaso você chegasse – A bossa negra (1960), de Elza Soares, ora eram mais ligadas ao samba tradicional, como Mais bossa com Os Cariocas (1963), do grupo vocal homônimo. Frente a miríade de mudanças desse período, Sanches não se esquece de discos produzidos em outras regiões do país, que refletiam uma música que percorria caminhos para além da bossa nova. Exemplos dela são os discos Jackson do Pandeiro (1959), do artista homônimo e O gaúcho coração do Rio Verde (1960), de Teixeirinha. Embora revelassem, a sua maneira, um Brasil “forrado de polos positivos e negativos mutuamente atraentes”, tais artistas são até hoje rotulados de forma marginalizante como representantes de uma música tradicional e/ou regional.
Entretanto, a bossa nova não foi a única a contribuir para o estabelecimento do LP no país. Como contraponto, Sanches nos apresenta Estúpido Cupido (1959), de Celly Campello. Diferentemente da relação mediada e construtiva da bossa nova com as influências estrangeiras, a música de Campello assumia a postura de “cópia deslavada” de tudo que vinha dos rocks “românticos e adocicados”. Tomado como um índice da pré-história da jovem guarda, o álbum da artista é descrito como “sem substância” – uma característica que seria encontrada também em Louco por você (1961), de Roberto Carlos. Em um dos momentos frágeis de sua argumentação, quando tece adjetivações sem justificá-las, Sanches define o disco como “esdrúxulo” e de pouca coerência musical. Mesmo assim, acerta ao ressaltar que embora circulassem sob o novo formato, tais álbuns pouco absorveram aquela ideia unitária de obra coerente e que persegue certo conceito, preferindo reproduzir, de forma empobrecida, uma “baladização do rock´nroll norte-americano”[iv]. Em sua mesmice, a “salada de ritmos” do nascente iê-iê-iê já trazia consigo não só uma postura consciente em não propor nada de novo ou minimamente brasileiro, como já continha sinais do conservadorismo que encarnaria.
Este primeiro período analisado por Sanches se encerra com Samba esquema novo (1963), de Jorge Ben Jor. Para o autor, o disco exemplifica bem o encontro da inovação bossa-novista com a atualização do samba, na medida em que reformula numa miscelânea inédita influências distintas, que vão do samba ao soul, inaugurando assim um gênero propriamente híbrido que prenuncia a próxima revolução a ser vivida no país – aquela da tropicália. Às vésperas da outra “revolução” que seria infligida no país no ano seguinte, Sanches nota como 1963 representou “o auge inventivo” da produção musical nacional, com importantes lançamentos de Tom Jobim, Baden Powell, Elizeth Cardoso e Wilson Simonal.
Dissidências bossa-novistas e a invenção da MPB
É justamente ao longo dos anos 1960 que a própria concepção de “música popular” sofre sua maior transformação, resultado de um processo de corrosão que vinha ocorrendo desde o final dos anos 1940. Naquele começo de século, falar de música popular era tratar de uma música folclórica, de traços atribuídos como “autênticos” e “originais”. Entretanto, com a disseminação do rádio e dos discos ao longo das décadas seguintes, a produção musical massificada impôs um novo significado ao termo “música popular brasileira”, cada vez mais ligada à música consumida pelas classes urbanas e veiculada nos diferentes canais de mídia.[v] Assim, a despeito da reinvenção constante dos estilos mais antigos de música do país, como os sambas-canções, o sertanejo e demais gêneros pré-rádio, a bossa nova e suas dissidências inaugurariam a chamada “moderna música popular brasileira”, alçada ao sucesso com a disseminação de novos ritmos e estilos ao longo dos conturbados anos 1960.
Ao tratar dos anos intermediários dessa década, Sanches ressalta as diferentes dissidências que surgiram no projeto bossa-novista, enfatizando que muitas delas compartilhavam ou de um resgate das estruturas formais do samba tradicional, ou se debruçavam sobre uma estética pretensamente mais límpida, ligada a uma linguagem musical menos complexa recheada de crítica social, a chamada “canção de protesto”. Dentre os representantes da primeira tendência de superação da bossa nova, destacam-se Nara (1964), de Nara Leão e Maria Bethânia (1965), da artista homônima – que embora nunca tenha pertencido à bossa carioca – dialogava com ela de forma crítica. O caso de Nara, essa sim identificada anteriormente com aquela música, é emblemático. Para Sanches, esse álbum se desprendeu parcialmente dos ideais bossa-novistas ao satirizar “o elitismo formal e a frivolidade temática” daquela música, resgatando tanto a atenção para questões sociais como empreendendo uma “operação-resgate” de sambas tradicionais. Por meio dessa constelação de “dissidências”, Sanches vai delineando o deslocamento de novas sonoridades que iriam desembocar na “invenção tropicalista”, que recombinaria mais uma vez, porém sob nova figura, aspectos negativos e positivos da cultura brasileira pós-golpe militar.
Embora tais dissidências ganhassem corpo, a própria bossa nova se reinventava, seja por meio de novas temáticas em suas letras, seja por uma redefinição de seu material musical. São emblemáticos desse momento os afro-sambas de Baden e Vinícius, que figuram em Baden Powell à vontade (1964) e em Os afro-sambas de Baden e Vinícius (1966). Ao mesmo tempo em que se aproximava do universo afro-brasileiro, a bossa (já não tão nova) também desenvolveu seu lado jazzístico, como em Coisas (1965), de Moacir Santos e em Quarteto Novo (1967), grupo que contava com Hermeto Paschoal entre seus integrantes. Para Sanches, esses últimos eram a expressão de uma vertente “mais ácida da bossa nova”, exemplificados naquela particular combinação hermetiana entre a liberdade arrojada do free jazz e os“arranjos incendiários” de temas nordestinos. Única na fusão de estilos musicais originalmente incomunicáveis, essa música teria desenvolvimentos bastante importantes, como Natural Feelings (1970), de Airto Moreira e Hermeto (1970).
Uma vertente mais próxima dos gêneros da música negra norte-americana e de sua combinação com ritmos nacionais foi representada nesse período pela pilantragem de Wilson Simonal e demais artistas, que passaram a produzir um som “pop-jazzístico” extremamente inventivo, como em Vou Deixar Cair… (1966), de Simonal. Anos mais tarde, essa tendência teria seu próprio disco manifesto, Pilantrália (1970), de Carlos Imperial e ‘A Turma da Pesada’. Para Sanches, a pilantragem seria fundamental para o tropicalismo, na medida em que este tomaria para si o “modelo proto-black power” do movimento, “antropofagizando-o para convertê-lo em tropicália”.
A reinvenção da linguagem musical também encontrava um terreno fértil nas zonas de intersecção entre a música, o cinema e o teatro, como revela o álbum de Sérgio Ricardo, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), que trazia a trilha sonora do filme homônimo de Glauber Rocha, além de Arena conta Zumbi (1965), uma produção coletiva da trilha de uma peça encenada no Teatro de Arena de São Paulo. Em ambos os casos, Sanches identifica uma produção cada vez mais engajada politicamente e distante do espírito bossa-novista.
Expressões de um período de forte efervescência cultural da esquerda, o autor dá eco ao que demonstrou Roberto Schwarz em seu clássico Cultura e política, 1964-1968: alguns esquemas, na medida em que ressalta como esses dois álbuns podem ser tomados como indícios de uma cultura que se constituía como uma resposta politicamente ativa à tragédia institucional e social que se instalava no país, este que enfim “se tornava irreconhecivelmente inteligente” numa era onde “era outra camada geológica do país quem tinha a palavra”.[vi] Tais obras também revelavam aquela busca por uma linguagem híbrida, que dialogasse com a tradição a superando, ao mesmo tempo em que dotava a música de um papel comunicativo e informativo, a “des-elitizando”. Ao longo da década de 1960, Sanches também aponta para a constante, porém tímida, renovação do samba, como aquela sua nova expressão paulista representada por Trem das 11 (1964), no qual os Demônios da Garoa interpretam Adoniran Barbosa. Além disso, destacam-se Clementina de Jesus (1966), álbum de estreia da já veterana cantora carioca e Gente da Antiga (1968), de Pixinguinha, Clementina e João da Baiana, álbum que transita entre o choro, o lundu afro-brasileiro e demais gêneros.
Paralelamente, foram garimpados entre os esquecidos do período os álbuns Os reis do pagode (1965), de Tião Carreiro a Pardinho, autodenominados representantes de uma música cabocla e caipira, e Deny & Dino (1967), da dupla homônima, representantes da “pior face da jovem-guarda”. Trespassado por um tom marcial, o disco é um exemplo explícito daqueles que abraçaram o golpe militar e povoaram suas músicas com o tom ufanista que conclamava a construção de um “novo” país. Anos mais tarde, o rock rural também daria sua contribuição a essa modernização-conservadora, como em Rock Bravo chegou para matar (1970), de Léo Canhoto e Robertinho e em Os Incríveis (1970), álbum da banda homônima que recolhia os restos da herança conformista deixada pela jovem guarda.
O tropicalismo e a canção de protesto
Ao adentrar no final dos anos 1960, Sanches transforma em ponto nevrálgico de sua argumentação o incontornável Tropicália ou Panis et circenses (1968), álbum coletivo que representou o manifesto do tropicalismo. Para o autor, o disco inaugurou esse novo movimento da música brasileira na medida que revelou numa nova formulação a velha dualidade entre o arcaico e o moderno, numa fatura artística na qual “as partes ruins do Brasil são despriorizadas para produzir novos sentidos e sensações”. O álbum suscitou o lançamento de diversos outros que compartilhavam de seus princípios, o que foi interrompido com a decretação do AI-5 e o consequente exílio de parte de seus representantes, mais notadamente Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Um dos filhos indiretos do álbum-manifesto tropicalista é Jorge Ben(1969). Segundo o autor, esse álbum representou uma continuidade daquela tendência hibrida da obra de Ben Jor. Entretanto, agora o músico aglutinava de forma distinta novos gêneros, como a jovem guarda, a tropicália e a pilantragem, constituindo uma obra que resulta ela própria num “manifesto de brejeirice samba-rock”. Por outro lado, a tropicália também se aproximaria da linguagem do rock psicodélico, numa faceta mais irônica e politicamente menos engajada, como em Mutantes (1969), da banda homônima. Entre os esquecidos do período, destacam-se o álbum tropicalista Tom Zé (1970), o contestatório Edu canta Zumbi (1968), de Edu Lobo e Eis o ‘Ôme’ (1969), de Noriel Vilela, representante de uma nova expressão do “black power brasileiro”.
Por fim, Sanches habilmente mostra como até a jovem guarda do período foi influenciada pela tropicália, como em Ronnie Von (1969), que embora bastante frágil do ponto de vista temático, vai além naquele romantismo “desbragado” de Roberto Carlos, dando corpo a letras e harmonias mais ousadas. Surfando em outras praias, a tropicália também convergiria à pilantragem em A Banda Tropicalista de Duprat (1968), de Rogério Duprat, um disco marcado por uma radical liberdade no tratamento musical, onde no limite “tudo é permitido”. Nestes pontos, evidencia-se uma das qualidades do livro, a saber, o reconhecimento da porosidade entre os diferentes gêneros da música brasileira. Assim, Sanches salienta a plasticidade na produção de tais músicos, que ao longo de suas carreiras experimentaram diversos “ismos”, influenciando os demais e por eles sendo influenciados.
Entretanto, a análise de Sanches a respeito do tropicalismo também revela um dos pontos fracos de sua obra. Embora não fosse necessário fazer com que tal dimensão ocupasse um lugar central, o autor pouco se preocupa em realizar uma caracterização, mesmo que mínima, do tipo de ruptura feita pela tropicália frente à tradição, do mesmo modo que não se atém aquela espécie de “continuidade em novos termos” que ali poderia ser encontrada. Embora faça menções numerosas ao contexto político da época, tais momentos aparecem como “complementos” que não acrescentam muito ao cerne da análise. Assim, a relação do tropicalismo com a “miséria brasileira” e com os ecos da “contrarrevolução de 1964”, nos termos de Schwarz, não fica evidenciada.
Além disso, Sanches não dá ênfase às questões estritamente musicais do tropicalismo, fundamentais para qualificar aquela ruptura anteriormente citada. O tipo de relação dos tropicalistas frente à música estrangeira e o uso de novos instrumentos, por exemplo, fica escamoteado – ponto que, se fosse explorado, o ajudaria a traçar as diferenças dessa postura com aquela de subserviência da jovem guarda.
Mesmo assim, é importante notar que Sanches não concorda com aquele diagnóstico negativo atribuído ao tropicalismo tornado célebre por Tinhorão, que o condenava na medida em que o “movimento” teria trazido influências estranhas ao material musical nacional e, assim, feito a alienação novamente reinar “sob o império do rock”.[vii] Dessa forma, escapa de discussões a respeito da “decadência da música popular brasileira comercial” que não o levariam a outro lugar senão aquele do preciosismo potencialmente reacionário pela dimensão do “autêntico”. Como bem argumenta Celso Favaretto em seu consagrado Tropicália, alegoria, alegria, o tropicalismo partiu de uma fratura, a saber, de uma operação de passagem de um estado a outro, por meio de um “rito antropofágico de referências vindas da tradição e do estrangeiro”. Em vez de copiar o que o rock e as guitarras elétricas ofereciam, os tropicalistas souberam reconhecer que as coisas estavam fora do lugar e, para isso, precisavam ser mediadas, tornando possível assim um “incessante movimento de devoração que recusa ancorar-se em significados já fixados”.[viii]
Ausente do livro, a discussão a respeito da significação história da tropicália também ajudaria o leitor a compreender o ineditismo que ela representou, já que inaugurou um tipo de música popular que congregava “um alto padrão estilístico” e sua disseminação pela “mídia de massa”.[ix] Nesses termos, o sucesso comercial era colocado num novo patamar – não era mais visto como necessariamente um entrave ou um rebaixamento da qualidade artística das obras, mas como uma condição do êxito da empreitada daquele grupo. Ao interiorizar o aspecto publicitário em sua produção numa nova tática cultural, o tropicalismo desmistificou as contradições próprias da prática artística brasileira, e o fez na medida em que conjugava “crítica social violenta” com um “comercialismo atirado”, sempre ocupando aquela linha tênue “entre a crítica e a integração”. Assim, o tropicalismo submeteu o arcaísmo à luz do ultramoderno, resultando na “alegoria” de país da qual fala Schwarz.[x]
Embora a situe como uma das principais vertentes da música brasileira nos anos de incerteza entre o golpe militar e o AI-5, o livro dá pouco espaço à chamada “música de protesto”. Entre os álbuns selecionados, o autor nos apresenta Canto Geral (1968), de Geraldo Vandré. Segundo Sanches, o disco representou um afastamento daquela estética bossa-novista e tropicalista, pois retomava um tradicionalismo da forma que priorizava o papel pedagógico das letras, de forte teor crítico e engajado, que agora eram endereçadas às massas com fortes propósitos políticos. Com a ênfase nas letras e em seu conteúdo, a canção de protesto significou um revigoramento de um traço marcante de toda a tradição musical brasileira, a saber, a proeminência da letra na construção formal da música – afinal, não podemos esquecer que boa parte de nossa história musical é a própria história da canção.
Embora exagere ao chamar o disco de Vandré de “antitropicalista”, Sanches tem razão quando marca as diferenças entre tais tendências musicais. Diferentemente dos tropicalistas, que investiam no caráter moderno de sua música principalmente em seus aspectos formais, relativos ao material musical, a música de protesto se colocava como vanguarda da crítica por meio exclusivamente de suas letras. Assim, a desconstrução da tradição estava limitada ao que era dito e enfatizado. No limite, a canção de protesto gerava um “efeito de consolação” sobre os destinos do país, esboçando aquela “folclorização do subdesenvolvimento” recusada por Caetano.[xi] Desde seu início, os músicos que se identificavam com o tropicalismo se afastariam daquele eu-lírico de Vandré que aparentemente detinha a verdade sobre o Brasil e sobre “o que fazer”. Como prática artística eminentemente moderna, coube aos tropicalistas dissolver o sujeito a fim de multiplicar suas vozes, produzindo uma sensação indefinida de “conjuntos plurissignificantes”.[xii]
O levante negro da MPB
Ao adentrar os anos 1970, Sanches prioriza os álbuns do chamado “black power brasileiro”, naquilo que ele encara como um desenvolvimento tardio e artisticamente mais elaborado da pilantrália de Simonal, que ainda dava suas caras em Simonal (1970) e Toni Tornado (1972). Ao unirem um ideal libertário de conteúdo racial e uma nova estética musical, essa nova faceta do levante negro da MPB encontraria seu principal representante no ‘Clube da Esquina’. Numa escolha que descentraliza os álbuns já muito conhecidos da banda, Sanches elenca o por vezes eclipsado Milton (1970), de Milton Nascimento e convidados. Diferentemente dos tropicalistas no exílio, Milton e seus colegas mineiros reinventaram a linguagem da tropicália ocupando aquele lugar deixado pela diáspora de seus principais representantes. De caráter coletivo, essa nova tendência contava com letras herméticas e um constitutivo hibridismo musical que admitia o novo para, logo em seguida, o reconfigurar.
Outra faceta desse momento pode ser acessada pelo disco Tim Maia (1970), que embora apelasse pouco para a militância negra em seu material, retrabalhava o lema “black is beautiful” em novos termos. Para Sanches, Tim Maia foi o grande responsável por radicalizar a influência do soul americano na música brasileira, ao mesmo tempo que “tropicalizava” e “pilantreava” as influências externas. Seguindo seu rastro, a linguagem do soul se aproximaria daquela do samba no esquecido Imagem e Som (1971), de Cassiano. Numa toada distinta, temos Elis Regina como representante de uma espécie de “soul music branca” com Em pleno Verão (1970) e Ela (1971). Num raro momento em que expõe suas preferências pessoais de forma explícita, Sanches a nomeia, junto com Tim, como os maiores cantores modernos do Brasil.
O samba-joia e a canção cafona
Na última parte do livro, Sanches elenca álbuns representativos da reformulação do samba e do pejorativamente chamado “samba-joia”, como Samba é de lei (1970), dos ‘Os Originais do Samba’ e Como dizia o poeta… (1971), de Vinícius de Moraes, Marília Medalha e Toquinho, descrito como uma coletânea de bossas com traços “morbo-românticos”. Em relação ao primeiro, o autor ressalta como foi peculiar dos primeiros anos dessa década uma releitura do samba por meio de ritmistas provenientes das escolas carnavalescas, os quais elaborariam ritmicamente o que ficaria conhecido como “sambão de partido alto”. Mesmo compartilhando da mesma tradição que as demais vertentes do samba, o samba-joia foi desde o princípio contraposto àquele samba tradicional, tido como a vertente mais sofisticada e pura dessa música, exemplificado por Clara Nunes (1971). Tratado como “popularesco”, o samba-joia acabou tendo o mesmo destino do brega e do cafona ao ser marginalizado na história da música.
Atento para esses estilos menos considerados pela crítica, mas não pelo público, Sanches joga luz sobre os álbuns Reginaldo Rossi (1971), o rei do brega, Assim sou eu (1972), de Odair José e Ele também precisa de carinho (1972), de Waldick Soreano. Nessa altura da obra, entretanto, nos deparamos com um apreço de Sanches por certa dimensão supostamente mais “intocada” e “pura” da música, naquela antiga acepção tradicionalista do que significaria “música popular”. Ao comentar a importância do cafona para qualquer historiografia musical, o autor afirma que, justamente por fazer imenso sucesso popular, deveríamos considerá-lo “a verdadeira música popular brasileira, muito mais que a batizada MPB”. Embora justifique sua posição como uma tentativa de “expor as vísceras de um preconceito secular”, Sanches brevemente recai em um lugar que repõe o debate a respeito de qual música é mais brasileira, mais original e, portanto, mais autêntica, num julgamento de valor estranho e desnecessário ao espírito de sua obra.
Além das inovações de Milton Nascimento e do renascimento do interesse pelo samba, Sanches aponta para uma nova fase do “tropicalismo”, exemplificada pelos álbuns Fa-Tal- Gal a Todo Vapor (1971), de Gal Costa e Quando o carnaval chegar (1972), trilha sonora do filme homônimo de Cacá Diegues, que conta com as atuações e interpretações de Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia. Sanches identifica como esses álbuns são representativos do vácuo deixado pela tropicália, pois ao mesmo tempo em que se alicerçavam naquela proposta, já transformada em tradição, precisavam continuar a buscar algo novo que não se prendesse ao contexto já anacrônico do final dos anos 1960. Por outro lado, e com isso Sanches encerra o primeiro volume da coleção, a influência do rock assumiria novos ares no começo da década de 1970. Já presente de diferentes formas na jovem guarda e na tropicália, seu vaso comunicante com nossa música seria elevado a um novo patamar com Raul Seixas e a ‘Sociedade da Grã-Ordem Kavernista’ em Sessão das 10 (1971).
Geleia geral brasileira
Álbum 1 – 1950 a 1972 apresenta um recorte bastante profícuo e valoroso de importantes álbuns de nossa história musical. Para o público em geral, o livro também fornece uma ótima oportunidade para se embrenhar nas diferentes vertentes, artistas e momentos da rica produção fonográfica nacional. Embora o livro garanta uma boa experiência de leitura, as ausências já notadas a respeito do material musical e do contexto histórico fazem bastante falta. Além disso, é digno de nota que um livro que trate dos “maiores álbuns” de nossa música opte por se abster quase que por completo de comentar a arte de capa das obras, aspecto que não pode ser ignorado tendo em vista a importância do design, da fotografia e das artes plásticas na produção de muitos dos álbuns. Além disso, Sanches por vezes abusa dos rótulos que atribui a certos álbuns “híbridos”, não esclarecendo o que quer dizer com “samba-rock”, “soul-samba”, ou pior, quando cunha o pouco explicativo “samba-rock-soul-funk de pilantragem”.
A despeito de tais problemas, a obra de Sanches alcança um qualificado estado da arte. Ao escapar daquele ímpeto “totalizante” das coletâneas musicais, o autor expõe os diferentes álbuns como uma constelação de fragmentos dignos de serem apreciados pelo lugar, função e significação que exerciam e ocupavam em seu contexto original. Embora estejam perfilados cronologicamente, o livro não situa os álbuns numa espécie de “evolução linear da música” de caráter unidimensional. Pelo contrário, Sanches o tempo todo ressalta como a música brasileira foi composta de tendências e contratendências que concomitantemente acessavam a tradição de inúmeras formas e davam um passo além na formulação de novas sonoridades. Por fim, o livro contribui para desanuviarmos a persistente discussão a respeito da distinção entre alta e baixa cultura. Na mesma toada defendida por Antonio Candido quando trata da penetração da forma canção em todas as camadas sociais,[xiii] Sanches aborda a música popular brasileira como organicamente tributária da implosão dessa polarização. A canção popular, tomada como fruto acabado de nossa tradição, quebra tais barreiras e se constitui como um emaranhado de influências, públicos, tradições e apostas.
O segundo volume da coleção, ainda sem data de lançamento, irá abarcar o período entre 1972 e 1978, no qual, segundo Sanches, surgem os primeiros sinais “de um levante feminino” na MPB. Nesse próximo livro, também serão exploradas a “música hippie brasileira”, o “rock rural”, o “experimentalismo e o desbunde”, os “novos nordestinos” e demais vertentes do rock, do funk e do soul em nossas terras. Assim, de tomo em tomo, temos fortes indícios para acreditar que essa nova coleção irá disponibilizar um novo e revigorado “apanhado impressionista” da história da música brasileira. Enfim, como é dito no álbum manifesto da tropicália, somos apresentados pelo livro em questão àquela ‘geleia geral brasileira’, ao mesmo tempo ‘resplendente, cadente e fagueira’.
*Lucas Fiaschetti Estevez é doutorando em sociologia na Universidade de São Paulo (USP).
Referência
Pedro Alexandre Sanches. Álbum 1 – 1950 a 1972: saudade, bossa nova e as revoluções dos anos 1960. Coleção Álbum: a história da música brasileira por seus discos. São Paulo, Edições Sesc, 2021, livro digital, 310 págs.
Notas
[i] ADORNO, Theodor. A forma do disco. In: Escritos Musicales VI. Obra Completa, 19. Madri: Akal, 2014.
[ii] GIL, Gilberto. Fatos & Fotos, Gente, n.838, set. 1977.
[iii]SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A Canção no Tempo – 85 Anos de Músicas Brasileiras. Coleção Ouvido Musical. São Paulo, Editora 34, 1998.
[iv]TINHORÃO, José Ramos. História social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998; p.335.
[v]BURNETT, Henry. Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil: ensaios de filosofia e música. São Paulo: Editora Unifesp, 2011; p.149.
[vi]SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964-1969: alguns esquemas. In: O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978; p.70.
[vii] TINHORÃO, José Ramos. História social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998; p.318.
[viii] FAVARETTO, Celso. Tropicália, alegoria, alegria. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2000; p.14.
[ix] BURNETT, Henry. Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil: ensaios de filosofia e música. São Paulo: Editora Unifesp, 2011; p.209.
[x] SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política, 1964-1969: alguns esquemas. In: O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978; p.74-75.
[xi] GONÇALVES, Marcos Augusto. Caetano Veloso desafia o Brasil com “Alegria, Alegria” e defende que “o mundo é de Bartman”. In: Caderno +mais!, Folha de São Paulo, 23 de Fevereiro de 1997.
[xii]FAVARETTO, Celso. Tropicália, alegoria, alegria. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2000; p.22.
[xiii] BURNETT, Henry. Nietzsche, Adorno e um pouquinho de Brasil: ensaios de filosofia e música. São Paulo: Editora Unifesp, 2011; p.162.