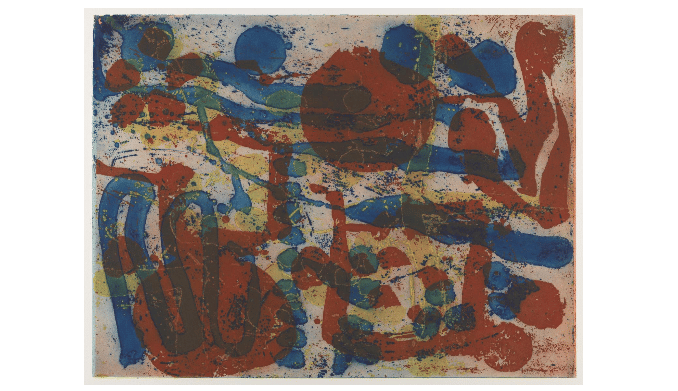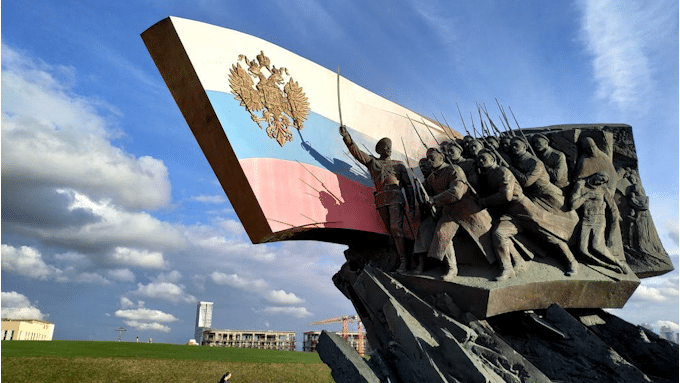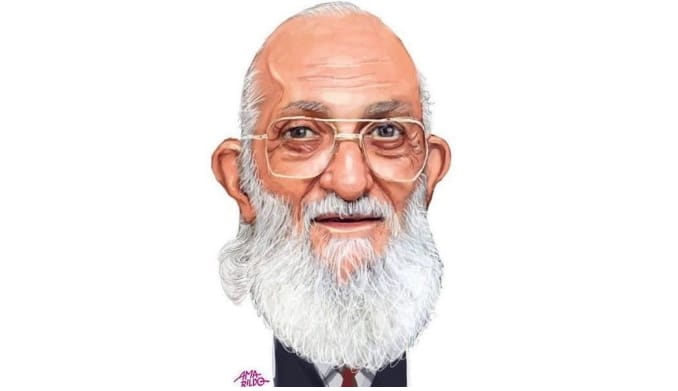Por LUIZ MARQUES*
A liberdade incrustada na visão pós-moderna absolutizou os direitos da liberdade individual, produzindo muito da violência banalizada que perpassa o fetichismo da mercadoria nas sociedades de consumo periféricas
Desde Thomas Hobbes, o filósofo político que escreveu Leviatã (1651), sabe-se que a modernidade optou por limitar a liberdade em nome da segurança para escapar ao “estado de natureza”, sem lei nem moral, e adentrar o “estado social” com rígidas e coercitivas regras de sociabilidade. Mais ordem social significou mais dessossego, observou Freud no ensaio O mal-estar na civilização (1930). A sociedade era então orientada pelo “princípio da realidade”, aponta Zygmunt Bauman em O mal-estar da pós-modernidade (1997), à diferença do período subsequente em que o “princípio do prazer” assumiu a preeminência no juízo da história. Um giro civilizacional de 180°.
Para o sociólogo polonês da universidade de Leeds, no Reino Unido: “A compulsão e a renúncia forçada (antes), em vez de exasperante necessidade, converteram-se na injustificada investida desfechada contra a liberdade individual (depois)… Nossa hora é a da desregulamentação” – palavra mágica para a mercantilização de tudo e “todes”. O conceito de desregulamentação econômica migrou para múltiplas dimensões do social e alcançou a relação dos indivíduos com as normas do Estado, agora à mercê da aceitação de cada individualidade. É a partir dos valores da liberdade individual, sobre o assoalho do laissez-faire manchesteriano, que a presunção do direito irrestrito ao prazer impulsiona as condutas de confronto com as balizas convencionais (as leis e a moral) que constroem os paradigmas de coletividade. Sem a âncora neoliberal, a pós-modernidade seria uma aborrecida metafísica à deriva em tempos sombrios.
Os pensadores pós-modernos criaram a moldura teórica faltante ao neoliberalismo, que reduzía-se aos dez mandamentos do Consenso de Washington. Transportaram o receituário do deus-mercado de Hayek e Mises, de início focado na economia e a seguir transformado na hegemônica “nova razão do mundo”, em uma teoria apta para abranger o trâmite neoliberalizante no contexto de uma Weltanschauug. Assim, uma fluidez líquida envolveu a utopia com o véu espesso da triste desesperança no futuro.
“O reclamo de prazer, outrora desacreditado e condenado como autodestrutivo”, substituiu o ascetismo (a primazia da poupança) da ética protestante nas origens do capitalismo, conforme o estudo clássico de Max Weber. O hedonismo (o investimento para satisfação pessoal) tomou o lugar da sobriedade de costumes. O corpo virou uma mercadoria de consumo, com prazo de validade. O espírito virou uma máquina de calcular a quantidade de gozo, junto ao objeto que identifica o bem, com o prazer dos sentidos e, o mal, com a dor. A busca hedonista seria o imperativo categórico hoje.
A famosa “mão invisível” do mercado achou uma curiosa ocupação, passados dois séculos: acenar para a rejeição de mediações institucionais para explorar os excessos. “A liberdade individual tornou-se o maior dos predicados na autocriação do universo humano. Os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de segurança por um quinhão de felicidade”, em síntese. Os critérios empresariais de desempenho e de rendimento assumiram a função de bússola para o usufruto imediatista da vida, em meio aos mares revoltos de óbitos, ódios disseminados e cancelamentos sumários.
A noção de liberdade incrustada na visão pós-moderna absolutizou os direitos da liberdade individual, até para a divulgação de fake news. “Espero que nenhum poder (alusão explícita ao Tribunal Superior Eleitoral / TSE) regulamente a Internet. A nossa liberdade acima de tudo”, esbraveja o miliciano entre as emas de Brasília, no afã de fazer do Instagram a terra de Marlboro. “A marca dessa administração é a mentira”, ironiza o líder das pesquisas de intenção de voto. Pudera. O You Tube puniu 233 vídeos mentirosos em 2021, sendo 34 só de Bolsonaro. Imagine-se a campanha.
A narrativa negacionista, que agrava a letalidade da Covid-19, tem suporte no axioma das subjetividades orgulhosas de si. O pressuposto: a inviolabilidade do corpo sem consentimento prévio. Argumento utilizado contra a obrigatoriedade da vacinação pelo liberal Ruy Barbosa, que esgrimiu o grave perigo de moléstias que adviriam da vacina (virar “jacaré” ou “comunista”, de acordo com o genocida no Planalto Central) para desautorizar o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Na doença pandêmica, ficou evidente o erro da concepção charlatanesca que abstraiu a salvaguarda dos direitos de terceiros e que menosprezou os protocolos recomendados pela OMS e a Fiocruz.
Para surpresa geral, cem anos de ciência adiante, profissionais das áreas biológicas ecoam a irresponsável asneira morticida, ocultando a motivação subterrânea para um anticientificismo duro. “A defesa da ideia abstrata e descontextualizada de liberdade não passa de retórica de Bolsonaro e seguidores. Não faltam docentes que, a pretexto das liberdades individuais, subordinam os conhecimentos científicos à ideologia neofascista e fazem pose de libertários”, denuncia Paulo Capel Narvai, indignado, em um oportuno artigo intitulado A Necroliberdade Bolsonarista publicado no site A Terra é Redonda.
O mote para o texto do professor de saúde pública foi a nota de desligamento da coordenadora do curso de graduação em Medicina da UnB, que se insurgiu contra a exigência da reitoria de um passaporte vacinal para circulação nas dependências da instituição. Tergiversação à parte, a decisão contrariou suas convicções ideológicas (o senso vulgar desgasta o termo, equiparando-o a uma idiossincrasia). Há fotos da douta nas redes sociais em manifestações de extrema-direita, com camiseta da CBF e pintura verde-amarela facial. Pena, porque “a ignorância nunca ajudou a quem quer que fosse”, para evocar a sentença de Karl Marx, pinçada da epígrafe de José Paulo Netto na biografia que dedicou-lhe. Nossa bandeira jamais será vermelha. Taoquei?
O episódio ilustra o fato de que a liberdade pós-moderna (neoliberal) deságua na liberdade bolsonarista (neofascista). O próprio Bauman, ao encerrar o best-seller mencionado, admite: “A sociedade liberal oferece com uma das mãos (a promessa incondicional de liberdade) o que retira com a outra (a liberdade individual, para ir e vir – sem máscara)”. Afinal, “o dever da liberdade sem os recursos que permitem uma escolha verdadeiramente livre é, para muitos (leia-se 99% da população), uma receita sem dignidade, preenchida, em vez disso, com a humilhação e a autodepreciação”. O destaque à liberdade, no caso, não enfrenta as iniquidades provocadas pela dinâmica de acumulação capitalista por receio das doutrinas igualitaristas. O medo paralisa.
Bauman ouve o galo cantar. Não atina sobre o que fazer ou desfazer. Reconhece “os comunitários, que se afligem com a falta de possibilidade de escolher na sociedade em que ser um indivíduo é equivalente a ser um livre selecionador, mas em que a liberdade de escolha prática é um privilégio”. A encruzilhada dramática “exigirá fazer algo para retificar a atual distribuição de recursos”. Não obstante, adverte: “Na engenharia social, o remédio proposto quiçá torne a enfermidade ainda mais grave… O comunitarismo (projeto calcado no ideal do bem comum) não é um remédio para as falhas inerentes do liberalismo” Trauma típico de quem viu de perto o stalinismo.
Esse é o desconforto causado pela leitura de obras sob égide intelectual da pós-modernidade. Descrevem a cultura neoliberal com vívido derrotismo, como se não houvesse saída possível para a dominação do “pensamento único”. Sem querer, reiteram a tese de Margaret Thatcher: There is no alternative (Não existe alternativa).
“Na política pós-moderna, a liberdade individual é o valor supremo e o padrão pelo qual todos os outros méritos e vícios da sociedade como um todo são medidos”, arremata le vieux penseur. Este dogma culturalista tem contribuído para a expansão do neofascismo. O hiperindividualismo narcísico, mais do que o elo do sentimento de “comunidade nacional”, embala o movimento bolsonarista que flerta com símbolos que remontam à Segunda Guerra, por força do hábito, e não pelos condicionamentos ativos no presente. Entende-se que recorra à liberdade individual – o álibi eleito para a perversidade – para legitimar os inúmeros crimes em série do brutal negacionismo.
A participação numa mobilização cidadã de desagravo acerca da violência racista e xenófoba que assassinou o jovem congolês Moïse Kabamgabe, de forma covarde, possui maior potencial de conscientização política que os insights arrolados pelo pós-modernismo sobre a marcha da cotidianidade no capitalismo. O psicanalista Tales Ab’Sáber, ao se debruçar sobre a questão da “ordem e violência”, chama a atenção para o emblemático lema da bandeira, onde “o peso autoritário e fantasmagórico da noção de ordem” antecede “o progresso, seja lá o que se conceba por tal, democracia ou integração social”. O desgoverno vigente anda com as muletas do ordenamento neofascista e neoliberal, como Bolsonaro e Moro, forjado na sujeição à potência estadunidense e na carência total de empatia com o sofrimento do povo brasileiro.
Tales Ab’Sáber desnuda a peculiaridade da Terra brasilis: “É provável que no Brasil tenha se constituído um verdadeiro campo político e psíquico, de uma ação pela ordem que não corresponda aos direitos universais, relativos à história do processo normativo e político ocidental”. Estaríamos aquém das leis e da moral, ao estilo das milícias que de arma em punho nos empurram de volta para o estado de natureza hobbesiano.
O tema da violência banalizada perpassa o fetichismo da mercadoria nas sociedades de consumo periféricas que são, igualmente, espaços dos sem-terra, sem-teto, dos que têm fome, dos precarizados, dos que desistiram de procurar um emprego formal e nem entram nas estatísticas de exclusão, de tão excluídos do sistema produtivo que estão. No entanto, a resiliência mantém a brasa sob as cinzas. Como nos versos do poeta negro Solano Trindade, estátua em Recife/PE: “Meus avós foram escravos / Olorum Ekê / Eu ainda escravo sou / Olorum Ekê / Os meus filhos não serão”.
Já apontado por Nelson Rodrigues, o “complexo de vira-lata” atávico perpetua a servidão. Atavismo que emerge na tecla de cronistas para revelar-se, em ato falho do jornalismo forjado por preconceitos, inclusive nas oportunidades em que pretendem levantar a autoestima do “povo de pequeno cérebro e grande coração” (sic, sic). Estereótipo herdado das elites do atraso sem responsabilidade republicana. Quem foi protagonista na formatação do antipetismo e acusou, pejorativamente, de “populistas” as políticas sociais, assistenciais e afirmativas nos governos progressistas (2003-2016), incensando os falsos heróis do entreguismo a soldo, não compreende a delícia e o orgulho do pertencimento à nação brasileira. A pertença é o nascedouro do que Lucien Goldmann denomina de “reformismo revolucionário” – o elã da vontade política, o barro da identidade de classe, a coragem para reinventar a sociedade.
A propósito, ver a esquete que circula na internet em que, sobre um pano de fundo amarelo, se lê em letras verdes: Desarme-se. A peça é alto-astral: “Desarme-se e vem com Lula refazer aquele país em que a gente sabe como ser feliz”. Sem orgulho, não é possível lutar e vencer, ensinaram as revoluções (China, Cuba, Vietnã, Nicarágua), mas também movimentos sociais contemporâneos a exemplo do MST e do MTST. É tempo de conversar com os arrependidos de boa-fé e ajudá-los a encontrar o rumo.
*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.