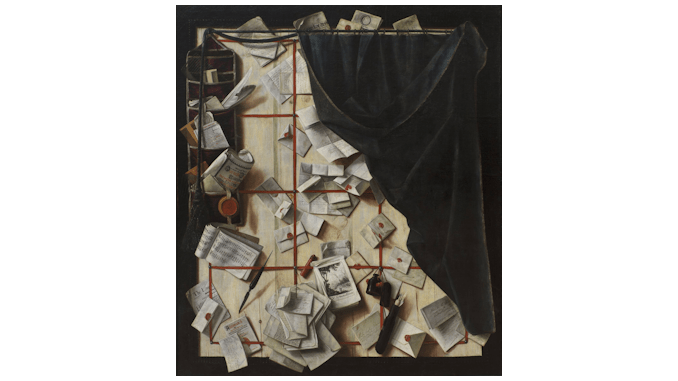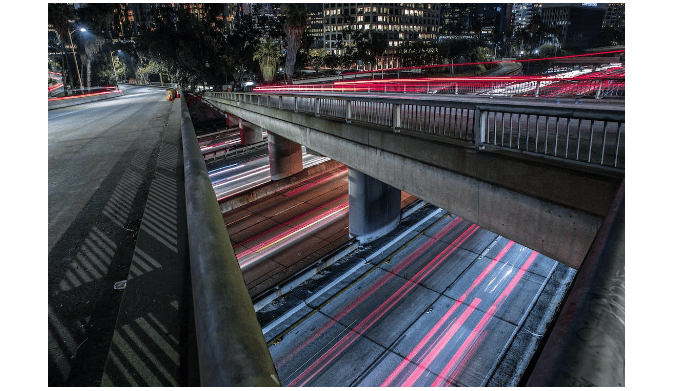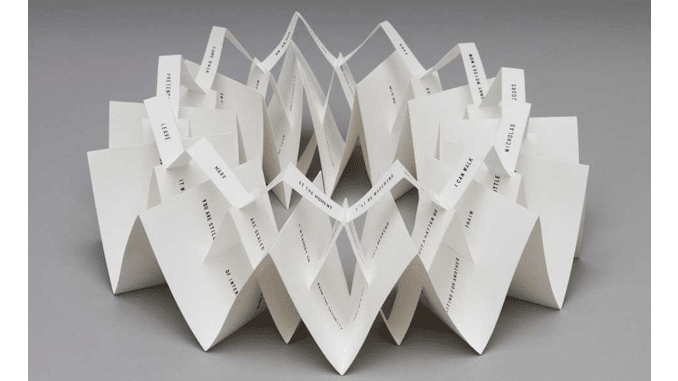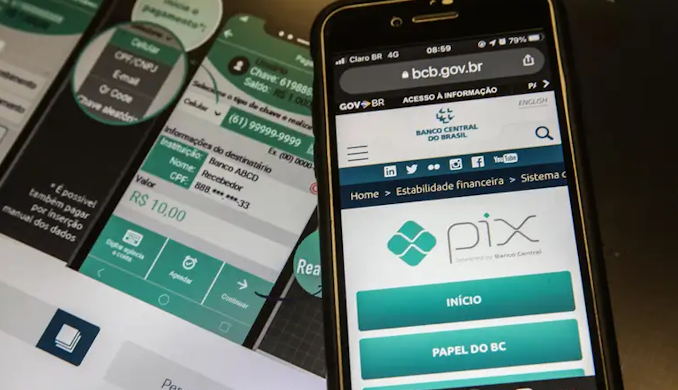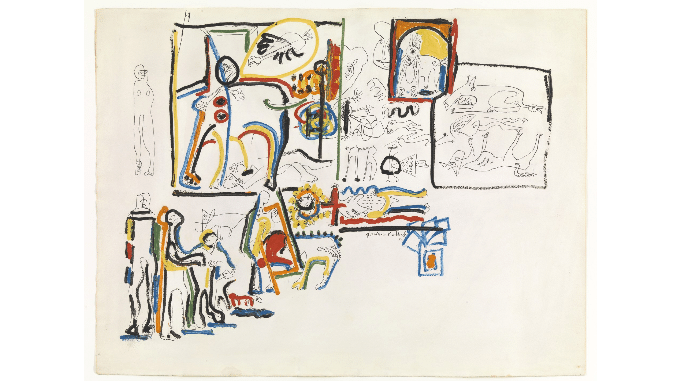Por HOMERO VIZEU ARAÚJO*
O herói burguês e negreiro na origem da ascensão do romance
A saga do aventureiro inglês que passa vinte e oito anos isolado em uma ilha desabitada deixou de ser o enredo de um romance do século XVIII para se tornar uma espécie de mito da cultura ocidental, na avaliação de Ian Watt. Vale lembrar que dentre as personagens analisadas no livro Mitos do Individualismo Moderno: Fausto, Dom Quixote, Dom Juan, Robinson Crusoe, de Ian Watt, o único mito que emerge do século XVIII é Robinson Crusoé, os demais provém dos séculos XVI e XVII, o que não deixa de ser um sinal da força do apelo do personagem de Daniel Defoe.
Meu interesse aqui é menos discutir, no romance Robinson Crusoé, caracterização do personagem, andamento da prosa, etc., e mais avaliar episódios que pouco interessaram à maioria dos comentaristas, inclusive ao talvez mais célebre dentre eles, Jean Jacques Rousseau. O meu foco vai para os momentos anteriores e posteriores às aventuras e desventuras na tal ilha deserta, isto é, a proposta aqui é avaliar de onde Robinson sai para sua malfadada viagem e o que lhe ocorre depois de ser resgatado.
Uma perspectiva marginal, ou melhor, periférica para abordar o clássico tantas vezes referido, o que permite reivindicar uma ligeira supremacia aqui, afinal trata-se da estreia do Brasil entre os clássicos do romance ocidental. Ou teremos um romance anterior a 1719 em que figure a Bahia de Todos os Santos na condição de centro açucareiro escravista?
Por sinal, não se reivindica aqui maior originalidade em registrar um triunfo precoce do romance realista europeu, que nos seus então primeiros esforços de mapear os trajetos da burguesia já descreve uma distante e próspera colônia portuguesa tropical. Neste sentido, trata-se aqui de contribuir para uma história do romance no Novo Mundo, que poderia incluir – mas isso seria mesmo uma surpresa? – o romance prestigiado cujo herói converteu-se em mito, pois precocemente teria ocorrido a apreensão da experiência colonial na tradição literária do ocidente. Na periferia do enredo de Daniel Defoe, inseriu-se a experiência brasileira, ou, melhor, segundo o argumento marxista revelou-se então a acumulação primitiva e sua violência, em registro que enquadra e relativiza o miolo mais palatável da fábula do self-made man, que se tornou tão famoso.
Vale lembrar ainda que o livro de Daniel Defoe está literalmente no início do surgimento do romance de acordo com Ian Watt, em outro texto célebre, A ascensão do romance, cujo terceiro capítulo, e o primeiro dedicado a um romance específico, é “Robinson Crusoe, o individualismo e o romance”. Para Ian Watt, em Robinson Crusoe já se manifesta com grande acuidade a alteração ocorrida em relação à regra e à convenção clássicas: “Nas esferas literária, filosófica e social o enfoque clássico no ideal, no universal e no coletivo deslocou-se por completo e ocupam o moderno campo de visão sobretudo o particular isolado, o sentido aprendido diretamente e o indivíduo autônomo” (WATT, 1990, p. 57). Sendo assim, o realismo avançava com força rumo à desconvencionalização que recrudesceria até estabelecer novas regras na ficção ocidental.
Segundo Ian Watt, Daniel Defoe estabelece um novo patamar de expressão: “Daniel Defoe, cuja posição filosófica tem muito em comum com a dos empiristas ingleses do século XVII, expressou os diversos elementos do individualismo de modo mais completo que qualquer outro escritor antes dele, e sua obra apresenta uma demonstração única da relação entre o individualismo em suas muitas formas e o surgimento do romance. Essa relação se evidencia com particular clareza em seu primeiro romance, Robinson Crusoe.” (WATT, 1990, p. 57).
A interpretação de Ian Watt no livro em causa vem a ser reelaborada no instigante e articulado livro de Franco Moretti, O burguês: entre a história e a literatura, cujo segundo capítulo analisa e interpreta Robinson Crusoé enquanto síntese de atributos burgueses. Uma parte do capítulo será retomada ao longo das próximas páginas e ficará claro o quanto devo a ele para escrever este ensaio, embora para caracterizar seu Crusoé burguês Moretti considere relativamente pouco o conjunto da narrativa e os episódios anteriores e posteriores à ilha. Mas é Franco Moretti quem dá a ênfase correta às circunstâncias relevantes em que Robinson Crusoé finalmente tem acesso à condição de homem de posses, o que é relativamente desconsiderado pelos estudos sobre a obra.
A desconsideração das “aventuras” de Robinson é recomendada por Rousseau em Émile, de 1762, a fim de que se deixem de lado ou mesmo se evitem os trechos de Robinson Crusoé que se referem a episódios externos à Ilha do Desespero e estranhos à autoconstrução de Robinson, ou melhor, externos à disciplina e inteligência que dariam o tutano do indivíduo isolado, mas eficiente. Aqui seguimos a linha contrária a esta prestigiosa orientação, o que nos leva a avaliar a presença do escravismo no livro.
E sobre a relação de Robinson com a escravidão, é de se notar que o personagem está longe de ignorar os procedimentos e violência da atividade, até porque ele próprio foi escravizado na costa atlântica africana, antes de atracar em terras da Bahia. Lá ele teve que fugir, com o auxílio do rapazote chamado Xuri, de um feroz escravocrata, o que não impede Robinson de vender Xuri, quando se apresenta a oportunidade. A venda vem acompanhada de cláusula atenuante que satisfaz os sentimentos dúbios de Robinson.
Quem comenta é Ian Watt: “Considere-se, por exemplo, o tratamento que Crusoe dá a Xuri, o garoto mouro com quem foge de Sale. Crusoe promete a Xuri, “se confiar em mim eu farei de você um grande homem”(p.45), mais tarde a grande afeição e os admiráveis serviços de Xuri levam Crusoe a dizer que o amará “para sempre”. Mas quando ambos são salvos pelo capitão de um navio português, e Crusoe trata de acertar negócios com ele, recebe de seu salvador a oferta de 60 reais de oito (uma antiga moeda ibérica) – o dobro do preço pago a Judas – pela posse de Xuri. Durante alguns momentos Crusoe “reluta em vender a liberdade do pobre garoto, que me ajudara tão fielmente a recuperar a minha”(…); mas acaba por não resistir ao dinheiro, e, para salvar a cara, estipula que o rapaz “seja libertado dentro de dez anos, desde que se torne cristão”. Crusoe terá oportunidade de lamentar a venda, mas isso só ocorrerá quando se der conta de que Xuri poderia ser de grande utilidade na ilha”. (WATT, 1997, p. 173)
O pragmatismo escravista de Robinson já estava definido, portanto, antes de chegar às terras brasileiras, onde, de acordo com o relato em primeira pessoa do livro, não se faz menção a escravos e açoites para narrar a evolução patrimonial de Robinson. A fábula nem tão ingênua do self-made man e o perfil do sujeito burguês compenetrado e disciplinado ganham literalmente contornos sinistros e mercantis, uma vez expostos os motivos que levaram Robinson a embarcar de novo para cruzar o Atlântico rumo à costa da Guiné.
Ele sai de Salvador para obter escravizados na África e retornar ao Brasil onde entregaria a encomenda a seus amigos e sócios na Bahia; vale dizer, é um navio negreiro em que Robinson naufraga e cujos destroços amenizarão seus vinte oito anos de isolamento. Até aqui são condições fortuitas e menos relevantes (segundo quem?) para a trama, embora longe de serem anódinas. Mas quando se aproxima o desfecho do romance o Brasil retorna com destaque. Os vinte e oito anos de pertinácia, labor e disciplina na ilha não renderam um guinéu furado a Robinson: serão os rendimentos escravistas de terras brasileiras que garantirão o retorno tranquilo e próspero de Robinson (mediante letras de câmbio!) à Inglaterra.
Para que Robinson Crusoé viesse a gozar do status adequado em sua pátria, as rendas provenientes do circuito comercial escravista do Atlântico Sul tiveram que entrar em cena, o que empurra o centro meritocrático do romance para a categoria da digressão ideológica a encobrir a brutalidade da extração de valor do trabalho escravo, convenientemente distante e abstrato. Afinal, na hora de fechar as contas, todo o esforço e disciplina do bom burguês tornam-se vãos, e o que vale de fato é o investimento na zona mercantil e escravista, isto é, o rendimento obtido do esforço dos africanos escravizados na América Portuguesa.
Rendimento a que Robinson tem acesso mediante golpe de sorte que o devolvera a Lisboa e a um comerciante honesto e gentil que se dispusera a pagar o que lhe devia. Isto é, de novo, estamos no plano dos procedimentos arbitrários e aventureiros, com lances de sorte que são decisivos em contraste com o cálculo, a disciplina e a projeção racional que garantem a sobrevivência na ilha e a fama do livro. Um burguês em busca de lições de prosperidade teria que desobedecer Rousseau e ler os lances secundários de Defoe para alcançar o lucro necessário, numa ironia que resulta em consequências formais a incidir no andamento da prosa, na ênfase do narrador, etc.
O peregrino relutante no trópico escravista
“Oh, Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz” (Janis Joplin).
Ao ser resgatado com Xuri na costa noroeste da África, onde se encontrava foragido depois de ter sido reduzido a escravo, Robinson é gentilmente recebido pelo capitão do navio, que também trata de, na sequência, comprar Xuri. Os dois cavalheiros excedem-se em cortesia mútua e tratam de negociar o jovem muçulmano, com uma cláusula que satisfaz Robinson: “Contudo, quando transmiti meus motivos ao Capitão, ele concedeu que eram justos e me ofereceu um meio-termo: que ele assumiria diante do rapaz a obrigação de dar-lhe a alforria dentro de dez anos, se ele se tornasse Cristão. Diante disso, como Xuri concordava em ir para ele, deixei que passasse a ser do Capitão” (DEFOE, 2011, p. 83).
Depois da cordial negociação escravista, o navio aporta no Brasil, ou Brasis, como saborosamente refere Defoe e a excelente tradução de Sergio Flaksman mantém. Ou melhor, chega-se à Bahia, mais especificamente, à Salvador de meados dos seiscentos, onde o aventureiro inglês poderia cruzar com Gregório de Matos Guerra e ouvir falar de um ilustre padre Vieira. O parágrafo é curto e enfático: “Fizemos uma ótima travessia até os Brasis, e chegamos à Baía de Todos os Santos, no porto de São Salvador, dali a cerca de vinte e dois dias. Agora eu tinha sido salvo outra vez da mais miserável de todas as condições. E precisava ponderar o que faria a seguir da minha vida”. (DEFOE, 2011, p. 83)
Mas, bem tratado pelo capitão do navio, Robinson não tem de que se queixar, pois tudo que carregava em seu pequeno barco ao ser resgatado pode tornar-se mercadoria: pele de leopardo, pele de leão, caixa de garrafas, duas armas, etc. “Numa palavra, acumulei cerca de duzentos e oitenta pesos duros de prata com minha carga; e com esse patrimônio desembarquei nos Brasis” (DEFOE, 2011, p. 83).
Munido de algum cabedal e não pouca sorte, Robinson trata de se dirigir a um engenho (“a saber, uma plantação de cana e uma casa de refino de açúcar”) onde se familiariza com as técnicas de produção e percebe como viviam e enriqueciam os proprietários coloniais. Ato contínuo, trata de comprar o máximo de terra que consegue e põe-se a plantar alimentos e dali a pouco algum tabaco, além de manter contato com um proprietário vizinho filho de ingleses, mas nascido em Lisboa. Burguês de bom cálculo, Robinson lamenta a ausência de seu escravo juvenil: “Mas ambos precisávamos de mãos; e agora eu percebia, mais que antes, que tinha errado ao me desfazer do meu rapaz Xuri.” (DEFOE, 2011, p. 84).
Esta percepção deflagra a intervenção do narrador remetendo às páginas iniciais do romance, quando optou por uma vida de aventura em detrimento dos conselhos paternos. A intervenção consiste em um parágrafo razoavelmente longo que transcrevemos abaixo. O tom patético da reflexão contrasta a frase curta e calculista já citada, de lamento escravocrata pelo desatino de ter cedido Xuri ao Capitão Português.
“Infelizmente, porém, que eu sempre decidisse errado não era novidade. E agora não tinha remédio senão seguir em frente. Tinha começado uma empresa muito distante do meu temperamento, e diretamente contrário à vida que me dava prazer, pela qual abandonei a casa do meu pai e ignorei todos os seus bons conselhos; não, eu estava ingressando numa situação intermediária, ou na camada mais alta das posições inferiores, como meu pai me aconselhou antes, e que, se eu tivesse decidido seguir, era o mesmo que ter ficado em casa, sem nunca me dar a todas aquelas fadigas mundanas. E eu costumava sempre dizer a mim mesmo que poderia ter ganho o mesmo na Inglaterra, em meio aos meus amigos, do que a cinco mil milhas de lá, cercado de desconhecidos e selvagens em terras por desbravar, e a tal distância que nunca teria noticias da parte do mundo onde tinham algum conhecimento de minha existência”. (DEFOE, 2011, p. 84-85)
Os leitores um pouco familiarizados com a retórica entre complacente e patética do narrador Crusoe recordarão várias passagens depois dessa em que se lamenta a falta de discernimento e sabedoria, a qual induz o herói a mergulhar em episódios desgraçados nos quais a providência divina também é mencionada como irremediável e misteriosa.
A posteridade compreenderá Robinson como um talentoso indivíduo em meio às adversidades do mundo em vias de mercantilização, já o próprio Robinson se percebe, em geral, como um protestante, um crente submetido à vontade divina, ou, ainda, um “peregrino relutante”, na fórmula do crítico J. Paul Hunter, citado na introdução de John Richetti: “Os puritanos e outros protestantes devotos do século XVII e do início do XVIII eram estimulados a manter diários religiosos e a escrever autobiografias espirituais, relatos de como lhes ocorria a sensação de ter sido salvos, registros dos sentimentos mais profundos que deviam garantir-lhes que eram alvo da graça divina, estimulando-os a ter sempre em mente seu destino espiritual mais alto. O romance de Defoe, produzido nesse período, encaixa-se no modelo, e pode se dizer que essa abordagem foi sancionada pelo próprio Defoe, ao publicar, em 1720, Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe (Sérias reflexões durante a vida e as surpreendentes aventuras de Robinson Crusoé), coletânea de ensaios e meditações religiosas apresentadas como reflexões religiosas de Crusoé acerca do sentido de sua história. Ele desperta da indiferença religiosa e espiritual para a ideia da intervenção providencial de Deus em sua vida. Por mais complexas e particulares que sejam as ocorrências de sua vida, acabam tomando em sua mente a forma da narrativa central da salvação cristã”. (RICHETTI, 2011, p. 25-6)
Para nossos fins neste ensaio, um peregrino relutante assediado por apelos escravistas (o adeus precoce a seu Xuri, etc.) que lhe deflagram a reflexão sobre conselhos paternos, sobre sua vontade um tanto rebelde, e o paradoxo de estar cumprindo os desejos paternos a cinco mil milhas de distância da Inglaterra entre súditos católicos em um trópico exportador. Paradoxo que só pode se tornar evidente mediante a razão capaz de discernir interesses e posição de classe (“camada mais alta das posições inferiores”), em um exercício de sociologia rudimentar que dá toque moderno aos remorsos do filho pródigo de extração bíblica.
Em outros termos, estamos diante de uma prosa complexa e vívida em que os motivos religiosos adotados por Robinson são contrastados pelo ímpeto empreendedor e aventureiro do personagem que pode oscilar entre contrição cristã e cobiça individualista na vertigem de um parágrafo a outro, o que relativiza e determina melhor o puritanismo de Crusoé: “Agressivo e enérgico, independente e produtivo, Robinson também se define, com o tempo, por sua paciente submissão à vontade de Deus, por sua aceitação devota de um destino misterioso que não tem como alterar” (RICHETTI, 2011, p. 21).
Retornando à narrativa na altura em que a deixamos, isso é, com Robinson lamentando não dispor dos bons serviços de Xuri escravizado, deflagra-se uma série de bem-sucedidas manobras da personagem para reaver cabedal, inclusive o que se encontrava na distante Inglaterra.
O resultado é que o previdente e organizado inglês alcança forte prosperidade, em parte resultado da revenda de bens manufaturados sob alta demanda na Bahia colonial: “E ainda não era tudo. Minhas mercadorias sendo todas de manufatura inglesa, como tecidos, malhas, baetas e outros artigos especialmente valiosos e desejados na terra, encontrei meios de vender tudo com grande lucro; de maneira que posso dizer que apurei mais de quatro vezes o valor da minha carga inicial, e fiquei infinitamente melhor que meu pobre vizinho, digo, no progresso da minha propriedade, pois a primeira coisa que fiz foi comprar um escravo negro, além de um criado europeu, sem contar aquele que o Capitão me trouxe de Lisboa”. (DEFOE, 2011, p. 87)
E aqui se registra o movimento que leva da importação de manufaturas inglesas para a aquisição de criados e de um escravo negro a fim de que melhor se produzam bens exportáveis, assim o progresso técnico britânico intensifica a produção escravista em uma fazenda de tamanho médio que promete estabilidade e lucros, mas que não satisfaz o irrequieto pecador em pauta: “Tivesse eu persistido na posição em que agora me encontrava, haveria espaço para todas as coisas felizes visando as que meu pai me recomendava com tanto empenho, uma vida tranquila e retirada, e das quais me disse, com tanta sensatez, ser repleta a vida numa condição intermediária. (…)Todos esses extravios foram provocados por minha adesão obstinada à minha tola inclinação pelas viagens ao estrangeiro, e por ter cedido a essa inclinação, contradizendo as visões mais claras do meu próprio bem, perseguindo de maneira justa e limpa os projetos e os recursos que a Natureza e a Providência concorriam em me conceder e apontar como meu dever”. (DEFOE, 2011, p. 88)
De fato, Robinson deixa-se levar por sua inclinação pelas viagens e dispõe-se a abandonar sua situação próspera e segura para aderir a um negócio talvez mais perigoso mas sem dúvida muito rendoso, não tivesse o capitalismo mercantil avançado em seu ímpeto a ponto de transformar homens em mercadorias. Um Deus tão avassalador quanto o dos templos protestantes e católicos então se manifestava nas rotas atlânticas a unir América e África: Robinson demonstra aqui uma devoção peculiar a esta força abstrata mas de fins nem tão inescrutáveis.
Os proprietários vizinhos na Bahia mantinham conversa muito interessante com Robinson, que fala a língua local com fluência e os informa de suas viagens a Guiné e se refere “à maneira como se comerciava com os Negros de lá, e como era fácil negociar naquela costa, trocando ninharias como miçangas, brinquedos, facas, tesouras, machadinhas, pedaços de vidro e coisas parecidas não só por pó de ouro, pimenta malagueta, presas de elefante etc., mas também por Negros em grande número para a servidão nos Brasis” (DEFOE, 2011, p. 89).
Diante de um interlocutor tão bem informado, os colonos bahianos chegam à conclusão de que cabe proceder a uma expedição negreira para abastecimento próprio, uma vez que não possuíam concessão régia para praticar o venda de escravos nos Brasis: “(…) que como era um tráfico que não se podia praticar, pois não seria possível vender publicamente os Negros que viessem, desejavam fazer uma única viagem, trazendo Negros para suas terras particulares, dividindo o total entre suas propriedades; numa palavra, a questão era se eu aceitava embarcar como comissário daquela carga no navio, encarregado das negociações na costa da Guiné. E me propuseram que eu ficaria com uma parte igual de Negros, sem precisar contribuir com dinheiro algum para a empresa”. (DEFOE, 2011, p. 90)
Robinson no próximo parágrafo lamenta sua imprevidência que o leva a embarcar de comissário negreiro, pois se encontrava progredindo rápido e em breve teria alcançado, explorando sua propriedade, “uma fortuna de três ou quatro mil libras esterlinas, no mínimo” (DEFOE, 2011, p. 90). E depois da avaliação relativamente negativa, o narrador-personagem volta a lamentar sua disposição aventureira que o leva a não recusar a proposta, que ele reconhece ser boa e rendosa, “da mesma forma como não fui capaz de conter meus primeiros desígnios errantes quando não dei ouvidos aos bons conselhos do meu pai” (DEFOE, 2011, p. 90).
Note-se que o motivo da imprevidência novamente deságua na denúncia de sua incapacidade para aceitar os conselhos paternos, trazendo para o circuito patriarcal e familista a avaliação dos procedimentos comerciais, agora dentro das rotas do tráfico escravista. Mas depois da evocação da longínqua autoridade paterna, Robinson, consciente dos riscos da viagem, trata de assinar documentos e preparar acordos para que sua propriedade permaneça prosperando no Brasil, chegando a elaborar um testamento. A configuração é de um capitalista aventureiro ma non troppo, disposto a estabelecer garantias e preparar documentos que resguardem seus direitos de propriedade.
As evidências de que se incorre literalmente em um risco calculado são variadas e quase excessivas, embora a ênfase retórica retrospectiva seja condenatória e um tanto supersticiosa: “Mas segui em frente, obedecendo cegamente aos ditames dos meus caprichos em vez de ouvir a razão. E assim, o navio aparelhado e o carregamento concluído, tudo segundo meu acordo com os sócios da viagem, subi a bordo em má hora, no dia 1º de setembro de 1659, os mesmos dia e mês em que, oito anos antes, eu deixara meu pai e minha mãe em Hull, rebelando-me contra a sua autoridade e me deixando levar estupidamente por meu próprio interesse”. (DEFOE, 2011, p. 91)
Novamente parecemos lidar aqui com organização, disciplina e razão instrumental que mede, calcula e avalia, em contraste com o juízo moral que renega a própria racionalidade do procedimento, com o peregrino relutante embarcando em sua expedição negreira que de fato vai levá-lo ao naufrágio no Caribe, ao largo da Ilha do Desespero na qual passará longa temporada. Reconhecida a ênfase e o tamanho do comentário-lamento, com o narrador interrompendo o relato dos preparativos para a viagem em nome da reflexão e da moral, o leitor um pouco desavisado pode relativizar o pragmatismo e o interesse comercial em jogo, para se identificar com o narrador e concordar com ele.
É argumentável que é mesmo este o pacto de adesão procurado por Daniel Defoe, que não impede o autor de expor em detalhes os preparativos que antecedem a viagem e as providências e atividades correspondentes, exposição que é decisiva para estabelecer a prosa realista, na formulação de Franco Moretti: “E a mesma lógica é válida para os detalhes da prosa de apreensão literal: a significância deles reside menos em seu conteúdo específico do que na precisão sem precedentes que eles introduzem no mundo. A descrição detalhada já não é reservada para objetos excepcionais, como na longa tradição da écfrase: torna-se o modo normal de observar as “coisas” desse mundo. Normal e valioso em si mesmo. Na verdade, não faz diferença alguma se Robinson possui um jarro ou um pote de barro: o que é importante é a constituição de uma mentalidade que dá importância aos detalhes mesmo quando eles não importam de imediato. A precisão pela precisão”. (MORETTI, 2014, p. 69)
O relato detalhado da expedição, entre outros episódios, de fato antecipa os procedimentos narrativos que imortalizarão Robinson enquanto burguês operoso em condições adversas, embora o negócio em curso seja muito menos palatável como operação burguesa e civilizada. É de se perguntar sobre outra expedição negreira com tamanho impacto na literatura ocidental.
Lisbon revisited ou o “arranjei-me!” de Robinson Crusoé
“… e o q não for vendido, / por alborque / de nossa mão passará, e trocaremos lavras por matas, / lavras por títulos, lavras por mulas, lavras por mulatas e arriatas, / q trocar é nosso fraco e lucrar é nosso forte”.
(Carlos Drummond de Andrade, Os bens e o sangue).
A viagem que sai da Bahia rumo à África resulta no célebre naufrágio “perto da embocadura do grande rio Orinoco”, em que todos os ocupantes do navio morrem à exceção do narrador Robinson. Na Ilha do Desespero, segundo o batismo de Robinson, fica definido o caráter racional e organizado de Robinson Crusoé, cuja prosa detalhista enfatiza disciplina e operosidade, como é de se esperar. “A precisão pela precisão”, nos termos de Moretti. Na longa estada de vinte e oito anos, Robinson tem oportunidade de demonstrar várias habilidades e recriar parte da natureza da ilha para seus fins. Daí que Jean Jacques Rousseau considere que os episódios que interessam à boa educação sejam somente os que se passam na ilha deserta, como notou Ian Watt em Mitos do individualismo moderno.
“Quarto ponto a ser considerado: já que apenas a parte do romance passada na ilha deserta lida com o indivíduo isolado, Rousseau quer que o livro – como escreve, em um tom insolente – seja “despojado de todos os seus penduricalhos”; ele quer que o livro comece pelo naufrágio e termine com o resgate de Crusoe. É claro que essa alteração privaria o conto de Daniel Defoe, em boa medida, dos seus aspectos religiosos e punitivos; como um verdadeiro precursor dos românticos, Rousseau não aceitava a ideia de que a obediência ao pai e a Deus fosse meritória. Para Rousseau, a ênfase deveria ser dada à autenticidade do indivíduo em relação aos seus próprios sentimentos, ao passo que a ideia de um dever supremo teria de ser vista como um subjetivismo antinomiano”. (WATT, 1997, p. 180)
Como estamos argumentando aqui, tal amputação radical rosseauniana não privaria o relato apenas de seus aspectos religiosos e punitivos, mas também de seu caráter brasileiro, isto é, de aventura de rapina na borda do capitalismo, ou, ainda, de trajetória lapidar no âmbito da acumulação primitiva do capital. Como na sequência vem a argumentar Ian Watt, Rousseau ajuda a estabelecer um padrão em que Robinson Crusoé torna-se uma síntese da “filosofia básica do individualismo” (WATT, 1997, p. 182), o que configura um passo crucial rumo ao estabelecimento de Robinson enquanto mito do individualismo moderno. Robinson Crusoé vem a ser “o épico dos que não desanimam”, do homem só cujo desempenho lhe permite vencer as maiores dificuldades, talvez mesmo “uma obra na maior parte dedicada ao egocentrismo imune à crítica” (WATT, 1997, p. 176).
Teríamos ali um homem comum que, ao ver-se só, revela-se capaz de submeter a natureza a seus objetivos e triunfar na adversidade. A fábula meritocrática em que trabalho duro, disciplina, racionalidade e dedicação garantem a sobrevivência, a vitória moral e a simpatia dos leitores. Mas não garante prosperidade. Quando vem a ser resgatado está tão pobre quanto é de se esperar de um náufrago, seus esforços de tanto mérito foram para garantir sua sobrevivência. É depois de ter ido a Londres e seguido para Lisboa a fim de conferir o que restou de seus negócios que Robinson descobre-se rico, como notou Franco Moretti, que trata de registrar certo paradoxo em que a riqueza não resultou do trabalho de Robinson.
Trabalhar para si mesmo como se ele fosse outrem: é exatamente assim que Robinson funciona. Um lado dele se torna carpinteiro, ou oleiro, ou padeiro e passa semanas e semanas buscando executar alguma coisa: aí Crusoé, o patrão, aparece e aponta a inadequação dos resultados. E em seguida o ciclo todo se repete diversas vezes. E se repete porque o trabalho se tornou o novo princípio de legitimação do poder social. Quando, no final do romance, Robinson se vê “senhor (…) de mais de 5 mil libras esterlinas” e de tudo o mais, seus 28 anos de labuta ininterrupta estão ali para justificar sua fortuna. Realisticamente, não há nenhuma relação entre as duas coisas: ele está rico por causa da exploração de escravos sem nome em sua plantação no Brasil, ao passo que sua faina solitária não lhe rendeu uma libra sequer. Mas o vimos trabalhar como nenhum outro personagem: como é possível que ele não mereça o que tem? (MORETTI, 2014, p. 39-40)
O trabalho e o esforço na ilha, que ocupam quase todo o livro, são princípio de legitimação social, mas Defoe não pode ser acusado de escamotear a origem da súbita riqueza de Crusoé: foi a propriedade escravista no Brasil que lhe rendeu a prosperidade. A notícia é de tal ordem que há certo lirismo na enumeração dos procedimentos (contratos, recolhimento de tributos, registros, etc.) que literalmente quase matam de felicidade: “Agora bem posso dizer, sem dúvida, que a parte final do livro de Jó é bem melhor que o seu início. Seria impossível descrever aqui as palpitações do meu coração quando percorri essas cartas, e especialmente quando me vi coberto por toda a minha riqueza, pois, como os navios do Brasil vinham sempre em comboios, as mesmas naus que traziam minhas cartas também carregavam os meus bens, e as mercadorias já estavam a salvo no rio quando as cartas chegaram às minhas mãos. Numa palavra, empalideci e passei mal; e se o velho não me trouxesse um cordial, creio que aquela surpresa inesperada teria derrotado a Natureza e eu morreria ali mesmo”. (DEFOE, 2011, p. 375)
E Robinson prossegue dando conta de como um médico, ao saber do impacto da riqueza em seu paciente, trata de sangrá-lo e “(…) se aquele mal não tivesse sido aliviado por aquele escoadouro criado para os espíritos, eu teria morrido” (DEFOE, 2011, p. 376). Não é para menos, Robinson se descobre “dono de mais de cinco mil libras esterlinas em dinheiro e de vastos domínios, como bem podem ser chamados, nos Brasis, que produziam mais de mil libras por ano, com a mesma segurança de uma propriedade senhorial na Inglaterra” (DEFOE, 2011, p. 376).
O desfecho daquela sempre lamentada desobediência ao pai não poderia ser melhor, embora tenha muito de fantasia na caracterização da honestidade, lealdade e devoção dos parceiros comerciais e patrimoniais do circuito lisboeta e baiano de Crusoé. Não é fácil de acreditar que na ponta escravocrata e aventureira do capitalismo os sócios garantiriam bens e receitas de um comissário negreiro inglês depois de aproximadamente 30 anos.
Aqui a fé britânica de Daniel Defoe no respeito aos contratos parece se misturar à fantasia de aventuras da tradição, de acordo com Moretti: “Quanto ao êxito financeiro de Robinson, sua modernidade é no mínimo questionável: embora o romance não traga a parafernália mágica da história de Fortunatus, que fora o principal predecessor de Robinson no panteão dos self-made men modernos, o modo como sua riqueza se acumula em sua ausência e lhe é posteriormente restituída (“160 moidores de Portugal em ouro”, “sete belas peles de leopardo”, “cinco caixas de bombons excelentes e cem peças de ouro sem cunhar”, “mil e duzentas caixas de açúcar, oitocentos rolos de fumo e o resto da conta toda em ouro”) ainda tem muitíssimas coisas dos contos de fada”. (MORETTI, 2014, p. 37-8)
Que de resto é assinalado pelo andamento da narrativa no desfecho do relato, ainda Moretti: “Do aventureiro capitalista ao senhor que trabalha. No entanto, à medida que o romance se aproxima do fim, há uma segunda guinada: canibais, conflito armado, amotinados, lobos, ursos, fortuna de conto de fadas… Por quê? Se a poética da aventura fora “moderada” pelo seu oposto racional, por que prometer contar “alguns episódios muito surpreendentes de outras aventuras minhas” na última frase do romance? (MORETTI, 2014, p. 42).
Retomando o registro certeiro de Franco Moretti ali atrás, não há fantasia alguma em estabelecer que a riqueza de Robinson provém da “exploração de escravos sem nome em sua plantação no Brasil”. Aqui Daniel Defoe foi de um bom senso ameno e amoral, que não aposta meio guinéu na versão meritocrática do trabalho recompensado mas trata de evidenciar o quanto o trabalho extenuante dos escravos gera a riqueza alheia. O realismo entrosa com fantástico na medida em que os responsáveis pelo bom andamento da plantation brasileira venham a cumprir os termos de um contrato celebrado por, digamos, brasileiros da geração anterior, trinta anos antes. Se non è vero è ben trovato, poderia dizer um compatriota de Franco Moretti. Por outro lado, há alguma evidência que corrobora, ao menos no plano ficcional, o andamento fantasioso na aquisição de riqueza mediante espoliação de africanos escravizados.
Na literatura brasileira, num dos raros momentos em que se registra uma expedição negreira, o desfecho também é lance de sorte. Estou me referindo ao capítulo nove “O – arranjei-me! – do Compadre”, em Memórias de um sargento de milícias, o já clássico romance de Manuel Antônio de Almeida. É capítulo no início do romance, que narra, em retrospectiva, o método pelo qual o Compadre, que cria e sustenta materialmente Leonardo dos sete anos até a juventude, adquiriu o patrimônio que lhe permite viver em relativo conforto.
“Na condição de homem pobre, o Compadre era um barbeiro e sangrador percorrendo as ruas do Rio de Janeiro munido de bacia, navalhas e lancetas. Ao prestar serviço, em plena rua, a um marinheiro, é convidado a embarcar em um navio que “viajava para a Costa e ocupava-se no comércio de negros; era um dos combóis que traziam fornecimento para o Valongo, e estava pronto a largar” (ALMEIDA, 2000, p. 115).
Isto é, trata-se de um navio rumo à África em busca de escravos. Depois de alcançar sucesso salvando marinheiros e carga humana, o Compadre sangra, já na viagem de retorno ao Rio de Janeiro, o capitão do navio, que adoecera. Mas o capitão morre e o deixa encarregado de entregar uma boa quantia de dinheiro à sua filha, a qual jamais recebe o dinheiro. A traição da vontade do moribundo rende a estabilidade do compadre, que por sua vez garante a boa vida da infância e juventude de Leonardo, o “nosso memorando” para usar os termos de Manuel Antônio de Almeida.
Assim, sendo é patrimônio derivado do tráfico escravista que permite certo desafogo ao homem livre, que pode assim sustentar sem maior esforço, mas sempre barbeando os clientes, a personagem que virá a se tornar sargento de milícias. Não há nenhum sinal de condenação moral aqui, o empreendimento escravista está totalmente naturalizado; sendo assim, o toque transgressivo do “arranjei-me” seria o descumprimento da vontade do capitão defunto.
Assim, há um pitoresco, e um tanto sinistro, encontro entre a estabilidade do herói malandro de Almeida e a prosperidade do herói burguês de Defoe, ambos às voltas com a sorte que lhes fornece patrimônio advindo dos negócios escravistas. Com um pé no lance maravilhoso (“fortuna de conto de fadas”), os episódios lidam também com o primitivo procedimento médico da época, com o Compadre enquanto sangrador, e Robinson Crusoé sendo sangrado, o que rende um ar de família esquisito.
Não se trata aqui de forçar um alinhamento entre os dois romances que cairia no arbitrário, mas sim de notar que a aproximação procede, acho, ao enfatizar o lado aventureiro das duas personagens e ao iluminar semelhanças no aproveitamento de temas e formas induzidas pela experiência na periferia do capitalismo, a qual parece marcar mesmo um ilustre representante do individualismo burguês em seus primórdios quando ele se aventura nas margens e pelas águas do Atlântico Sul.
*Homero Vizeu Araújo é professor titular do Instituto de Letras da UFRGS.
Referências
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. Apresentação e notas Mamede Mustafa Jarouche. Cotia: Ateliê, 2000. Col. Clássicos Ateliê.
CANDIDO, Antonio. “Dialética da malandragem”. In O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. Trad. Sergio Flaksman. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.
MORETTI, Franco. O burguês: entre a história e a literatura. Trad. Alexandre Morales. 1.ed. São Paulo: Três Estrelas, 2014.
RICHETTI, John. “Introdução”. In DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. Trad. Sergio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. WATT, Ian. Mitos do individualismo moderno: Fausto, Dom Quixote, Dom Juan, Robinson Crusoe. Trad. Mario Pontes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 19
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA