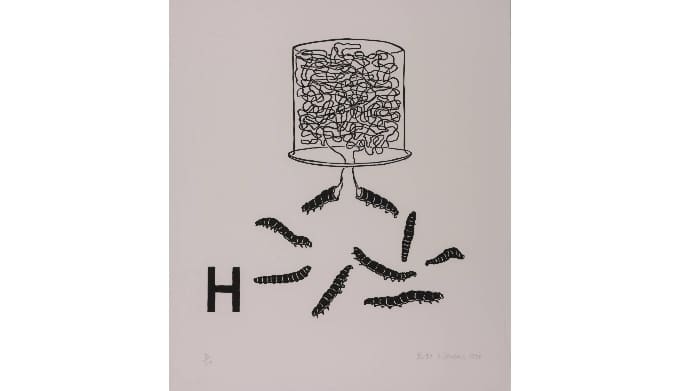Por JEFFERSON NASCIMENTO*
A visibilidade que o BBB oferece se dá de modo controlado pela Globo para evitar o debate sobre a estrutura da nossa sociedade
Podemos não gostar do Big Brother Brasil, mas ele gera repercussão na sociedade brasileira e, por isso, expressa algo de relevante para compreender nossa cultura. A cultura popular nunca foi e nem será trivial. Por exemplo, Edward Palmer Thompson é um historiador marxista que enxerga potencial revolucionário na cultura popular. Para ele, as pessoas em uma dada situação de classe se agrupam como formação consciente de classe por meio da experiência. Ou seja, as relações de produção distribuem pessoas em situação de classe, mas a atuação consciente e organizada da classe trabalhadora depende de como os trabalhadores vivenciam e apreendem essa situação. Vivenciar e apreender dependem de categorias que são afetadas pela cultura, pela ideologia, etc. Em outras palavras: as condições materiais são dadas objetivamente, mas as categorias que se fazem presentes na mediação dessa realidade impacta no sentido em que a experiência conduzirá ou não à consciência.
Destarte as reações acerca de um certo produto televisivo, como o Big Brother ou a novela, de um esporte de massas, como o futebol, ou de manifestações artísticas (banalizadas ou não pela indústria cultural), como o cinema ou a música, sempre importam porque nos contam algo dos elementos que impactam na reflexão. Não se trata de defender a existência do programa e muito menos de incentivar que as pessoas assistam. Mas, de compreender que a maneira como as pessoas elaboram e se expressam acerca desse reality show, da novela, ou do futebol diz muito sobre quais e como os valores e elementos simbólicos atuam na percepção do mundo. Do mesmo modo, o “ser social” e a “consciência social” não existem fora da experiência porque são mediados por ela, não há consciência sem que o ser “experiencialize” o mundo que o cerca e, para compreender o sentido dessa experiência, é preciso compreender aquilo que repercute na cultura popular. No limite, não há consciência de classe sem a reflexão que os indivíduos fazem enquanto produzem a riqueza no sistema capitalista e essa reflexão é influenciada pela cultura, pela ideologia, etc.
Dito isso, anuncio aqui meus pontos centrais: a defesa da classe como o elemento fundamental de convergência das diversas identidades sociais existentes. Portanto, as pessoas têm identidades sociais (étnico-racial, orientação sexual, gênero, etc.) e essas identidades são muito importantes para dar forma às suas experiências – ser mulher, ser negro, ser LGBTQ+ impacta decisivamente nas condições que as pessoas experimentam as relações de produção e como vivenciam, sofrem, apreendem e reagem aos acontecimentos da vida social. Logo, não se trata de minimizar a importância, mas afirmar que essas identidades sociais superestruturam a situação de classe que é dada pela estrutura capitalista. O capitalismo depende de uma diferença estrutural básica: há proprietários dos meios de produção e há quem dependem exclusivamente de sua força de trabalho. As demais identidades são fatores “extraeconômicos” ou “superestruturais”. Por óbvio, sujeitas a opressões que aumentam a exposição à violência, marginalização e/ou a vulnerabilidade social. No entanto, o capitalismo pode prescindir dessas identidades sem que o modo de produção pereça. Passemos ao que mobilizou este texto.
1 – O Big Brother Brasil é uma vitrine e o que ocorre no reality show serve como uma observação da vida real, cujo aprendizado é possível para aqueles que observam sem condições de interferência direta. O voto nos “paredões” é algo que permite uma falsa sensação de controle por parte do expectador que seria capaz de punir e premiar pessoas com base em algum parâmetro meritocrático. Mas isso só é verdade em uma escala reduzidíssima e muito indireta, dependendo da convergência de sua decisão com milhares ou até milhões de outros expectadores. Quando tal convergência ocorre, a sensação é a de que a voz do povo promoveu justiça. Mas, essas sensações não impedem que o programa seja um mero simulacro. Uma vez que a escolha dos participantes, a edição do que vai ao ar na TV aberta e o tipo de prova para seleção de papéis como “lideranças” e “anjos” estão sob controle da produção do programa.
2 – Não é crível a tese de que a Globo propositalmente escolheu pessoas para dinamitar a militância negra e LGBTQ+. Esse ponto é o que passamos a detalhar.
O Grupo Globo é um dos meios de comunicações mais engajados nas formas de lucro sobre o “black money” e o “pink money”. Trata há certo tempo da temática LGBT+ em suas novelas e minisséries, cria uma narrativa de empenho para contribuir com a representatividade negra e para defender a igualdade de gênero. É entusiasta da proposta de empreendedorismo presente em segmentos dos movimentos sociais em defesa da causa feminista, negra ou LGBT+. A Globo escolheu os membros a dedo para capturar pautas em busca do lucro e não destruí-las, a prova disso está no tipo de publicidade usada por grandes anunciantes da emissora, notadamente àqueles que patrocinam o reality show – vide a campanha Avon tá on. Faz pouco sentido conceber que ela e os agentes do mercado possam lucrar mais com a sabotagem do segmento da militância que representa milhões de consumidores e, em última instância, não contradiz a lógica da acumulação do capital; quando pode potencializar seus lucros e de seus anunciantes ao induzir mecanismos de “ordem” por meio da narrativa de uma harmonia social entre as diversas identidades. E faz isso pela chave do neoliberalismo: a responsabilidade por essa harmonia é do mercado, por isso os segmentos dos movimentos sociais que pautam o empreendedorismo negro, LGBT+ e feminino são úteis porque, como a Globo, transferem, mesmo que em última instância, para o indivíduo a responsabilidade de se inserir nesse mercado que vendem como produtor de justiça “meritocrática” e harmonia. Empoderar o indivíduo deste modo é criar a narrativa da inclusão sem prestar as devidas contas à histórica trajetória de exploração que não se limita a um passado superado.
Notem que, depois de anos de declínio na audiência do programa, a Globo encontrou uma saída na edição passada: artistas com algum grau de popularidade, pessoas “não tão anônimas assim” e um conflito entre aspirantes a galãs e mulheres empoderadas. Essa opção da direção encontrou a pandemia e um longo período de isolamento social para impulsionar a audiência. A edição mostrou a força da unidade feminina contra os chamados “machos escrotos”, revelou a força de um defensor da negritude, bem como a vencedora foi uma mulher médica e preta. Todos os escolhidos poderiam claramente ser analisados pela chave do empreendedorismo e da meritocracia, ainda que não fosse a chave que individualmente essas pessoas usam para compreender o mundo. Telma, mulher, negra, esclarecida, cujo discurso meritocrático permitia dizer: apesar do racismo e da misoginia, ela venceu e é médica.
Esse ano a fórmula foi amplificada. Um comediante negro e de direita que superou empregos e bicos de baixa remuneração para ter o próprio programa de rádio e para se destacar em conteúdos via Youtube e WhatsApp; um jovem negro que virou ator da própria emissora e cantor, após se destacar na liderança do movimento estudantil secundarista e se notabilizar nas ocupações contra o fechamento de unidades escolares no governo PSDB em São Paulo; dois artistas negros do Rap, um homem e uma mulher, com forte conexão com a periferia; uma jovem com mestrado em Psicologia, negra e LGBTQ+; um professor negro e LGBTQ+; e um doutorando em Economia negro e LGBTQ+ (ainda que sua negritude tenha sido questionada no programa por outros brothers). Todos juntos com outros artistas conhecidos, youtubers e alguns anônimos interessantes, segundo a seleção do programa. A lógica é a mesma. Aumentou a quantidade de pretos e pretas, mas todos poderiam ser narrados a partir do empenho pessoal, do mérito em sua “caminhada” e, portanto, do merecimento daquilo que foi conquistado. Os conflitos que poderiam desqualificar a militância negra, LGBTQ+ ou feministas são acidentes de percurso que, após alguns transtornos, potencializaram o alcance do programa, seus lucros e se limitou a fomentar um debate sobre personalidades individuais. De novo, a totalidade sistêmica é diluída em termos de indivíduos.
O Grupo Globo não agiu para destruir essa militância. No entanto, a visibilidade que oferece se dá de modo controlado para evitar o debate sobre a estrutura da nossa sociedade e concentrar nas decisões e personalidades individuais, bem como fomentar um culturalismo idealista que repete a narrativa de que tais opressões a essas identidades sociais podem e devem ser superadas por meio exclusivo da educação, do esclarecimento e da convivência. Como se a permanência dessas formas de discriminação não tivesse raízes na estrutura econômica.
Ora, o neoliberalismo e suas “reformas estruturais”, tão defendidas pelo Grupo Globo potencializam a desigualdade e, portanto, potencializam a marginalização social de quem já encontra dificuldades de vencer a discriminação estrutural. A desigualdade sendo ampliada significa o aumento do desemprego, da miséria afetando majoritariamente negros, mulheres e LGBTQ+. O mundo do trabalho reproduz essas discriminações porque elas são elementos extraeconômicos que permitem majorar a exploração econômica. Em uma mesma atividade, ao pagar menos às mulheres em relação aos homens e menos a pretos e pretas em relação aos brancos amplia-se a capacidade de extrair mais-valia. Negar o acesso igualitário de LGBTQ+, notadamente pessoas trans, no mercado de trabalho, nas universidades, etc., é usar o fundamento extraeconômico para superestruturar o chamado exército de reserva. Tais debates estruturais são substituídos pela tese sedutora de que o esforço individual pode vencer as barreiras da estrutura social. Coach, palestras motivacionais, a repetição do conceito de resiliência e mindset, nada mais representam do que ferramentas e categorias discursivas que fomentam o individualismo, que é central no ideário neoliberal, e agem igual à emissora.
Dentro desse cenário, as lutas dos movimentos negro, LGTQ+ e feministas são indispensáveis em uma sociedade que distribui desigualmente oportunidades, renda e concentra violência sobre determinadas identidades sociais. Não se trata de negar isso, mas de reafirmar que a particularização da luta não vai conduzir a nada diferente do que já faz a narrativa do empreendedorismo conectado ao elemento identitário. A impaciência pública em relação ao uso equivocado, excessivo e instrumentalizado do academicismo por uma das participantes deveria nos trazer um questionamento que supere o ataque de reputação, não é a participante e nem o julgamento subjetivo do seu caráter que nos ensinarão a agir. Mas, nos perguntar e nos organizar a partir da constatação de que é preciso se fazer compreensível ao conjunto da sociedade. A tão famosa frase “você está agenciando uma pauta coletiva para resolver um B.O. que é só seu” diz menos sobre ela e mais sobre o quão problemático é permanência de uma crença (consciente ou não) de que é possível ser “bom” e “vencedor” por si mesmo numa sociedade desigual, mas contraditoriamente justa e meritocrática. A Globo não destruiu pontes, pavimenta a ponte iniciada pelo pós-modernismo. O que se vê na tela mostra a dificuldade de conexão de parcela significativa dos movimentos sociais com o conjunto da sociedade. Ao mesmo tempo, práticas que geraram revoltas nos expectadores são práticas comuns no nosso cotidiano, como a intolerância religiosa ou a xenofobia. Por vezes, o espelho é cruel. Mais do que cancelar um ou uma artista que reproduz tais práticas indesejadas, o desafio é questionar como é possível se aproximar das pessoas que os movimentos sociais devem representar, sobretudo, nas periferias e dar a elas algum sentido coletivo que não seja diluído, por exemplo, pela narrativa da meritocrática e excludente “Teologia da Prosperidade”. A Globo não destruiu essas pontes porque elas nunca foram reais para o conjunto da sociedade (e, sim, para segmentos muito restritos), ela reforçou o caminho traçado pelo ideário pós-moderno e a cada apropriação que faz dos movimentos sociais dificulta a possibilidade de organização coletiva consciente e de massa. A cada glamourização do reconhecimento individual, da “caminhada de um que no meio de mil venceu” reafirma-se a legitimidade dos mecanismos que excluíram os outros 999 e, pior, culpabilizando-os.
Não é a escolha dos brothers desse ano, mas o conjunto da obra. O reality show não evidencia a sabotagem dos agentes do mercado a todos os movimentos sociais e, sim, é mais um exemplo que demonstra como o mercado e seus agentes podem conviver com tipos de militância que não visem eliminar as necessidades ideológicas e econômicas de oprimir tais identidades. A Globo Comunicações e Participações S/A difunde o que desejam seus anunciantes e o que é rentável para sua área de investimentos. Como tal, não é possível fazer justiça exaltando o mercado, desigual e excludente por natureza, como o meio para produzir justiça. Tratando a educação, não como uma das ferramentas para conhecer o real e, portanto, útil em sua perspectiva crítica sobre as condições objetivas do mundo; mas, numa perspectiva idealista, cuja a boa educação seria uma panaceia que resolveria todas as incompatibilidades da consciência humana e daria a todos condições para superar as mazelas sociais ao conferir habilidades e competências para se adaptar ao status quo.
Volto aos meus pontos centrais: precisamos desenvolver meios para agir no cenário de fragmentação do mundo do trabalho, da experiência e luta social. As demandas das diversas identidades sociais são indispensáveis e precisam compor um programa de classe, já que a situação de classe é um elemento comum aos segmentos mais explorados da sociedade. Isso não significa que a misoginia sofrida por uma mulher só importe se ela for da classe trabalhadora, nem que a discriminação racial ou LGBT fóbica só existam contra indivíduos da classe trabalhadora. O fundamento não é ignorar as opressões e violências ou adiar essa luta para depois da superação da desigualdade de classe, mas concomitantemente desenvolver um programa que, para além do combate imediato dos efeitos (o que demanda um projeto específico de cada movimento), mirem também as causas da segregação (o que demanda um programa comum de classe mirando a emancipação humana). Por mais desafiador que pareça, mirar a eliminação das justificativas e dos ganhos econômicos sob a segregação e discriminação das identidades sociais é mais crível do que acreditar teleologicamente que um processo de educação antirracista, antimachista e anti-LGBTfóbica pode construir sozinho e em abstrato um nível de consciência superior às determinações econômicas. Tal como argumenta Nancy Fraser[i] ao defender o movimento feminista: é preciso reconectar “as lutas contra a sujeição personalizada à crítica a um sistema capitalista, o qual, ainda que prometa liberação, de fato substitui um modo dominação por outro”. E essa lição serve também para o movimento negro e o LGBT+, além de alertar para a sensibilidade que as organizações classistas precisam ter em relação a essas lutas.
*Jefferson Nascimento é professor no Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Autor do livro “Ellen Wood – o resgate da classe e a luta pela democracia” (Appris).
Nota
[i] FRASER, Nancy. “O Feminismo, o Capitalismo e a Astúcia da História”. Revista Mediações, Londrina, v. 14, n. 2, jul./dez. 2009, p. 30.