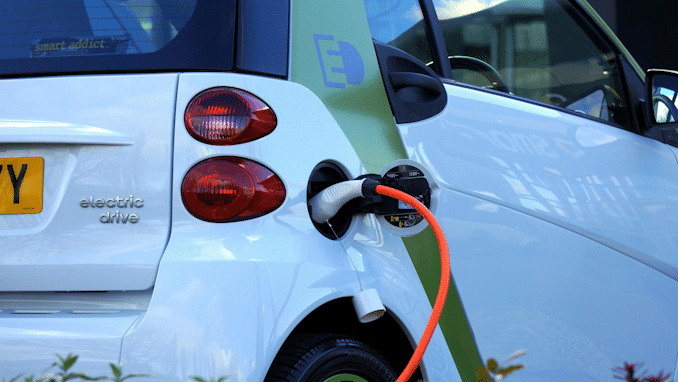Por BRUNO LEITES*
Comentário sobre filmes que anteciparam a atual destrutividade brasileira
O ano naturalista
Na última aula de um curso sobre “Cinema e Naturalismo” na UFRGS em 2020, uma estudante desabafou: “Espero que em 2021 tenhamos um ano menos naturalista”. Ela havia diagnosticado que os filmes designados para o semestre, todos do início dos anos 2000, estavam supreendentemente próximos de todos nós. Falávamos de filmes como Amarelo manga (Cláudio Assis, 2003), Contra todos (Roberto Moreira, 2004), O cheiro do ralo (Heitor Dhalia, 2006), Latitude zero (Toni Venturi, 2000), Baixio das bestas (Cláudio Assis, 2006), Cronicamente inviável (Sérgio Bianchi, 2000) e Quanto vale ou é por quilo? (Sérgio Bianchi, 2005), entre outros.
Para além da criminalidade urbana e suas violências, o que os filmes mostraram foi uma relação mais profunda entre corpos brasileiros e a destrutividade. Nesse sentido, a destrutividade não se explica por uma condição dada na história recente, mas por uma tendência inata ou inscrita no DNA da comunidade desde tempos remotos, uma espécie de pecado original. Em Baixio das bestas, a monocultura da cana de açúcar é o pecado original que faz a misoginia se repetir indefinidamente. Em Quanto vale ou é por quilo? é a escravidão que continua determinando a nossa temporalidade, pecado original que condena o nosso presente e impede o nosso futuro.
Uma perplexidade da mesma ordem retorna frente ao bolsonarismo. Como explicá-lo pautado em aspectos dados na história? É suficiente afirmar que o bolsonarismo é o retorno de um fascismo mal elaborado após os anos de ditadura civil-militar? Que emergiu devido ao ódio construído em torno do PT? Que odeia minorias por reação aos espaços que vêm conquistando?
Esta ordem de explicações parece não ser suficiente para diversos analistas, que sentem necessidade de buscar resposta em um ambiente mais profundo das forças do nosso corpo. Como afirma Maria Rita Kehl,“não se trata apenas de uma adesão a valores de extrema-direita, ao autoritarismo, à indiferença em relação às desigualdades. Parece-me que o discurso que norteia as ações deste governo é descaradamente destrutivo.”[1]
De João Moreira Salles a Marta Suplicy; de Christian Dunker a Fernando Gabeira; de Vera Magalhães a Tales Ab’Sáber; de Maria Rita Kehl a Renan Calheiros: todos recorrem às teses da pulsão de morte para conseguir compreender o injustificável, o amor pelo desligamento, o fascínio pela destruição que vemos circular dos baixos aos altos estratos do bolsonarismo no Brasil.[2]
Manifesto político do desligamento
Em A morte e a morte, João Moreira Salles afirma que a destruição da Amazônia é o “verdadeiro manifesto político do movimento” bolsonarista. É ali que se destrói em troca de nada, em que se manifesta a pura negatividade que sequer chega a constituir uma ideologia.[3]
Sentimos que essa cena já foi filmada. Em Cronicamente inviável, o narrador viajante vai à Amazônia para ver o lugar em que se pode “destruir as coisas de maneira explícita, assim, sem sentido nenhum”. A câmera sobrevoa a floresta queimada, lentamente vamos observando o verde em diversos estados de degradação pelo fogo, com transições muito sutis, acompanhadas de uma trilha funerária (é Komm, Jesu, Komm!, de J.S. Bach, interpretado pela “Camerata Antiqua de Curitiba”). A cena tem um caráter ritualístico, é quase uma homenagem à força mítica tão poderosa que atende pelo nome de pulsão de morte. Em voz over, o narrador enuncia a sua tese sobre o ser humano: “Ele é tão adaptado à destruição que, se ele destruísse sem respeitar nenhuma regra, ele acabaria se autoaniquilando”.
O prazer e a crítica
Em Amarelo manga, o personagem vivido por Jonas Bloch se excita quando vê um corpo morto. Ele se aproxima fascinado, toca-o com pudor, em seguida lambe o próprio dedo e depois empunha sua arma para disparar contra o corpo sem vida, até atingir um gozo intenso.
Aspecto quase onipresente na crítica via pulsão de morte é o prazer que o bolsonarismo sente com a morte. A violência bolsonarista não é “apenas” utilitária ou estratégica para a tomada do poder. A violência é fruto do “namoro com a morte” que define o bolsonarismo, como afirma Fernando Gabeira em E daí? A pulsão de morte.
Filmes como O cheiro do ralo, Baixio das bestas e Amarelo manga trazem suas denúncias: à objetificação dos corpos, à misoginia, ao capitalismo imaterial, à precariedade das moradias etc. Contudo, para além de um “estudo de realidade” pautado pela recomposição das condições sociais, vemos personagens circundando no entorno das suas fissuras, desejando o desligamento, a deformação e a destruição (como é notável o bolsonarismo em tantos personagens!).
Alguns filmes também fazem a exposição de belos e “publicitários” corpos sendo violentados e filmados com alguma sofisticação (Baixio das bestas e O cheiro do ralo, por exemplo, com variadas estratégias e intensidades). É como se a imagem quisesse interpelar o espectador a também ter uma experiência mista de satisfação e desconforto com o que está sendo mostrado. Mas usar as imagens dessa maneira, isto é, reproduzir com sofisticação e beleza o circuito de prazer do que hoje designamos por bolsonarismo tende a ser problemático. É confiar demais que a dimensão crítica do filme pode se sobressair frente ao fascínio da destruição.
Filmes obsoletos?
Os filmes, ao se aproximarem da realidade, veem corpos brutos dominados por pulsões primitivas. Poderíamos pensar que, ao “ouvirem” as forças dos seus corpos, os personagens se conectariam a alguma força libertadora e se engajariam na produção de novas comunidades. Todavia, essa hipótese é pouco explorada nos filmes – vemos alguma exceção na personagem Kika, de Amarelo manga, e na Lena, de Latitude zero. Via de regra, a pulsão dos corpos é a face visível e ruidosa que “esconde” o necessário caminho para a destruição.
Como em Contra todos: a esposa está apaixonada pelo filho do açougueiro; ela satisfaz a sua paixão; mas o amigo da família descobre, assassina o amante e desencadeia uma série de mal-entendidos e assassinatos. Ou em Latitude zero: a mulher apaixona-se pelo homem; logo, descobre o seu alcoolismo, é ameaçada, estuprada. No final, ela mata o homem, incendeia o restaurante-moradia em que morava e foge de carona em um caminhão.
Se esse universo de filmes se aproxima do naturalismo, não é por sua neutralidade ou sua transparência. O naturalismo é a conjugação de uma observação, um “estudo” de realidade, com a visão subjetiva da vida como uma grande queda, às vezes um fatalismo condenatório, visão sombria com relação à existência no tempo. Por isso, o pensamento sobre a morte é constitutivo do naturalismo: a relação com a pulsão de morte (Gilles Deleuze, Jacques Rancière), com a entropia (David Baguley), com a tragicidade (Yves Chevrel).[4]
De forma alguma esqueceremos de aspectos problemáticos que atingem alguns filmes: a espetacularização da misoginia e da violência, o didatismo, o fatalismo, a oposição entre corpo e cultura. Esses e outros fatores contribuíram para que filmes aqui referidos fossem tidos por obsoletos: nos anos 2000, participavam e eram premiados em inúmeros festivais (Brasília, Berlin, Rotterdam, Locarno, Sundance etc.);hoje, frequentemente são tidos por peças simplistas e apelativas.
Porém, quando o vocabulário da pulsão de morte retorna para explicar a emergência do bolsonarismo, somos instigados a reparar: já vimos essas imagens antes.
Hoje é como se o poder estivesse sendo exercido pelo ex-policial militar hipócrita e estuprador de Latitude zero; operacionalizado pelos milicianos de Contra todos; financiado pelo mercante que negocia corpos em O cheio do ralo; sustentado pelas comunidades doentias de Deserto feliz, Árido movie e Baixio das bestas.
A soberania da morte
A tese da pulsão de morte é acionada por agentes políticos que gostariam de se colocar em posição de contraponto. Para o relator da “CPI da Covid”, senador Renan Calheiros, as manifestações do bolsonarismo são convocadas pela pulsão de morte do presidente da república: silenciar diante dessa pulsão de morte é covardia, diz-nos o senador.[5] Já Marta Suplicy contrapôs pulsão de morte bolsonarista e “Frente Ampla”, “movimento suprapartidário” para “construção de consensos” e “superação de divergências”.[6]
A pulsão de morte, portanto, é uma força que pode ser contraposta – e notamos que os agentes se prontificam. A CPI não é apenas uma investigação para revelar desvios de verba na saúde, mas uma ação para “brecar” a pulsão de morte.
No entanto, se voltarmos à série de filmes, veremos que lá a falta de confiança na força da pulsão de vida é dominante. “Existe pulsão de vida?”, parecem questionar-se os filmes. Como explicar o quão risível seria uma CPI ou uma aliança entre partidos políticos a partir de uma visão dotada de tamanho senso de fatalidade? Que coisa risível é esta pulsão de vida para as pessoas que se encontram na esfera da morte. A morte é dominante, a vida é risível e dominada. Por isso, nesses filmes, a pulsão de morte não é localizada neste ou naquele personagem. A pulsão de morte está inscrita no DNA da comunidade: às vezes, essa comunidade pode ser o país inteiro (Cronicamente inviável, Quanto vale ou é por quilo?); outras vezes, uma comunidade inteira no interior ou na periferia (Baixio das bestas, Amarelo manga, O cheiro do ralo); em outros casos, uma família (Contra todos, Latitude zero). Nos principais filmes, não existe o fora e a perspectiva de reencontro com a vida é remota. Eventualmente, há personagens que “ouvem” seu corpo e não encontram a degradação (como Kika, em Amarelo manga). No máximo, há personagens que fogem, mas sem maiores perspectivas de vida (como Lena, em Latitude zero, e Soninha, em Contra todos).
Quando Glauber Rocha falou em Eztetyka da fome para explicar a primeira fase do Cinema Novo, havia a confiança de que reaproximar-se das pulsões do corpo teria algo de revolucionário.[7] Depois, com Terra em transe (Glauber Rocha, 1967), a possibilidade revolucionária é posta em suspeita, entretanto, prevalece ainda a possibilidade de levantar-se contra um sistema, de “tomar conhecimento”, operar revelações e fazer diagnósticos. Em Terra em transe, o intelectual Paulo Martins sucumbe, mas o gesto e a palavra não deixam de serem vitais e preciosos.
Todavia, em filmes do início dos anos 2000, a palavra via de regra é instrumento ridicularizado, palavrório vazio (Cronicamente inviável, Quanto vale ou é por quilo?, Amarelo manga). Às vezes, é uma palavra testemunhal, no sentido de que serve para testemunhar o império da pulsão de morte agindo na comunidade, mas não serve para fazer a vida, para organizar a comunidade (nem que fosse para formar uma “Frente Ampla” ou instaurar uma CPI).
A produção da morte
Recentemente, Didi-Huberman realizou a exposição e o livro Levantes, com imagens fundadas no desejo. É o desejo, diz-nos o autor, que se contrapõe à pulsão de morte.[8] Dado o cenário sufocante que vemos em boa parte do mundo (e olha que o projeto de Didi-Huberman foi desenvolvido antes da pandemia e da eleição de Bolsonaro), as imagens fundadas no desejo viriam para nos ajudar a realizar levantes em diversos níveis.
Desde outro ponto de vista, todavia, não podemos esquecer que a morte também édesejo. Gilles Deleuze e Félix Guattari insistiram neste ponto: o desejo doente deseja a morte.[9] Nesse sentido, a morte não é a destruição que se opõe ao desejo, ela é a produção de um desejo, que pode chegar ao desejo de extermínio, de genocídio. (Por isso, os autores recusam o “paradigma da pulsão”, alegando que ele deixa escapar o aspecto produtivo da morte.)
Pergunto-me, agora, por que veríamos filmes que encenam o que hoje se pode chamar de pulsão de morte bolsonarista, já que estamos saturados desse comportamento e vivemos diariamente os riscos que sua política implica? Por que veríamos filmes que associam a morte a elementos tão profundos, tão imutáveis, tão soberanos?
Não deveríamos focar apenas nas imagens de saúde? Imagens de vida que nos contagiam a existir?
A resposta a esta pergunta, por um lado, é fácil. Sim, devemos ver imagens que nos deem vitalidade. Todavia, em alguma medida, também é possível aprender algo com esses filmes cheios de negatividade. Esse aprendizado, para mim, tem a ver com a morte. Se podemos assisti-los, para além da motivação óbvia de que são parte importante da cinematografia e da cultura do nosso país, é para enfrentá-los e desmontar certa submissão ao fatalismo em que eles parecem acreditar.
Um desconforto que sinto perante alguns dos filmes é a tentativa de associar a degradação e o desligamento a fatores inatos ou longínquos, inscritos no DNA da comunidade, quase como seu pecado original (Cronicamente inviável, Baixio das Bestas, Quanto vale ou é por quilo?). Existe uma visão desiludida do animal humano, com a compreensão de que, livrado à vivência das suas pulsões, ele viria a se degradar e a se destruir (Contra todos, Latitude zero, Amarelo Manga).
Em qualquer explicação sobre as pulsões, os desejos e a política de morte no bolsonarismo, não podemos compreendê-la apenas como uma negação, sob o risco de invisibilizar os seus aspectos produtivos: diga-se, o bolsonarismo é um projeto, destinado à morte de tantos, mas à sobrevivência de alguns. O bolsonarismo é uma produção que vem sendo desejada e enunciada há algum tempo e cuja emergência contou com a colaboração de muitas pessoas e instituições que atualmente estão (ou dizem estar) chocadas com as políticas de morte do governo e seus apoiadores.
*Bruno Leites é professor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. Autor de Cinema, Naturalismo, Degradação: Ensaios a partir de filmes brasileiros dos anos 2000 (Ed. Sulina, 2021).
Notas
[1]“O perverso não aceita restrições ao seu gozo”: Maria Rita Kehl analisa o negacionismo (CartaCapital, 5/3/21).
[2] Cito deliberadamente abordagens muito distintas para mostrar a amplitude da recorrência ao conceito, incluindo especialistas, jornalistas e políticos. As análises, evidentemente, possuem diversos graus de profundidade e sofisticação. A morte e a morte (João Moreira Salles, Revista Piauí). Pulsão de morte: como seria bom ter um líder que lutasse pela vida (Marta Suplicy, Folha de S. Paulo). Freud explica Bolsonaro na pandemia com conceito de pulsão de morte (Christian Dunker, Folha de S. Paulo). E daí? A pulsão de morte (Fernando Gabeira, site do autor). Tânatos (Vera Magalhães, Estadão). A morte é festa no Brasil de Bolsonaro (Tales Ab’Sáber, Revista Cult). O perverso não aceita restrições ao seu gozo: Maria Rita Kehl analisa o negacionismo (Entrevista de Maria Rita Kehl, Carta Capital). Protestos crescerão se Bolsonaro não brecar “pulsão de morte”, diz Renan (Reportagem sobre afirmações de Renan Calheiros, UOL).
[3]Ver A morte e a morte (João Moreira Salles, Revista Piauí, edição 166, jul/2020).
[4] Ver Lógica do sentido, apêndice Zola e a fissura, de Gilles Deleuze (ed. Perspectiva, 2007).A imagem-movimento, capítulo A imagem-pulsão, do mesmo autor (ed. 34, 2018).O inconsciente estético, de Jacques Rancière (ed. 34, 2009).Naturalist fiction: The entropic vision, de David Baguley (ed. Cambridge University Press, 1990).Le naturalisme, de Yves Chevrel (ed. PUF, 1993).
[5]Protestos crescerão se Bolsonaro não brecar “pulsão de morte”, diz Renan (Reportagem sobre afirmações de Renan Calheiros, UOL).
[6]Pulsão de morte: como seria bom ter um líder que lutasse pela vida (Marta Suplicy, Folha de S. Paulo).
[7] Ver Eztetyka da fome, em Revolução do Cinema Novo, de Glauber Rocha (ed. Cosac Naify, 2004).
[8] “Onde reina a obscuridade sem limite não há mais o que esperar. Isso se chama submissão ao obscuro (ou, se preferirem, obediência ao obscurantismo). Isso se chama pulsão de morte: a morte do desejo.” Contudo, na sequência o autor afirma a indestrutibilidade do desejo, “algo que nos faria, em plena escuridão, buscar uma luz apesar de tudo”. Ver Levantes, deDidi-Huberman (Edições Sesc São Paulo, 2017, p. 14 e 15).
[9] VerO anti-Édipo – capitalismo e esquizofrenia 1, de Gilles Deleuze e Félix Guattari (ed. 34, 2010), e Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 3, dos mesmos autores (ed. 34, 2012).