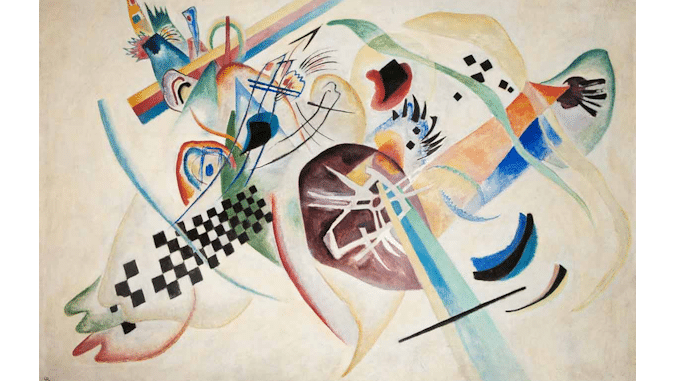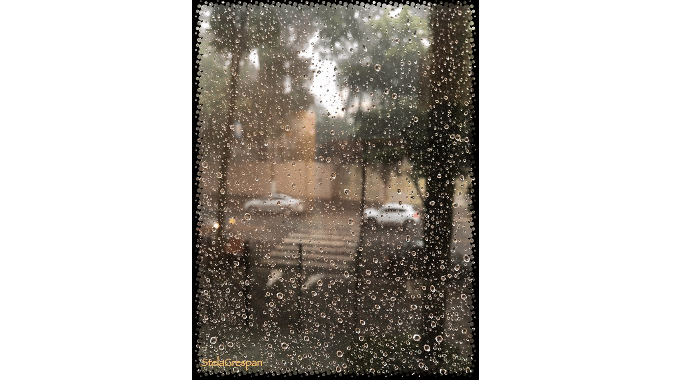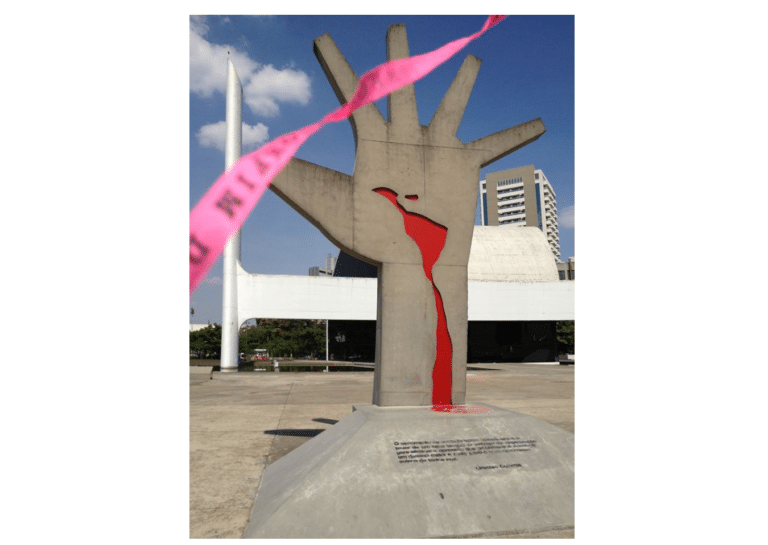Por THIAGO CANETTIERI*
Prefácio do livro recém-lançado
Toda catástrofe tem uma constituição: depois de suficientemente acumulada, é possível encontrar um “certo sentido” nela. Este se percebe não nos pormenores historiográficos ricos em detalhes, densos em descrições – definitivamente isso é necessário. No entanto, o sentido catastrófico se refere ao conjunto dos fatos que constitui a catástrofe. Uma vez desbastado o cipoal de incidentes e atravessado o lamaçal de datas, talvez seja possível perceber que há uma determinada orientação para a catástrofe.
Neste livro, procuro contar a história da catástrofe brasileira. Contudo, não o faço no sentido corrente. Já existem muitas e grandes contribuições nesse sentido e, com certeza, o leitor poderá encontrá-las sem muitas dificuldades – muitas delas foram utilizadas como fonte para esta obra. Meu interesse aqui está em descrever um processo histórico catastrófico que ocorre no Brasil, em demonstrar como o conjunto de práticas sociais, econômicas e políticas colocou em marcha um processo disjuntivo que, hoje, parece incidir em todo o mundo. Dito isto, cabe destacar que não nos interessa exatamente o indivíduo específico que, num determinado dia, tomou uma tal decisão – como poderá ser visto ao longo destas páginas, não construímos uma narrativa suturada em termos de grandes acontecimentos, mas uma tentativa de interpretação histórica que é, na verdade, um desdobramento. Espero demonstrar o próprio processo histórico brasileiro como catástrofe. Essa condição catastrófica tem a ver com a natureza mesma da formação periférica. A periferia é simultaneamente pressuposto e resultado da valorização do valor, todavia, embora participe da unidade posta pela forma do valor, a formação categorial que essa forma impõe como necessidade histórica não se efetivou positivamente, criando-se uma realidade dessincronizada. Trata-se, portanto, de uma expressão concreta da negatividade categorial característica do capital. A forma de ser característica da periferia tem a ver com o momento negativo da efetivação categorial do capital, que não pode se realizar senão de forma negativa. A periferia é, por assim dizer, a expressão da negatividade da substância que movimenta a realidade social, a valorização do valor. Busco, dessa maneira, compreender o processo constitutivo de efetivação da forma do valor em território brasileiro e suas conexões contraditórias e tensas com o mercado mundial que (re)produzem nossa condição catastrófica ao objetivar a abstração do capital.
Sigo o rastro de pólvora da tradição crítica brasileira, que assumiu a tarefa da crítica radical em relação ao processo de modernização capitalista na periferia do capitalismo. Entender tal especificidade, que a atmosfera do atraso é o vento que lufa as velas do progresso nacional, é condição necessária para entender o capital geral. Observar a modernização destrutiva na periferia é como acompanhar a história da modernidade com catalisadores. Implementação, consolidação e colapso acontecem quase que simultaneamente – tal como cantou Caetano (citando Levi-Strauss): “Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína”. Essa estranha simultaneidade do não simultâneo é algo fundacional no Brasil. A tradição crítica brasileira contraria o impulso nacional-desenvolvimentista, que quis (e ainda quer) acreditar na possibilidade da “defasagem ser superada linearmente como quem vence etapas previamente traçadas pelo percurso das sociedades hoje plenamente modernas” (Arantes, 1992, p.26). Aqui, repetimos que o atraso (se quisermos insistir na nomenclatura) na formação nacional não é algo a ser superado, mas elemento necessário do progresso por essas bandas. Uma formação truncada não é limite para a entrada nas ondas modernizantes – pelo contrário, é sua condição, sua própria forma de inscrição, que realiza uma cristalização histórica de um amálgama entre atraso e progresso.
Como afirmou certa vez Chico de Oliveira (1998, p.206-208), o Brasil “combinou, desde sempre, uma posição de vanguarda do atraso e atraso da vanguarda”. Não se trata de mero trocadilho com um toque hegeliano, mas de um diagnóstico concreto da formação e da desconstrução nacional. O atraso da vanguarda exprime que o desenvolvimento, o progresso e a entrada nos circuitos superiores da economia globalizada só se concretizam no Brasil como um “caldeamento de arraigadas sociabilidades autoritárias” – a rigor, pré-modernas. Por outro lado, a vanguarda do atraso significa que o país, “mal ultrapassadas as fronteiras da Segunda Revolução Industrial, logo se viu às voltas com a perda da capacidade regulatória do Estado, que vai desde a incapacidade para regular o sistema econômico em suas áreas político-territoriais, até apresentar a fratura exposta da violência privada”.
Como formulou Marildo Menegat (2023, p.120) ao pensar o ensaio A fratura brasileira do mundo, de Paulo Arantes (2004), “o desafio”, que aqui também persigo, “por isso, é pensar o processo de formação do Brasil por meio de suas modernizações retardatárias”. Isto é, partindo do reconhecimento de que a forma que o conjunto de categorias historicamente determinadas que deram régua e compasso para a experiência moderna intraeuropeia nunca se consolidaram plenamente por aqui, ou, mais precisamente, funcionam de uma forma diversa. Roberto Schwarz (1999) é preciso: “nem se aplicam com propriedade, nem podem deixar de se aplicar, ou melhor, giram em falso mas são a referência obrigatória”.
Que o Brasil seja uma relevante matéria para o pensamento, já não restam dúvidas. Entretanto, interessa-nos aqui pensar o país não como identidade, mas como um problema. As contradições do Brasil – tido como o país do futuro, que “desenvolveu cinquenta anos em cinco”, mas que, a despeito de sua modernização, apresenta relações retrógradas, o que é usado como metáfora para um capitalismo de compadrio, recordista de crescimento econômico, mas configurado como um dos mais desiguais do mundo – são indicativas da relevância da matéria brasileira para o pensamento. No Brasil, a dialética já está dada, embora sistematicamente negligenciada. Seja como for, as especificidades de nosso país, sua história de formação e seu processo de destruição são elementos que permitem compreender todo o mundo. Há uma vantagem epistemológica na posição periférica: a parte revela o todo. Mesmo nas diferenças – que são muitas e profundas –, a periferia indica o horizonte do mundo.
Os últimos anos, que escancaram a nossa desintegração nacional, não estão descolados da desintegração geral do sistema produtor de mercadorias. A desconstrução do pacto da Nova República, a desilusão com o fim da última rodada de modernização para o desenvolvimento, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente em 2018 são algumas das cenas desse derretimento nacional. O Brasil é fruto de seu tempo. Na verdade, o país parece indicar um tempo que ainda está para chegar ao restante do mundo: o colapso da sociabilidade da mercadoria. Afinal, essa é a sua verdade inaudita.
Esse processo ganha aderência social à medida que se disseminam, como um vírus, o medo e o ressentimento: o fim das formas sociais de mediação social historicamente constituídas pelo capitalismo não resulta em dias melhores. Na crise, essa dissolução só é experimentada negativamente e, assim, muitos se apegam a maneiras fetichistas de sustentação dessas formas sociais esgarçadas. A particularidade brasileira apresenta o fenômeno da totalidade concreta do colapso avant la lettre. A experiência do colapso ganha substância se lembrarmos o recorrente mito fundador de nossa nação, que sempre esteve às voltas com uma promessa de futuro. Em geral, entendíamos que o Brasil, o verdadeiro Brasil, com todo o seu potencial, realizar-se-ia no futuro. Era como se existisse um encontro marcado com o futuro e a história corresse a nosso favor. Entretanto, acho que hoje é possível reler de maneira mais precisa esse mito. O Brasil é o país do futuro não porque carrega a promessa iminente de realizar as expectativas que recaíam sobre ele, mas porque se tornou o índice do futuro do mundo. O encontro marcado com o futuro, nesse sentido, já ocorreu. E o que resultou disso foi uma catástrofe. O Brasil é a catástrofe que aguarda o resto do mundo. Na realidade, com o avançar do colapso mundial diante da crise interna do capital, parece que finalmente os ponteiros dos relógios do mundo estão se sincronizando com os nossos. É o mundo que nos alcançou. Ora, não era o Brasil o país do futuro? Claro que sim! Só não era o futuro que esperávamos. E agora esse futuro chegou: “Brasil, o país do presente”.
À medida que a crise avança, a condição “Brasil” se generaliza. A dissolução das formas-sociais que enformavam a vida cotidiana abre espaço para o asselvajamento da sociedade. No Brasil, essa condição já se aprofundava há muito tempo, pois um país de capitalismo periférico nunca constituiu completamente essas formas sociais e se valeu de formas arcaicas para viabilizar a própria modernização. Condição paradoxal a nossa, a modernização só pode ter unidade sob o amálgama bárbaro e violento que se desenrola continuamente na periferia. Ou seja: por aqui não há espaço para dualismos, como bem observou Chico de Oliveira. O que hoje ocorre, no entanto, nada mais é do que a implosão desse frágil manto de civilidade que pareceu organizar a barbárie com técnicas mais ou menos eficientes de gestão de populações.
Quando se percebe o naufrágio em que estamos metidos, já não cabe a posição estoica de um Lucrécio, que experimentava algo de sublime. Para quem está embarcado no navio a pique, não cabe a contemplação de sua própria condição – apenas a saída desesperada para se manter vivo, nem que para isso seja necessário se apegar a formas sociais decadentes, que fazem afundar ainda mais rapidamente os sobreviventes, fazendo-os se afogar. É nessa chave que devemos entender a ascensão explosiva do novo radicalismo de direita. E nesse mesmo registro compreendemos a posição retrógrada de boa parte do campo de oposição, que parece ter como único horizonte possível o retorno a um ideal de país que está no passado. É a chave do colapso que permite destrancar a porta de saída do labirinto catastrófico em que nos encontramos.
Em adição, o texto tem uma franca e aberta postura política. Não no sentido de propor algo para colocar no lugar de nossa situação. Tampouco apresento um manual de como sair desse atoleiro. Este texto é tão somente uma leitura de nosso atual momento. Contudo, a posição que assumo aqui arrisca desafinar o coro dos contentes integrados – ou daqueles que gostariam de ocupar esses cordões. Que vivemos uma catástrofe, também, já não é algo muito questionado. Com efeito, são várias: catástrofe econômica, civilizacional, sanitária, ambiental, etc. A palavra vem do grego antigo katastrophe, derivada, por sua vez, da palavra katastrephein, que é formada pelo prefixo kata, “para baixo”, e straphein, “virada”. Este momento descendente parece se impor como único horizonte possível, o que produz toda sorte de “sintomas mórbidos” que, diferentemente do que esperou o filósofo italiano, não anunciam o nascimento do novo – mas apenas as agruras do perecimento.
Brasil-catástrofe constitui-se em um esforço para extrair um sentido de nossa emergência. Escrever este ensaio é uma tentativa de organizar uma constelação catastrófica. Não se trata de fazer uma “historiografia do Brasil”, já feita por tantos autores e autoras. A intenção maior é identificar que nossa catástrofe, que hoje se torna flagrante, já estava inscrita desde a invenção da nação. Esse desenvolvimento catastrófico que ora culmina explosivamente não é um raio em céu azul. A tempestade já estava aí há muito tempo. Mas só agora, quando os pingos realmente engrossaram, é que muitos começaram a perceber a gravidade da situação. Para ser mais direto: Brasil e catástrofe são a mesma coisa.
O texto opera num elevado grau de abstração, tomando como categorias fundamentais o “Brasil” e a “catástrofe”. Como se sabe, há especificidades na forma determinada por meio da qual a totalidade se concretiza em diferentes escalas e em diferentes lugares. Tratar desse problema no âmbito que proponho neste livro traz uma infinidade de problemas. Por exemplo, é inevitável um certo achatamento das diferenças das formas determinadas de expressão e realização da totalidade. Espero, porém, que o benefício da leitura do argumento, mesmo que apresentado em linhas gerais, a partir dessa abstração, possa contribuir para o pensamento e para a crítica ao atual estado de coisas.
Uma advertência: vale adiantar ao leitor que não há nada de inédito neste livro. Tudo aqui, de certa forma, já foi escrito por pensadores e pensadoras que tomam o Brasil como objeto. Se há alguma contribuição tímida nestas páginas, não está exatamente nos achados empíricos ou teóricos – estes são todos de segunda mão –, mas na forma como estão organizados e estruturam a exposição de nosso argumento. As leituras e comentários de tantas áreas diferentes e temas diversificados que confluem aqui beiram o diletantismo. Entretanto, gostaria de acreditar que há algo nessa miríade de referências que faz sentido e que pode dizer algo sobre o Brasil, sobre nosso tempo e sobre a catástrofe que vivemos. Essa forma de abordagem, inspirada nas constelações, é o combustível para operar o movimento aqui exposto. Uma constelação é um agrupamento estelar identificável na esfera celeste que forma um determinado padrão composto por estrelas importantes, aparentemente próximas umas das outras no céu noturno. Todavia, como se sabe, as figuras encontradas no céu variam segundo épocas e lugares. Por exemplo, a constelação romana Ursa Maior era a Carroça de Alexandre para os gregos; já para os egípcios, representava um Arado, enquanto os indianos encontravam nela os Sete Sábios. Este ensaio é uma tentativa de traçar novas linhas, de formar novas imagens com as estrelas que já estão aí. Um novo arranjo na forma de percebê-las pode ajudar a pensar no nosso problema: o Brasil. Trata-se de dispô-las de uma determinada maneira que é diferente da anterior, de estabelecer conexões impensadas e, assim, de aprender algo novo.
Como será visto, o texto deste ensaio tem outra característica: é um tanto fragmentado. Abordar a catástrofe que eclodiu e desde então não cessa de não acabar obriga a uma escrita fragmentada para dar conta dos múltiplos estilhaços lançados pelo esfacelamento de um país. É preciso uma certa educação pelo fragmento para perceber o sentido dos cacos. Embora tenha uma certa cronologia, muitos dos eventos foram retirados de uma linha temporal rígida – pois a história não é exatamente uma linha reta. Com isso, os fenômenos vêm e vão nas páginas não por uma falta de rigor, mas pela compreensão de que a repetição e a circularidade possuem uma função epistemológica: é preciso reconhecer a permanência catastrófica que forjou o Brasil.
Contudo, mesmo com uma forma constelar e fragmentária, há uma certa orientação que organiza nossa interpretação. Como poderá ser visto pelo leitor, existe um eixo que estrutura as nossas análises atribuindo destaque ao estatuto da forma específica de manifestação e transformação do trabalho como índice das transformações sociais e políticas observadas no desenvolvimento de nossa catástrofe particular. Mas não entendo o trabalho da mesma forma que o marxismo tradicional. Nesta análise, o aporte teórico compreende nossa catástrofe a partir da centralidade negativa do trabalho. Com isso, espero fugir da interpretação que se assenta numa concepção ontológica do trabalho, concebendo-o de maneira trans-histórica e, dessa forma, presa ao fetichismo do trabalho. Trata-se, de nossa perspectiva, de reconhecer que o trabalho é uma forma social historicamente determinada própria da modernidade, que está em contínua transformação resultante da dinâmica social. Portanto, nossa leitura acompanha a dinâmica interna do capital, que transforma o mundo do trabalho a partir de sua contradição interna fundamental: a eliminação do trabalho vivo nos circuitos da produção do valor pelo imperativo mesmo de aumentar constantemente a produtividade a fim de acumular mais. Compreender essa grande transformação, que, na prática, é uma grande decomposição das formas sociais historicamente constituídas, é, a nosso ver, uma profícua forma de interpretar a catástrofe nacional.
Dessa maneira, apresento alguns momentos históricos da particularidade brasileira tendo em mente a inserção dessa particularidade no nível global da totalidade concreta da crise. Afinal, por mais que se tome o Brasil como objeto de análise, sua compreensão não pode ser feita apenas pela economia e política nacionais, uma vez que sua integração à economia mundial já é de longa data e profundamente penetrada pelas forças planetárias da acumulação. Buscarei, ao longo deste livro, sempre remeter para a íntima conexão entre o Brasil e os processos que dão forma e movimentam a economia mundial como um todo. Por fim, espero deixar claro que a catástrofe brasileira é a catástrofe geral. Será tratada aqui a forma específica da inserção brasileira na planetarização da modernidade, as diferentes rodadas de modernização, o momento de implantação de gestão da crise com o neoliberalismo e seu contínuo agravamento. Serão tematizadas a decomposição do mundo do trabalho, a decadência desse princípio de mediação social e a generalização da superfluidade de parcelas crescentes da sociedade, o que conduz invariavelmente ao derretimento da política e a decorrentes ondas explosivas de violência. Esse rescaldo neoliberal e o abalo sísmico de 2013 aparecem para tematizar a demolição da Nova República brasileira e o estado de anomia que fermentou por baixo de seus escombros. Esse processo dá testemunho do definhamento do direito e instaura uma sociedade em processo de dissociação. Disso emerge uma razão paranoica que encontra guerra em todo lado e se coloca de prontidão para a batalha. Os efeitos da catástrofe implicam o derretimento da política tal como a conhecemos. Por isso, parece ganhar força renovada a adesão das pessoas a essa catástrofe sem indicar qualquer regressão, mas, ao contrário, um progresso catastrófico.
Esse processo em curso no Brasil pode ser lido como um anúncio para um mundo em crise. É preciso extrair um sentido para a catástrofe que estamos vivendo, pois essa é a condição para tentar impedir o movimento perpétuo do desastre. Sócrates, no diálogo de Fédon, sugere que o conceito Sol permite “ver” o Sol sem queimar as nossas retinas. No nosso caso, é preciso encarar de frente nossa catástrofe antes que seja tarde demais – afinal, é próprio das catástrofes destruírem até mesmo os critérios e os índices que usamos para compreendê-la. Talvez, ao escrever este livro, ainda espere que esse limiar não tenha sido ultrapassado – mas acredito que estamos prestes a fazê-lo.
* Thiago Canettieri é professor do departamento de urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Autor, entre outros livros, de A Condição Periférica (Consequência). [https://amzn.to/4bkmEfs]
Bibliografia
Thiago Canettieri. Brasil-Catástrofe: constelações da destruição que estamos vivendo. Editora Consequência.