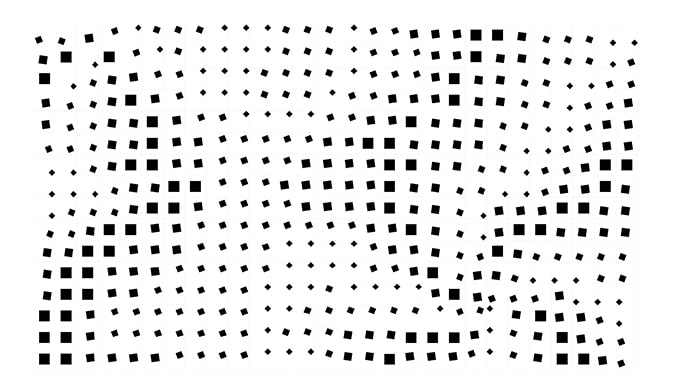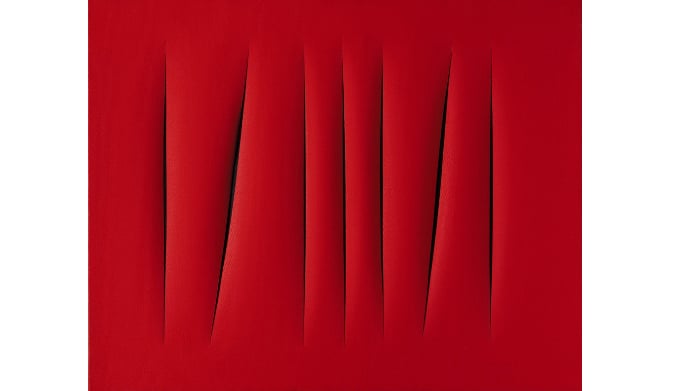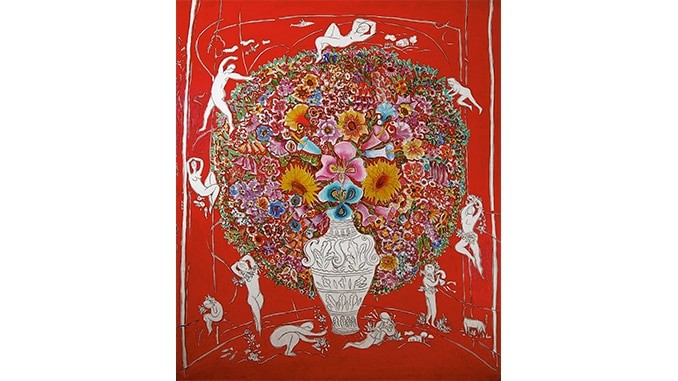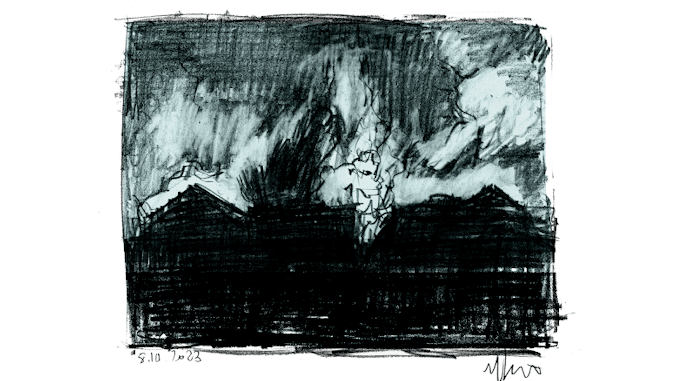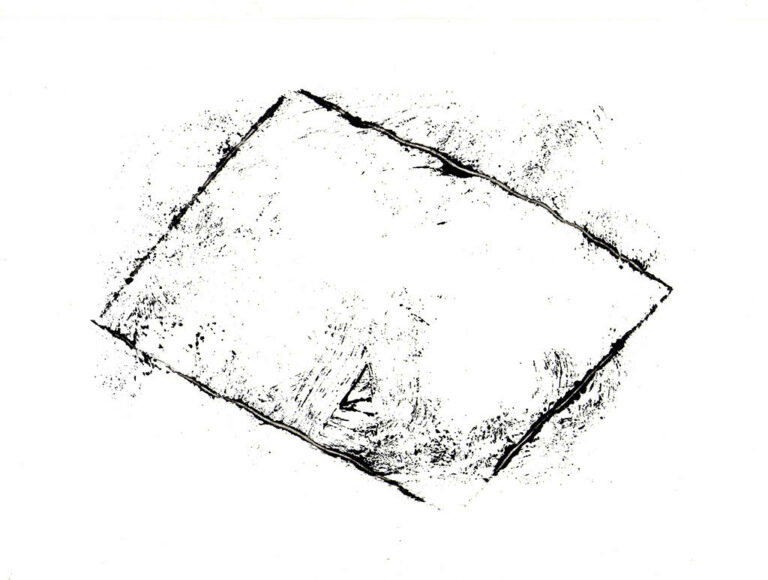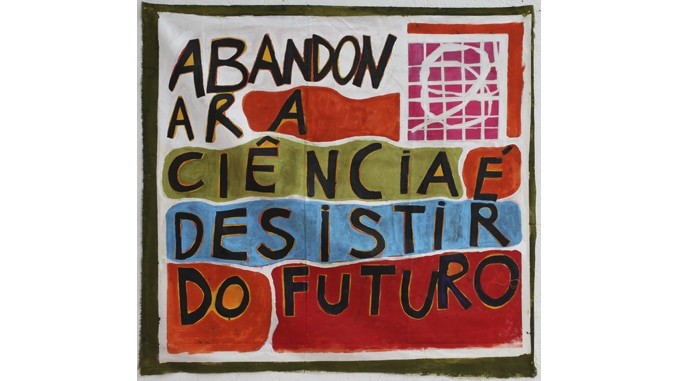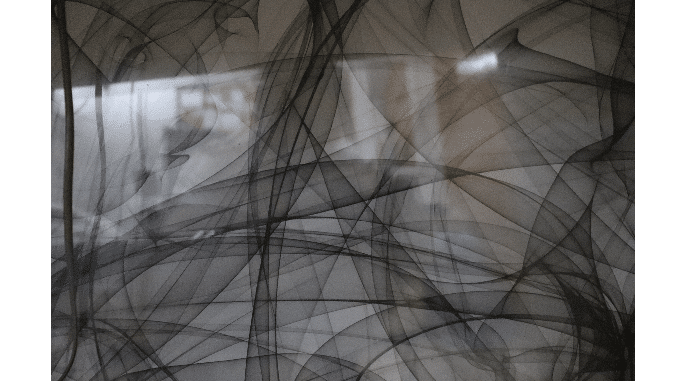Por PAULO CAPEL NARVAI*
“Sistemas de saúde” têm como missão, além da indispensável assistência individual, executar ações que respondam adequadamente a todas as necessidades sociais em saúde
Tenho publicado, no site A Terra é Redonda, artigos sobre saúde, abordando tudo o que, a meu ver, importa sobre o assunto. Frequentemente, me detenho em aspectos estruturais e conjunturais do nosso sistema universal de saúde, o SUS – Sistema Único de Saúde, pois ele, não obstante seus inúmeros problemas, dentre os quais o subfinanciamento crônico, é reconhecidamente uma importante conquista da sociedade brasileira, cujos princípios e diretrizes estão cravados na Constituição de 1988 (CF1988), no capítulo “Da Ordem Social”, que a própria CF1988 afirma ter “como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. Não foi à toa que Ulysses Guimarães qualificou a Constituição Federal de 1988 como “Constituição Cidadã”.
Ao SUS, dediquei um livro intitulado “SUS: uma reforma revolucionária – Para defender a vida”, detalhando o processo histórico e as lutas políticas que levaram à sua conquista e analisando seus fundamentos teóricos, desafios, riscos e perspectivas.
Nos textos aqui publicados, e ao abordar em outros contextos temas relacionadas à saúde, tenho me referido, além do termo “saúde”, às expressões “saúde pública” e “saúde coletiva”, tal como as compreendo, buscando diferenciá-las de modo tal que sejam compreensíveis aos meus interlocutores. Os conceitos ora se aproximam, ora se afastam, pois efetivamente têm significados distintos, embora em alguns contextos possam ser tomados como sinônimos. O próprio conceito de “saúde” não é, ao contrário do que muitos pensam, autoexplicativo.
Por essa razão, por vezes ocorre a algum leitor me pedir para “explicar essas diferenças”. Como sou docente de Saúde Pública da USP, é comum que me façam a pergunta que me chegou, mais uma vez agora no começo de março, quando se iniciou o ano letivo: “Por que a graduação da USP é em ‘Saúde Pública’ e não em ‘Saúde Coletiva’, se todos os outros cursos no Brasil são de ‘Saúde Coletiva’?”. Respondo sempre que o tema é complexo e que, no caso da USP, uma pista para tentar entender isso está no livro “Cem anos em Saúde Pública: a trajetória acadêmico-institucional da FSP/USP – 1918-2018”, publicado em 2019, cuja versão digital está disponível gratuitamente no portal de livros abertos da USP. No capítulo introdutório, que tive o prazer de escrever com o colega Eliseu Waldman, abordamos o tema da Saúde Pública no século XX, em São Paulo e no Brasil.
No presente artigo, reproduzo e desenvolvo alguns trechos do capítulo 8 do livro “SUS: uma reforma…”, para ajudar interessados nessa reflexão sobre saúde, saúde pública e saúde coletiva. Decerto que não se trata de mais do que uma breve introdução a esses temas, razão pela qual conto com a generosidade de leitores mais exigentes.
Saúde
Diferentes definições de “doença” acompanham a humanidade desde tempos imemoriais e a partir desses vários entendimentos sobre o seu significado os homens foram, em distintos períodos históricos, e conforme os recursos materiais, científicos e tecnológicos de que dispunham, organizando modos de lidar com a enfermidade e suas consequências. Os modos de compreender as doenças foram suficientes, para tentar enfrentar e resolver os problemas de doenças, em indivíduos e populações, por séculos e séculos (Andrade & Narvai, 2013).
Enquanto expressão de algo indesejável, negativo, ameaçador e muitas vezes mortal, “a doença tem condições de chamar a atenção e sinalizar, para o homem, que alguma coisa não vai bem com os indivíduos ou com as coletividades doentes e que, portanto, é preciso fazer alguma coisa não apenas para afastar a ameaça que a doença representa, mas, também, para entender a natureza íntima dessa ameaça” (Lefevre et al., 2004).
Mas, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, foi necessário não apenas reagir a algo (a doença), mas afirmar algo (a saúde), pois a Organização das Nações Unidas (ONU) estava disposta a criar uma organização específica para lidar com as questões relacionadas com a saúde, nos países e, portanto, em escala planetária.
Não foi possível, porém, definir “saúde”, tantos foram os enfoques e abordagens que se acumularam ao longo do tempo. Mas foi possível construir um conceito de “saúde”. Assim, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi criada, em 7 de abril de 1948, data desde então dedicada à comemoração do “Dia Mundial da Saúde”, a saúde foi definida como sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Muitos consideram doença e enfermidade sinônimos.
Mas não são, pois alguém pode estar doente sem que a manifestação da doença ocorra em grau tal que haja comprometimento relevante de funções corporais, impedindo o exercício de uma ou mais funções e comprometendo o autocuidado e a autonomia da pessoa. Haveria, portanto, doença, mas não enfermidade. Quando a doença evolui para o comprometimento de alguma função, caracterizando-se algum grau de incapacidade funcional, requerendo internação ou cuidados profissionais prestados por terceiros, admite-se que há, então, enfermidade, para além da doença. Mas essa distinção entre saúde e enfermidade, baseada essencialmente na possibilidade do autocuidado ou na necessidade do heterocuidado (profissional, portanto), é arbitrária, podendo ser aceita ou não.
Embora o conceito (“definição”, segundo a OMS) de saúde da organização vinculada à ONU seja largamente difundido, ele é muito criticado, desde que foi anunciado. Uma dessas críticas sustenta que o conceito é utópico, pois “completo bem-estar físico, mental e social” é uma condição muito difícil, senão impossível de se alcançar – isto, sem entrar no mérito do que significa “bem-estar” para cada pessoa, ou em cada cultura. Críticos ponderaram que o termo “completo” deveria ser retirado da definição “já que saúde não é um estado absoluto” (Terris, 1992), chegando-se até mesmo ao questionamento da sua utilidade operacional, uma vez que sendo subjetivo o conceito seria mais uma “declaração de princípios e não propriamente uma definição” (Hanlon, 1955).
A afirmação da saúde como sendo algo diferente do que simplesmente não apresentar doença destoa do senso comum. Embora em termos biomédicos a saúde possa ser conceituada como “um conjunto de juízos de caráter instrumental, orientados normativamente pela noção de controle técnico dos obstáculos naturais e sociais a interesses práticos de indivíduos e coletividades, tendo como base material o conhecimento e domínio de regularidades causais no organismo (corpo/mente/meio) e, como forma de validação, uma série bem definida de critérios a priori para o controle das incertezas” (Camargo, 1997), para as pessoas, salvo exceções, tem saúde quem não está doente, e poucos se ocupam do tema para além disso. Mas “falar sobre saúde não equivale a falar sobre não-doença e falar sobre doença não equivale a falar sobre não-saúde” (Ayres, 2007).
Embora uma definição de saúde seja, portanto, uma questão em aberto no mundo acadêmico, aceita-se em termos práticos e para fins operativos que, no plano subindividual, a “saúde” é uma das dimensões de um complexo de reações químicas, interações celulares e fluxos físicos em nível molecular, tissular e sistêmico. A capacidade de uma célula, tecido ou órgão se adaptar e produzir respostas decorrentes de modificações do meio interno e externo nos diferentes níveis de desenvolvimento biológico vão caracterizar o surgimento, ou não, de um estado patológico (Narvai & Frazão, 2012).
No plano individual, a “saúde” é uma das dimensões de um processo em que se alternam, dinamicamente, graus variados de disfunções ou anormalidades e graus variados de normalidades ou funcionalidades orgânicas, em que estas predominam sobre aquelas. Tais disfunções e anormalidades ocorrem em indivíduos que são simultaneamente organismos biológicos e seres sociais. Assim, qualquer alteração de saúde resulta não apenas de aspectos biológicos, mas também das condições gerais da existência dos indivíduos, grupos e classes sociais, abrangendo dimensões individuais e coletivas.
No plano individual, os momentos extremos seriam de um lado o tal “mais perfeito bem-estar” e, de outro, a morte, com uma série de eventos intermediários. Qualquer que seja o estímulo produtor de doença e qualquer que seja a natureza e a magnitude da resposta do indivíduo, o resultado é um processo, entendendo-se como tal, uma série de eventos concomitantes ou sucessivos (Leser et al., 1985).
No plano coletivo, esse processo, conceituado como “processo saúde-doença” corresponde a mais do que a soma das condições orgânicas de cada indivíduo que compõe um conjunto populacional. Embora as condições de saúde de uma dada população sejam comumente expressas por indicadores quantitativos, aspectos e dimensões qualitativas também podem ser empregadas com essa finalidade. Medidas demográficas e epidemiológicas, indicadores relativos a óbitos, doenças, serviços de saúde, riscos de adoecer e morrer e às condições de vida podem ser empregados. Nesta dimensão, o termo composto “saúde-doença” é expressão de um processo social mais amplo que resulta de uma complexa trama de fatores e relações, representadas por determinantes mais próximos e mais distantes do fenômeno patológico, conforme o nível de análise adotado: familiar, domiciliar, comunitário, bairro, municipal, nacional, global.
Assim, apenas em situações muito específicas a “saúde” resulta da disponibilidade e do acesso aos serviços de saúde que, embora indispensáveis para, no plano individual, produzir conforto, controlar a dor e reduzir o sofrimento têm, na dimensão coletiva, um papel bastante modesto na produção de melhores níveis de saúde. A saúde “não se refere a regularidades dadas que nos permitem definir um modo de fazer algo, mas diz respeito à própria busca de que algo fazer. Estamos sempre em movimento, em transformação, em devir, e porque somos finitos no tempo e no espaço e não temos a possibilidade de compreensão da totalidade de nossa existência, individual ou coletiva, é que estamos sempre, a partir de cada nova experiência vivida, em contato com o desconhecido e buscando reconstruir o sentido de nossas experiências.
O contínuo e inexorável contato com o novo desacomoda-nos e reacomoda-nos ininterruptamente no modo como compreendemos a nós mesmos, nosso mundo e nossas relações. É a esse processo que está relacionada a abertura relativamente grande do sentido da expressão saúde, que encontramos coletivamente, em diferentes épocas e grupos sociais, e entre os diferentes indivíduos em um dado tempo e local” (Ayres, 2007).
A Constituição brasileira de 1988 afirma que as ações de saúde são de “relevância pública”. Isso decorre do reconhecimento de que a “saúde” é um ‘bem público puro’ por apresentar, entre outros aspectos, algumas características que a distinguem de outros tipos de bens e serviços, dentre as quais se incluem sua universalidade, imaterialidade, indivisibilidade e inapropriabilidade (Narvai & Frazão, 2012).
A ‘universalidade’, decorrente do fato de que é imprescindível que todos, sem exceção, usufruam-na. Não fosse “apenas” por razões humanitárias e de justiça social, também por razões epidemiológicas: ainda que lesões ou casos ou condições especiais se localizem em corpos (individuais, portanto), tais corpos portam algo que interessa e, às vezes, ameaça a todos na sociedade, pois esse algo que portam representa algum risco para todos e não apenas um risco individual. Assim, longe de ser “um problema pessoal” a saúde-doença, reconhecidamente, diz respeito e interessa a todos, mesmo quando se reconhece e respeita a dimensão privada do evento.
A ‘imaterialidade’, em razão de que a saúde não tem existência material exterior às pessoas. Pode-se até doar órgãos para terceiros, mas “saúde”, não.
A ‘indivisibilidade’ resulta do fato de que, não tendo existência material externa, não é possível decompor a saúde em componentes, como se faz com certos bens. Entretanto, mesmo em sua manifestação material interna (a higidez ou o comprometimento patológico de um ou mais órgãos) tem-se, individualmente, uma condição única não passível de ser considerada em separado. Por essa razão, conforme se sabe, expressões como “saúde bucal”, “saúde mental” ou equivalentes, têm finalidade meramente didática ou operacional.
A ‘inapropriabilidade’ da saúde é uma consequência de não ser possível, pelas características que lhe são inerentes, transformar “saúde” em mercadoria. Não é possível a alguém apropriar-se da saúde de outra pessoa. É possível tratar bens e serviços relacionados à saúde-doença como mercadorias: medicamentos, hotelaria em hospitais, prestação de serviços profissionais de assistência, próteses, órteses etc. E, portanto, vendê-los como mercadorias. Mas isso não se confunde com “vender saúde” – o que, de resto, simplesmente não é possível.
Cabe assinalar, a propósito, que o povo, em sua sabedoria, costuma simplificar as coisas. Basta lembrar da nossa satisfação quando alguém que estimamos está “vendendo saúde” – neste caso, com significado oposto ao “vender saúde” mencionado, este com significado mercantil. A alegria resulta apenas da compreensão, compartilhada por todos em todas as classes sociais e níveis de escolaridade, de que de fato “saúde não tem preço”.
Saúde pública em crise
É bem conhecida a clássica definição de saúde pública formulada por Winslow (1877-1957) e que pode ser encontrada na maioria dos bons manuais sobre o assunto: “Saúde pública é a ciência e a arte de evitar doença, prolongar a vida, e promover a saúde física e mental, e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade, visando o saneamento do meio, o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento da doença e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que assegurarão a cada pessoa na comunidade o padrão de vida adequado para a manutenção da saúde” (Winslow, 1920).
Desde o final da Idade Média, e beneficiando-se das possibilidades geradas pelo Renascimento e o Iluminismo, a saúde pública se consolidou como um campo de conhecimentos e práticas no contexto das revoluções burguesas na Europa, nos séculos XVII e XVIII, quando diferentes visões centradas no homem e no seu ambiente de vida passam a nutrir as explicações para a saúde e a doença. Os estudos sobre o corpo humano, interditados no período medieval, prosperam. Retoma-se de certo modo, mas em outro patamar, as relações homem-natureza do período greco-romano.
A evolução e difusão da ciência vão criando as bases de um conhecimento que, sobretudo após a Revolução Industrial, transformaria radical e profundamente a saúde pública – em compasso, por certo, com as transformações igualmente radicais e profundas que a industrialização e a vida moderna trariam. Mas persistiriam por muito tempo, e ainda hoje estão muito vivas nas populações ao redor do mundo, as explicações baseadas em sentenças divinas, miasmas e fatores mágico-religiosos (Scliar, 2007).
Com o surgimento de vários Estados nacionais que se autodeclararam repúblicas socialistas, como a União Soviética e a China, mas também outros países na África, na Ásia e na América Latina, e sobretudo após a criação da OMS, a saúde pública experimentou uma crise paradigmática importante no século XX. A tradição sanitária de a partir do centro de poder reconhecido em cada sociedade, seja nas comunidades primitivas, seja nas cidades-Estados da Grécia Antiga como em Tebas, Atenas, Esparta e Tróia, ou medievais como Gênova, Florença e Veneza ou, sobretudo, a partir da constituição e consolidação dos Estados nacionais no período que vai do final da Idade Média até o século XIX, fazer controle social com finalidades meramente econômicas, atuando de modo focalizado sobre pessoas e grupos populacionais que apresentam riscos, efetivos ou potenciais, que ameaçam o conjunto das comunidades, foi posta em questão.
No século XX a saúde pública que muitos países passaram a almejar tinha como foco a universalização do acesso aos cuidados de saúde, por meio do que se convencionou denominar de “sistemas universais” de saúde, custeados com recursos fiscais arrecadados em cada país, de modo que ao acesso universal correspondesse, também, a gratuidade dos serviços prestados.
A velha saúde pública estava posta em xeque. Precisaria seguir com suas estratégias clássicas de quarentena e isolamento para enfrentar epidemias, mas precisaria incorporar imunizações e medicamentos a esse arsenal. E mais ainda: tendo em vista os avanços nos conhecimentos a respeito da profilaxia de doenças e a prevenção de riscos e agravos à maternidade e à infância, por exemplo, então a saúde pública deveria ampliar muito o leque de suas intervenções na saúde das populações. Tecnologias “apropriadas” deveriam ser desenvolvidas para tornar isso possível e para que os sistemas de serviços fossem economicamente sustentáveis, ainda que em países com parcos recursos, como na África, Ásia e América Latina. Os sistemas universais de saúde da Europa ocidental, do Canadá e do Japão mostravam que isto era possível. E a todos parecia justo que todos os povos almejassem desfrutar desse tipo de proteção sanitária.
Mas havia, para isso, que transformar também toda a teoria que dava sustentação à velha saúde pública. Em 1977, a Assembleia Mundial da Saúde anuncia “Saúde para Todos no Ano 2000”, como uma consigna a partir da qual todos os esforços possíveis deveriam ser desenvolvidos pelos países para conseguir uma extensão da cobertura dos serviços básicos de saúde, desenvolvendo-se “sistemas simplificados de assistência à Saúde”. O tema seria retomado um ano depois, em Alma Ata, na Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, promovida pela OMS.
A Declaração de Alma-Ata, documento final do evento, reafirma a saúde como direito humano, sob a responsabilidade política dos governos, e reconhece que a sua produção resulta de ações intersetoriais, não sendo suficiente produzir apenas bons serviços de saúde. Firmava-se a convicção, pelo menos entre especialistas, que é um erro – e que pode custar muito caro aos países – reduzir “saúde” à oferta de exames, procedimentos e medicamentos, ainda que reconhecendo a importância desses aspectos no plano individual. A saúde é também, e em muitos casos sobretudo, uma produção social, sendo indispensável levar em consideração os aspectos sociais que a determinam (Buss & Pellegrini-Filho, 2007).
Aos poucos se consolidava um movimento que, no plano internacional, ganharia a denominação de “Nova Saúde Pública” e que se caracterizaria pela afirmação de que a saúde pública necessária aos países deveria se ocupar da prevenção, tanto das doenças infecciosas quanto das não-infecciosas, da promoção da saúde, e da ampliação e melhoria da qualidade da atenção médica, incluindo as possibilidades de reabilitação, que o desenvolvimento científico possibilitava. Para isso, a “Nova Saúde Pública” deveria “buscar respostas assentadas nas bases científicas das ciências biológicas, sociais e comportamentais, tendo como áreas de aplicação populações, problemas e programas, segundo o referencial da universalidade do acesso” (Paim & Almeida-Filho, 1998).
Quem fala, portanto, em saúde pública pensa em doenças que acometem muitas pessoas e até mesmo populações inteiras e tem sempre como referência não apenas as questões relacionadas com o restabelecimento da saúde das populações, mas as ações que o poder deve realizar para mantê-la ou recuperá-la, para todos e no interesse de todos. Por essa razão, quem fala em “saúde pública” olha para o poder e, se há Estado, busca saber o que ele faz, como age, com base em que tipo de conhecimento, legitimando de que modo suas ações. Procura saber também como o Estado obtém recursos para financiar as ações e programas e como executa essas ações e avalia seus resultados. Para a “saúde pública” o poder está no Estado e este é o sujeito que a protagoniza, pois é quem está no centro das ações.
Saúde coletiva
Com a “saúde coletiva” o olhar é outro, pois o sujeito dos processos que devem produzir a saúde de todos é a própria população, suas comunidades, grupos e classes sociais e suas interações, incluindo o conjunto das instituições e, como não poderia deixar de ser, também o próprio Estado. O centro das preocupações, no entanto, mais do que a doença em populações, é a saúde e o modo como cada sociedade a conquista, recupera e mantém. É nesse sentido que a saúde coletiva recusa o conceito de saúde como sendo apenas o “outro polo” da doença.
Afirma, ao contrário, que saúde corresponde a algo que vai muito além da “não-doença” e que, por isso, não bastam ações que tenham apenas a doença, ainda que sejam epidemias, como referencial para sua execução. Por isso, para a saúde coletiva, os não-doentes em uma população importam tanto quanto os doentes e as epidemias, pois o que ocorre com não-doentes é indispensável para a compreensão do que ocorre com doentes e os indivíduos vulneráveis a epidemias.
Ao reconhecer que em qualquer agrupamento humano o poder se distribui pelos indivíduos, grupos e classes sociais, a saúde coletiva coloca seu foco nessas relações e interações e busca desvendar as interfaces das diferentes áreas e tipos de conhecimento que fundamentam as ações individuais e coletivas, referidas à produção social da saúde-doença-cuidado, compreendidos como processos complexos e não apenas, portanto, a ausência de enfermidades. Enquanto a saúde pública foca na doença e, sobretudo, nas epidemias, a saúde coletiva orienta suas ações para a saúde e a necessidade de sua universalização como um direito humano que deve ser assegurado a todos, sem exceção.
É também por este motivo que a saúde coletiva considera que, nas sociedades contemporâneas, o Estado é uma instituição central para assegurar o direito de todos à saúde, por meio de políticas públicas, sobretudo em formações sociais marcadas por desigualdades acentuadas e pelo não reconhecimento de direitos. Esse reconhecimento coloca, nessas sociedades, o Estado como um ente decisivo para a saúde das populações, seja pelas iniciativas que toma com essa finalidade, seja por suas omissões das quais decorrem aprofundamento de desigualdades e, portanto, a produção social da doença.
Derivam dessa concepção as preocupações com os rumos da democracia em cada país e no mundo, as possibilidades de participação social em saúde, o reconhecimento e ampliação de direitos, dentre outros aspectos políticos que estão no centro da saúde coletiva desde seu início. O Estado é decisivo porque, de suas ações, resultam consequências que impactam, positiva ou negativamente, os níveis de saúde das populações.
A saúde coletiva é, portanto, um movimento teórico e político, afeto ao campo da saúde pública, que se constitui originalmente no Brasil, em meados da segunda metade do século XX, a partir do questionamento da velha saúde pública e do modo como ela vinha se concretizando no Brasil. Há variados entendimentos quanto ao significado da expressão “saúde coletiva”, mas pode-se afirmar que há uma convergência em compreendê-la como um campo de conhecimentos que busca a superação epistemológica da saúde pública, com a qual mantém permanente tensionamento teórico e político.
Enquanto campo de conhecimento a saúde coletiva ocupa-se do fenômeno saúde-doença em populações enquanto um processo social; investiga a produção e distribuição das doenças na sociedade como processos de produção e reprodução social; analisa as práticas de saúde (processo de trabalho) na sua articulação com as demais práticas sociais; e procura compreender, enfim, as formas com que a sociedade identifica suas necessidades e problemas de saúde, busca sua explicação e se organiza para enfrentá-los (Paim & Almeida-Filho, 1998).
O contexto histórico em que se dá a emergência do movimento da saúde coletiva caracterizou-se pela crise da saúde pública e dos sistemas de saúde na América Latina, a insuficiência das respostas que as pesquisas e a formação em saúde vinham dando a essa crise e, no caso específico do Brasil, pela crise financeira da previdência social e a denominada “medicina previdenciária” que lhe correspondia, a qual aprofundava as restrições ao acesso aos serviços de saúde, entendido restritamente como apenas um “benefício previdenciário”.
O que se convencionou denominar de “projeto da saúde coletiva”, com o objetivo estratégico de produzir uma superação epistemológica da saúde pública, enquanto campo de conhecimentos e práticas, por meio da sua negação dialética, ganhou expressão em várias dimensões derivadas dessas crises, e que podem, decerto simplificada e resumidamente, serem expressas como tendo três dimensões principais. Em atividade promovida pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC), da Universidade Federal da Bahia, em setembro de 2021, identifiquei essas três dimensões como sendo afetas aos âmbitos da: (a) produção de conhecimentos; (b) reorientação da formação profissional e de pesquisadores, nas graduações e programas de pós-graduação; e, (c) construção no país de um sistema público de saúde, nos moldes do Serviço Nacional de Saúde inglês (o NHS, como é mais conhecido, na sigla inglesa) e no sistema de saúde cubano.
Mas a saúde coletiva pretendia – e pretende – fazer tudo isso com uma inovação muito importante: assegurando que, em todas essas dimensões, tudo seja feito com “participação popular” e, portanto, sob controle político da sociedade organizada, que deve, mais do que “complementar” os mecanismos administrativos institucionais do Estado brasileiro, também controlar, politicamente, esses órgãos de controle administrativo.
Quase meio século após sua emergência como um movimento teórico e político, a saúde coletiva segue potente, em meados da primeira metade do século XXI, e influenciando de modo decisivo os rumos da saúde no Brasil. Registra êxitos inegáveis e muitas dificuldades, tendo como referência o projeto que a constituiu. O país conta com um sistema universal de saúde, o SUS, que tem prestado serviços notáveis à saúde da população, sobretudo aos segmentos de piores condições socioeconômicas, ainda que os princípios da universalização e da equidade permaneçam como um sonho, um ideal a perseguir permanentemente.
Não obstante haja muitos problemas de representatividade, às vezes comprometida por práticas de nepotismo e clientelismo partidário, a participação “popular” é exercida, nos limites da frágil democracia brasileira, por conselhos e conferências de saúde, os quais têm atividade regular e exercem as funções para as quais foram concebidos e criados. Algumas dezenas de cursos de graduação específicos em saúde coletiva foram criados, e o “projeto da saúde coletiva” vem exercendo influência relevante sobre o ensino de saúde pública em várias graduações na área da saúde, incluindo-se cursos de formação de médicos.
A pós-graduação deu passos importantes para incorporar a saúde coletiva, indo além do marco tradicional da saúde pública, ainda que boa parte da produção originada em cursos de mestrado e doutorado siga se dando sob essa influência, quase sempre conservadora. Mas, não obstante sua importância, a participação popular está muito longe de exercer alguma influência relevante, tanto sobre os diferentes níveis da formação em saúde, quanto dos rumos e das agendas de investigação científica nessa área. Notáveis exceções, apenas confirmam essa característica predominante.
É inegável, porém, que nesse meio século desde a sua constituição o movimento da saúde coletiva brasileira consolidou um novo paradigma no campo da saúde pública, recusando a hegemonia do biologicismo ainda prevalecente, afirmando a necessidade de pensar a saúde-doença-cuidado como tríade indissolúvel, advogando a gestão participativa como corolário de um sistema de saúde sob controle dos usuários, reafirmando a produção de conhecimentos alinhada com as necessidades de saúde da população e, inequivocamente, ligando a saúde à democracia como condição ‘sine qua non’ para a sua produção social.
Muitos atribuem ao médico sanitarista Sérgio Arouca um papel fundador do movimento da saúde coletiva, mencionando “O dilema preventivista: contribuição para a compreensão e crítica da medicina preventiva”, sua obra acadêmica mais relevante, como um marco. Porém, se sua tese de doutorado, defendida em 1975 na Unicamp, é reconhecidamente um clássico da área, curiosamente a expressão “saúde coletiva” aparece uma única vez no texto, em citação do livro “Tratado elementar de higiene”, de Becquerel, publicado em 1883. A menção ocorre logo no início da seção de introdução da tese, quando Sérgio Arouca apresenta ao leitor o objeto a ser problematizado: a medicina preventiva. Mesmo considerando “coletiva” como um termo isolado, ele ocorre apenas oito vezes em toda a tese e sempre como adjetivo qualificativo, nunca como substantivo. A expressão “saúde pública”, por sua vez, é mencionada 47 vezes.
Mas Sérgio Arouca falou e, mais que falar, agiu, muito e de modo insistente, persistente, recorrente sobre reforma sanitária. Foi, por essa razão, dentre tantos atores sociais decisivos, o protagonista desse processo, marcando-o tão profunda e significativamente que não é possível falar da reforma sanitária brasileira sem mencioná-lo.
A saúde coletiva e o movimento da Reforma Sanitária dela derivado legaram ao Brasil o Sistema Único de Saúde. Após a “longa gestação” dos anos 1970 e 1980, “fecundado” politicamente pelas lutas de massa da campanha por ‘Diretas Já’ e com o marco memorável representado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), o SUS teve seu “parto” no dia 17 de maio de 1988, na 267ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, que o instituiu como o sistema universal de saúde do Estado brasileiro. Assim o SUS, enquanto instituição, é um sistema estatal – ainda que o provimento de serviços assistenciais seja realizado não apenas por serviços de propriedade estatal, mas compartilhado por serviços de propriedade particular. Tais serviços, ditos “privados” são, porém, “complementares” e regulados por processos de governança institucional executada por entes federativos, de competência do SUS.
Por essa razão, as ações e serviços mantidos pelo SUS são sempre de acesso público universal, pois as organizações de direito privado que participam do SUS, por meio de contratos e convênios, não são de acesso privativo a pessoas ou grupos sociais específicos. A legislação brasileira impede que o acesso aos “serviços do SUS” seja mediado ou condicionado por qualquer critério não sanitário. Costuma-se dizer, a esse respeito, que o SUS é 100% público, ainda que os serviços de saúde que o integram não sejam 100% estatais.
Há um mito de que haveria no Brasil dois sistemas de saúde, um público, outro privado. Essa crença se baseia no fato de que como a CF1988 assegurou (art.199) que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, isso caracterizaria o cenário de dois sistemas de saúde.
O principal problema dessa interpretação da Constituição Federal de 1988 é que “saúde”, conforme mencionei, não pode ser reduzida a meros procedimentos assistenciais. Pode haver, nesse sentido, um “sistema de serviços” de assistência à saúde que, transformando cuidados assistenciais em mercadorias, responda a necessidades de indivíduos, segundo a racionalidade do mercado, e cuja finalidade seja, portanto, produzir lucros a serem apropriados por acionistas e proprietários. Mas isso não corresponde a um “sistema de saúde”, cujas ações tenham como foco, como é o caso do SUS, atuar sobre todos os determinantes da saúde-doença em populações e não apenas sobre processos biológicos. “Sistemas de saúde”, vale reiterar, têm como missão, além da indispensável assistência individual, executar ações que respondam adequadamente a todas as necessidades sociais em saúde.
Por essa razão, o SUS é, efetivamente, o único sistema de saúde do Brasil. E as dificuldades com que nos defrontamos no período da pandemia de covid-19 indicaram que para todos os brasileiros, sem exceção, o SUS é mais necessário do que nunca (Bousquat et al., 2021).
*Paulo Capel Narvai é professor titular sênior de Saúde Pública na USP. Autor, entre outros livros, de SUS: uma reforma revolucionária (Autêntica). [https://amzn.to/46jNCjR]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA