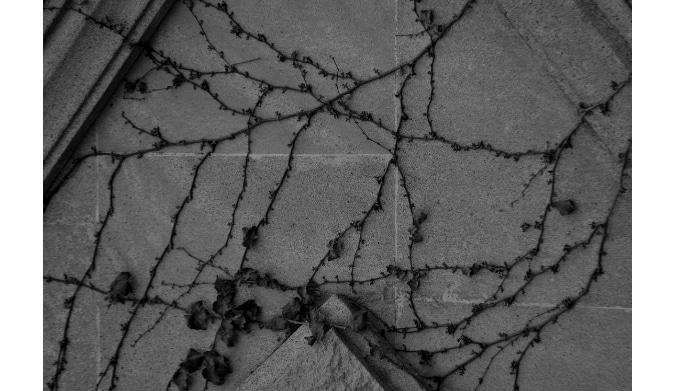Por OSVALDO COGGIOLA*
O voto em Lula para derrotar Jair Bolsonaro nas urnas só pode superar a situação defensiva em que foi posto pela própria campanha eleitoral petista
O Brasil vive uma polarização política sem precedentes em sua história republicana, que não é, no entanto, ainda, uma polarização de classe. O projeto (a palavra não é a mais adequada, mas ajuda a simplificar as coisas) representado pela chapa Lula-Alckmin é um projeto de conciliação de classes, que re-formula a prática dos quatro governos Lula-Dilma (PT), pois se apoia em uma coalizão política muito à direita daquela que lhe deu sustentação na primeira década e meia de nosso século.
O “projeto” (a palavra é menos adequada ainda) de Jair Bolsonaro é a imposição de uma derrota estratégica à classe trabalhadora, atacando-a diretamente, para atomizá-la e quebrá-la, repondo em um novo patamar a acumulação de capital, em benefício da grande burguesia e do imperialismo. Não é nenhum segredo, pois foi escancarado, que a movimentação encabeçada pelo ex-capitão não vacilará na implantação de um governo de tipo fascista, mesmo que ele desconheça até o significado da palavra. A chave da luta contra o bolsonarismo, portanto, está no papel da classe trabalhadora e de suas organizações, inclusive, claro, na contenda eleitoral, que não pode ser abordada isoladamente.
No primeiro turno das eleições presidências de 2018, a chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão obteve 49,3 milhões de votos válidos, ou seja, 44,87% do total. A chapa Fernando Haddad-Manuela D’Avila (PT-PCdoB) obteve naquela ocasião 31,3 milhões dos votos válidos, 29,28 %. Nas eleições de 2022, a chapa Lula-Alckmin obteve 57,3 milhões dos votos válidos (48,43%) [faltou 1,57% dos sufrágios para uma vitória em primeiro turno] contra 51,1 milhões (43,20%) de Bolsonaro-Braga Netto.
Lula teve quase 26 milhões de votos a mais do que Haddad em 2018; Bolsonaro ganhou só 1,7 milhão de votos em relação a esse ano. Em termos percentuais, a diferença é mais evidente, pois a chapa encabeçada pelo PT obteve 19,1% a mais no eleitorado total, enquanto a do capitão ex-PSL, hoje PL, obteve 1,7% a menos. As abstenções e votos nulos (5.452.607) caíram percentualmente; as duas chapas principais concentraram 91,6% dos votos, contra pouco mais de 74,1% nas eleições de 2018. Haja polarização.
Pode-se concluir, portanto, em um deslocamento do eleitorado à direita? Não com base nesses dados. Certamente, é preciso levar em conta os outros (muito numerosos) cargos em disputa, governações e legislativos estaduais e federal. Houve um avanço da bancada explicitamente bolsonarista. A votação legislativa testemunhou o fato de Hamilton Mourão, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Ricardo Salles, Eduardo Pazuello, Mario Frias, Damares Alves, Magno Malta e outros altos personagens do desgoverno bolsonarista, serem consagrados pelo voto popular. Abraham Weintraub, o ministro da “boiada”, no entanto, foi surrado nas mesmas urnas paulistas que consagraram Guilherme Boulos (PSOL) como o deputado federal mais votado do estado, com pouco mais de um milhão de votos.
Mesma derrota experimentou a bancada da cloroquina, comandada pela sua capitã (Mayra) com Nise Yamaguchi como escudeira. Tivemos, no Senado, a eleição de 14 bolsonaristas contra 8 lulistas e cinco não alinhados. Foi confirmada a bancada do “partido militar”, já poderosamente incrustado no Estado (e nas suas benesses). Na futura composição da Câmara de Deputados, no entanto, um mapa feito pela Folha de S. Paulo indica que um eventual governo Jair Bolsonaro partiria com um total de 198 deputados para sua “base governamental”, somados os eleitos da sua coligação e afins, enquanto um eventual governo Lula, seguindo o mesmo critério, teria o apoio de 223 deputados.
Nas governações houve vitórias da extrema direita: apoiadores de Bolsonaro ganharam em nove estados no primeiro turno (AC, DF, GO, MG, MT, PR, RJ, RO e TO); partidários de Lula levaram só em seis. Para governador e senador do Rio Grande do Sul, dois altos funcionários do governo bolsonarista venceram (para governador, em primeiro turno, pois Onyx Lorenzoni vai a ballotage). Na vitória direitista/derrota petista mais badalada, a do estado de São Paulo, Fernando Haddad foi derrotado pelo candidato do Partido Republicano, uma força diferente do Partido Liberal, liderado por Tarcísio de Feitas, que recebeu o apoio direto de Bolsonaro, depois de folgada dianteira aferida em favor de Haddad nas pesquisas. Haverá segundo turno.
Na outra grande vitória direitista, a do “novo” Romeu Zema, um bolsonarista distanciado de Bolsonaro, para o governo de Minas, a circunstância obrigou o capitão a se deslocar ao seu domicílio para obter seu apoio explícito para o segundo turno das presidenciais. A julgar pela cara de Bolsonaro na coletiva de imprensa na porta do Palácio Tiradentes, ele não gostou da situação (menos ainda do esclarecimento de Zema de que seu apoio eleitoral era circunstancial e “de fora”). Os fascistas da Câmara serão obrigados a coexistir com quatro deputadas transexuais eleitas, de modo inédito, assim como de mulheres indígenas e trabalhadores sem-terra: o MST elegeu, pela primeira vez, seis deputados federais e estaduais.
Até aqui, a fria matemática, pontuada de indicações qualitativas de enorme importância. O sabor amargo da derrota, no entanto, estava na boca do petismo e do pró-petismo no dia seguinte ao primeiro turno. Não era para ser menos, certamente, em setores que se haviam mobilizado sob a palavra de ordem, mais do que sobre o prognóstico, de “vitória de Lula no primeiro turno”. As palavras de Lula, visivelmente decepcionado, domingo à noite na TV, também tiveram esse sabor.
Não era uma sensação isolada. As cotações da Bolsa de Valores, na segunda-feira 3 de outubro, foram em alta. As ações da Petrobras, sob controle tarifário para conter a inflação, também subiram. Uma sensação de vitória, produzida pelo desempenho eleitoral de Bolsonaro, percorreu os bolsos (e os corações, que dependem daqueles) dos grandes investidores nacionais e estrangeiros, os fundos de investimento e de pensão.
A população trabalhadora e politizada ficou desiludida pelo fato de um governo e um líder até tal ponto reacionários (e fracassados) obterem mais de 40% dos votos depois dos escândalos, inclusive internacionais, de 700 mil mortos da pandemia (um dos maiores percentuais de óbitos em relação à totalidade da população) graças a uma política negacionista até as últimas consequências (incluídas as mortes por falta de oxigênio na Amazônia), do regresso do Brasil no mapa mundial da fome, com 33 milhões de afetados diretos, do desmatamento brutal das florestas tropicais em benefício de grandes empresários e de multinacionais de lucros oriundos nas atividades criminais e no assassinato, como o de Bruno Pereira e Dom Phillips, que teve vasto repúdio internacional (e indiferença cúmplice do titular do Poder Executivo).
O jornal francês Le Monde apontou “o retorno da fome, do desmatamento selvagem e da tragédia provocada pela Covid-19”: que mais precisa para derrubar um governo pelas vias legais e eleitorais? É o “atraso cultural” brasileiro que o explica? Inclusive se isso contasse de modo decisivo, o que não é o caso, ainda assim ele teria papel subordinado aos interesses de classe postos em jogo em cada circunstância política precisa.
Os erros dos institutos de pesquisa, que acertaram (aproximadamente) os percentuais de Lula, mas erraram os de Bolsonaro (“elas não captaram a força do bolsonarismo e de seus agregados na sociedade brasileira”), são atribuídos à sua incapacidade em medir o “voto envergonhado”. Coisa que nunca poderão fazer, pois nenhuma “ciência política” ou metodologia de levantamento de dados lhes permitirá avaliar os deslocamentos de estado de ânimo de classes e setores de classe no curtíssimo prazo, típicos de situações de crise excepcional.
Numa observação acertada, para o estudioso Lucas Romero, mais do que o “voto da vergonha” (pessoas que esconderam seu apoio a Bolsonaro), pode ter havido uma forte corrente de “voto útil” (pessoas que o elegeram por medo de que Lula vencesse no primeiro turno, configurando uma derrota catastrófica da extrema direita). Bastaria substituir “pessoas” por “classes”, uma noção à qual os institutos de pesquisa só se aproximam através da medição dos níveis de renda, um índice impreciso e estático, em última instância ilusório.
Os apoios conquistados por Lula e Bolsonaro para o segundo turno, não por previsíveis, deixam de constituir uma importante radiografia do mapa político que se desenha. As igrejas evangélicas, centros da reação clerical/neoliberal (a “teologia do sucesso”) não só declararam apoio total a Jair Bolsonaro, como se mobilizam em seu favor, com todos seus recursos. Afora o obvio apoio dos governadores bolsonaristas ou aliados, é significativo o apoio velado de Michel Temer, ex-aliado e vice-presidente do último governo encabeçado pelo PT, e fautor encoberto do golpe que o derrubou em 2016, cuja verdadeira natureza (o militarismo fascistóide) fica assim revelado.
Lula conquistou o esperado apoio do PDT (com Ciro Gomes levado de roldão, sob pena de sucumbir politicamente), de parte do MDB (Simone Thebet) e do tucanato histórico, não assim do neotucanato de Doria-Rodrigo Garcia, que parece disposto a embarcar “civilizadamente” nas hostes do neofascismo. Dos gênios do aparato político petista só partiram conselhos e pressões para ampliar o arco de alianças (já composto, como foi bem apontado, por “uma fila de cadáveres políticos”) mais para a direita, incluído o apoio religioso, com o preço que já se sabe (um “progressista” chegou a reclamar “um balanceamento entre economia e questão moral, sendo que esta última não deve ser deixada exclusivamente ao campo bolsonarista”, que cada um entenda isso como quiser – mas é bom ter cuidado).
Como em toda situação de crise excepcional, o “centro” político tende a desaparecer (o “centrão” fisiológico é outra coisa, é uma das molas decisivas do Estado capitalista), deixando face a face direita e esquerda (que absorvem o “centro”) como protagonistas fundamentais. Isto é típico dos prelúdios de enfrentamentos decisivos entre as classes, dos prolegômenos do embate entre revolução e contrarrevolução. Fernando Sarti Ferreira acertou em intitular “Uma Weimar Tropical” um artigo a respeito.
O que destrói o fascismo, ontem, hoje e sempre, é a intervenção da classe operária e da juventude trabalhadora e estudantil organizadas, com suas próprias bandeiras e em função de seus próprios interesses. Esse elemento, a independência de classe organizada, está ausente na situação atual do Brasil. Ele não depende só de fatores objetivos, que podem favorecê-lo, mas da intervenção política consciente com base num programa. Sua velocidade de organização, por outro lado, pode superar a de um “voto envergonhado” decidido três dias antes de uma eleição. Os exemplos históricos abundam.
A situação internacional, de crise econômica com tendência a se transformar em guerra, que afetam um Brasil com uma economia cada vez mais internacionalizada, também exige respostas que saiam de cima do muro. O voto em Lula para derrotar Jair Bolsonaro nas urnas só pode superar a situação defensiva em que foi posto pela própria campanha eleitoral petista, se for para as ruas (“é inadmissível que Lula tenha tido a votação que teve na cidade de São Paulo e suas ruas sejam palco apenas para manifestações bolsonaristas”) com bandeiras independentes de luta de classes.
*Osvaldo Coggiola é professor titular no Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de Teoria econômica marxista: uma introdução (Boitempo).
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como