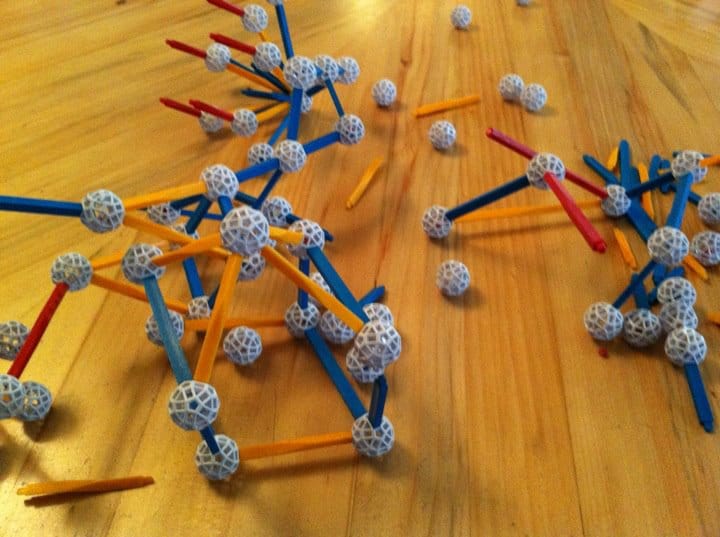Por ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY
Comentário sobre o filme de Roman Polanski sobre o caso Dreyfus
Se uma sentença de absolvição é a confissão de um erro judicial (Foucault), a reabilitação posterior, seguida de indulto, é admissão de que a condenação fora o ato final de uma farsa jurídica. Essa é a lógica que decorre do caso Dreyfus, que agitou a França na virada do século XIX para o século XX. Pantomina jurídica, com lances de antissemitismo e de provas falsas, o caso Dreyfus ilustra vários temas de fortíssima atualidade. Entre eles, as dissimulações judiciais, nas quais a pureza das formas cria uma imundície dos conteúdos. É a justiça como farsa. Hoje chamamos de “lawfare”.
Por que Polanski tratou desse assunto? Essa pergunta sugere recorrente tópico na crítica de cinema. Pode-se retomar André Bazin (ícone da crítica francesa, pai intelectual de François Truffaut). Para Bazin, os filmes revelam (sic) diretores autores. Trata-se da tese do “autorismo”. Em outras palavras, uma fita é obra centrada na cosmologia de um determinado autor. Arrisco opinar, no sentido de que a opção pela retomada de uma farsa jurídica e de uma injustiça histórica possa ser, de algum modo, um argumento, em causa própria. Uma resposta de Polanski às gravíssimas acusações que sobre ele pairam nos Estados Unidos. Assunto polêmico. A comparação é possível. Não há ingenuidade.
Retomemos o caso Dreyfus. Simetria de informações. Alfred Dreyfus, oficial do exército francês, judeu, de origem alsaciana, foi acusado de vender segredos militares franceses para os alemães. Um forte antissemitismo grassava na França em fins do século XIX. O caso foi julgado secretamente, a portas fechadas, a “hiut-clos”, como se diz em francês. Edgard Demange, advogado de Dreyfus, não teve acesso a vários documentos que incriminavam seu cliente. A condenação foi unânime. Prisão perpétua com trabalhos forçados. As cartas estavam marcadas. O exército estava convencido que se tratava de uma questão de Estado que deveria ser resolvida com a eliminação sumária de Dreyfus.
Em defesa de Dreyfus o escritor Emile Zola, que publicou um bombástico libelo em favor do acusado. A peça central na desmontagem da trama foi o Coronel Georges Picquart, implacavelmente perseguido pelos farsantes. Picquart é a personagem central do filme. É no obstinado coronel que Polanski centraliza a indignação contra a falsa condenação.
Polanski é muito competente. Esnoba pinturas em movimento. A fotografia é extasiante. A direção de arte recria a Paris da Belle Époque, com can-cans e homens que invariavelmente usam bigodes. Há um corte com um automóvel, primitivo, que cruza com uma pequena carruagem. Tempos que mudavam. Inclusive de direção. Os atores brilham (e como brilham). Jean Dujardin é o coronel inconformado com a injustiça. A montagem é impecável.
Os planos mostram salas imensas, com pés-direitos também imensos; ao fundo, uma luz permanente, como a enunciar que a verdade (que é luz) abala a mentira (que metaforicamente é a escuridão). A cena do duelo imaginário é uma aula magistral do uso do espaço e da cor na formação de uma ilusão. Em tempo. Até quando o duelo era permitido na França? 1967, segundo alguns registros, ainda que a prática tenha se tornado obsoleta em fins do século XIX. Respondido.
Para a galeria de eventuais falhas (talvez propositais), a cena inicial, com a Torre Eiffel ao fundo. A degradação de Dreyfus ocorreu antes da inauguração da famosa torre. A torre é de 31 de março de 1889. Dreyfus já fora condenado e humilhado perante os demais militares.
Um filme para ser apreciado como uma escultura. A exemplo da cena do Louvre, quando se vislumbram cópias romanas de originais gregos. Nada falso. Apenas uma cópia. Cena ilustrativa da proposta última do filme: uma cópia de um fato, e não uma falsificação de uma história vivida.
*Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy é livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Referência
O oficial e o espião (J’accuse)
França, 2020, 132 minutos
Direção: Roman Polanski
Elenco: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner.