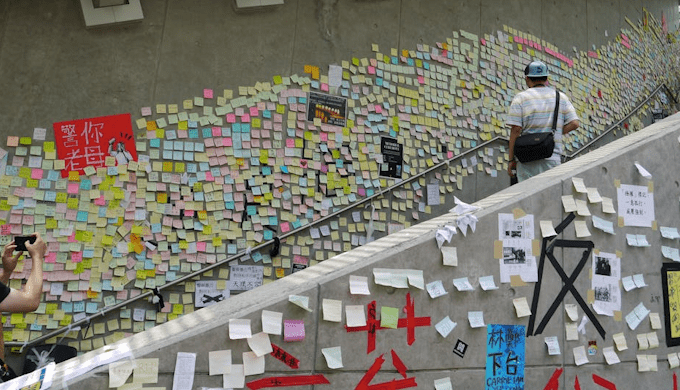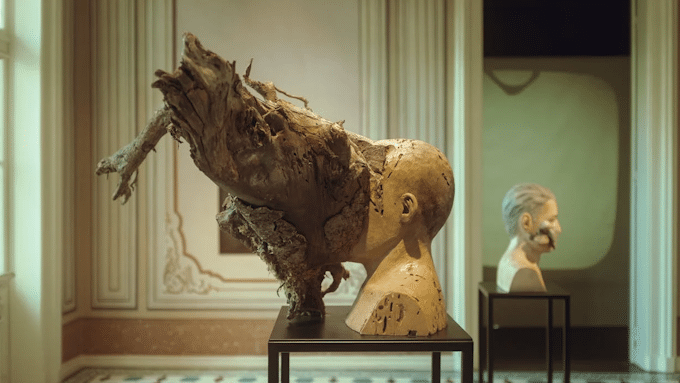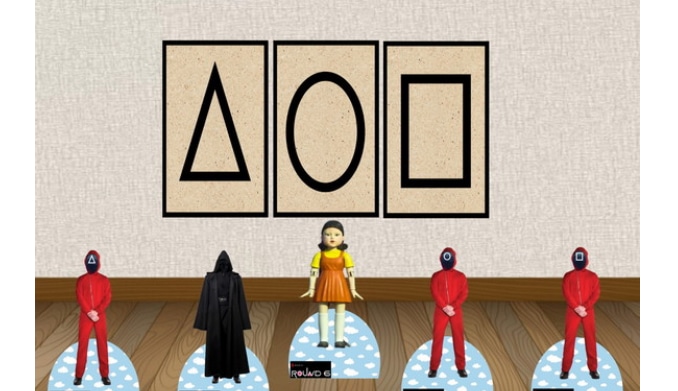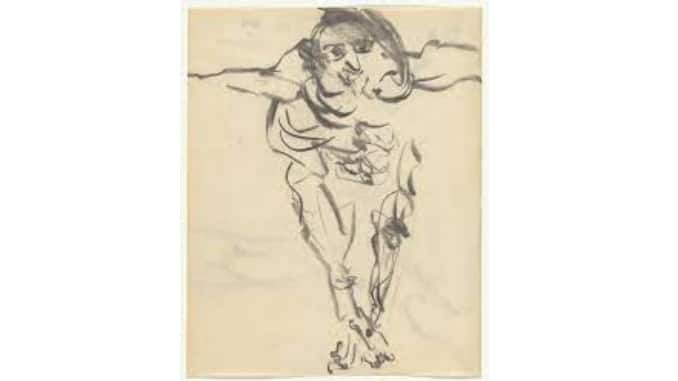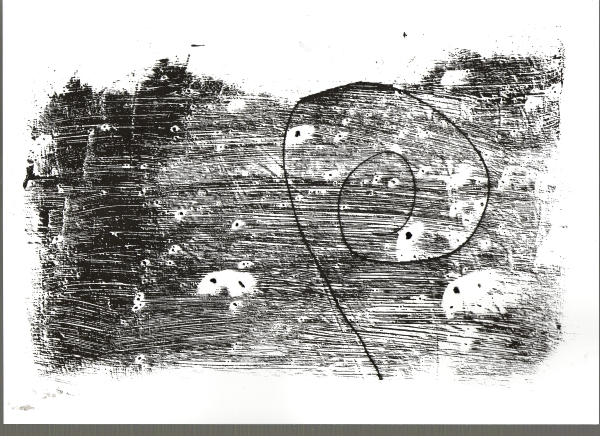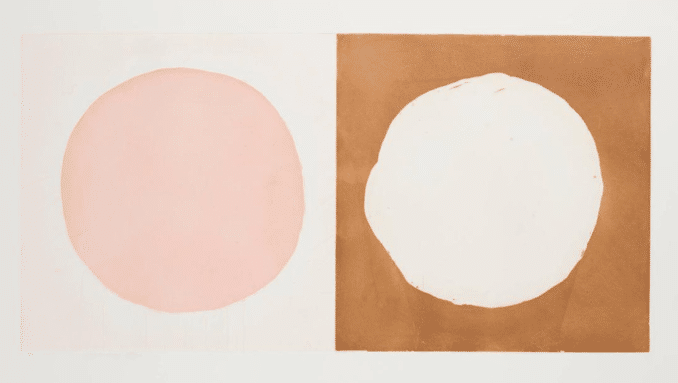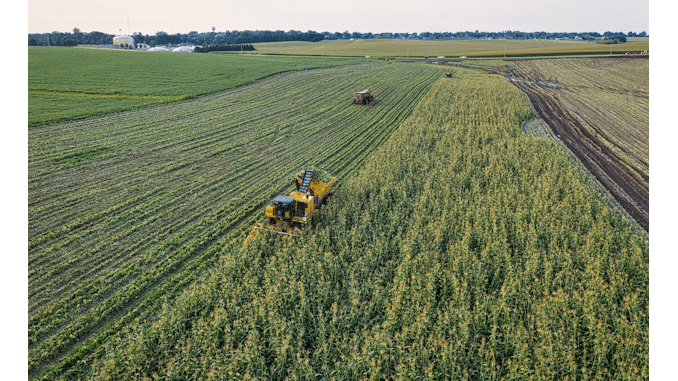Por DANIEL COSTA*
No cenário político contemporâneo, tanto a corrupção quanto o populismo continuam a ser utilizados como armas retóricas em disputas partidárias e ideológicas
Não há como ignorar que o tema da corrupção seja algo que permeia o imaginário da população brasileira desde os seus primórdios. A permanência do tema no conjunto da sociedade arraigou em diversos setores o discurso de que tal cenário resultaria numa espécie de destino natural, fruto de raízes fincadas na tradição lusitana, por exemplo.
Desde então, o assunto, além de ser uma preocupação que mobilizou amplas parcelas da sociedade civil, é também utilizado largamente como instrumento de manipulação política. A instrumentalização do tema é tão explícita que até mesmo aquele indivíduo que acompanha superficialmente o noticiário e os bastidores da política brasileira sabe que o tema é um assunto recorrente, principalmente em anos eleitorais.
Desde o suposto mar de lama, termo cunhado por Carlos Lacerda durante sua campanha contra o governo Vargas na década de 1950, até a imagem exibida à exaustão pelo Jornal Nacional dos dutos de petróleo jorrando dinheiro sujo no auge da famigerada operação Lava Jato a partir de 2014. Dessa forma, o assunto é utilizado como anteparo para um debate parcial e baseado em muitos interesses difusos, escapando daquele que deveria ser o objetivo principal: discutir o tema com a sociedade, construindo concretamente um enfrentamento ante a essas práticas que lesam o conjunto da população.
O historiador norte-americano John D. French explica como se deu essa operação no processo que culminaria no golpe contra Dilma Rousseff e o resultado ainda mais desastroso que ocorreria em 2018, vejamos: “Os poderosos e ricos haviam cinicamente usado a corrupção como uma arma; a própria corrupção deles, uma vez revelada, produziu o núcleo enérgico de seguidores de extrema direita para Jair Bolsonaro, que havia sido sempre ignorado como irrelevante, bruto e de mau gosto”[i].
Ainda segundo John D.French, “tanto na crise de Vargas quanto nas crises enfrentadas por Lula e por Dilma, a pretensão de combater a corrupção permitiu o atropelo de normas constitucionais”[ii]. Demonstrando assim, a clara instrumentalização de uma pauta que seria fundamental para que ocorresse um avanço qualitativo da democracia; resultando também em um cenário onde a própria sociedade acabaria tornando-se mais equânime, visto que enfrentar de forma séria o tema proporciona diminuição em privilégios a certas parcelas da população que se beneficiam diretamente de tais práticas.
Desse modo, cabe esclarecer, em uma perspectiva histórica, “que a ideia e a interpretação acerca da corrupção não ficaram imunes às transformações ocorridas na sociedade ao longo do tempo e tais ressignificações acabaram gerando debates acalorados sobre o tema”.[iii] Ainda apresentando uma breve reflexão acerca das transformações embutidas na evolução do significado atribuído ao conceito de corrupção, é importante destacar que o mesmo evoluiu ao longo do tempo.
No começo do século XVIII inicialmente a palavra era associada a questões morais e à destruição da alma, como visto no Vocabulario Portuguez & Latino de Raphael Bluteau, dicionário que fora referência no período. Com o tempo, o conceito expandiu-se para, na segunda metade do mesmo século, incluir como sinônimo o abuso das leis e delitos administrativos, como se pode observar ao consultar o Diccionario da língua portugueza de Antonio Moraes Silva.
Destaco por fim nesta breve introdução a importância de contextualizar o uso do conceito de corrupção para evitar anacronismos; assim como devemos fazer ao abordar o conceito de populismo. Pois se no primeiro, ao aplicá-lo a sociedades da Época Moderna é necessário um processo de conceitualização cuidadoso para que se evite o já mencionado anacronismo,[iv] como, por exemplo, ao aplicar noções modernas de burocracia estatal em contextos históricos diferentes; destaco ainda a necessidade de realizar uma nítida distinção entre a compreensão da corrupção no sistema do Estado liberal moderno e em uma sociedade de Antigo Regime. O risco de anacronismo surge ao não fazer essa distinção, levando o historiador a interpretações incorretas acerca do passado.
Algo semelhante ocorre acerca do conceito de populismo, atualmente o termo é empregado para desacreditar, por exemplo, qualquer ação política que vise a conexão do governante – especialmente governos com aceno progressista, ou que coloquem em xeque, mesmo que sucintamente os ditames do mercado – com setores amplos da população.
Fato observável, por exemplo, no discurso apresentado quase que diuturnamente por setores da imprensa hegemônica, que classificam qualquer medida tomada contra os marcos do mercado e o ideário liberal como “medidas populistas”; e que essa grande geringonça denominada populismo – afinal para esses grupos, desde governos democráticos como o de Luiz Inácio Lula da Silva ou o autoritário Viktor Órban, seriam classificados enquanto populistas – representaria um risco à solidez das instituições democráticas tangenciadas pela perspectiva de uma sociedade liberal.
Essa imprecisão em relação ao conceito, seus usos e abordagem não ficam restritas somente aos jornalistas; fenômenos carismáticos, ou mesmo políticos que apenas apresentam um discurso anti-establishment, logo despertam a atenção da academia, gerando intensos debates acerca do caráter de seus governos. Sobre a relação estabelecida, por exemplo, entre a figura do presidente Lula e a interpretação dada por esses acadêmicos, French aponta que: “Quando tais acadêmicos se deparam com o fenômeno Lula (o qual é chamado de lulismo[v]), eles também acabam presos no carregado e perene debate sobre o populismo que emergiu das batalhas políticas que marcaram o Brasil de meados do século XX, antes do golpe de 1964”[vi], tal debate enviesado, seria segundo o autor, fruto do “duradouro medo do populismo”[vii] presente no Brasil e na América Latina.
Entre as interpretações clássicas do fenômeno populista, destaco aquela apresentada pelo sociólogo Francisco Weffort em seu clássico ensaio O populismo na política brasileira,[viii] onde o autorafirma que “o populismo como forma de governo, sempre sensível às pressões populares, ou como política de massas, que buscava conduzir, manipulando suas aspirações, só pode ser compreendido no contexto do processo de crise política e de desenvolvimento econômico”[ix] desencadeado após a revolução de 1930.
Ainda segundo Francisco Weffort, a definição de populismo, que pode ser considerada vaga, caracteriza-se principalmente como uma forma de atividade política. Ao emular o acúmulo de descontentamento com a ordem estabelecida (quando pensamos no Brasil pós 1930, esse status quo seria enxergado principalmente na oligarquia cafeeira deposta por Vargas e seu grupo político)que permeava aquela sociedade em ebulição, estabeleceu-se uma oposição entre o povo e as elites, é nesse cenário que emergir o personagem que abordaremos adiante.[x]
Ao fim e ao cabo, segundo a interpretação de Francisco Weffort, o populismo seria resultado das debilidades políticas dos grupos urbanos dominantes que, ao tentarem substituir a oligarquia até então hegemônica no domínio político, viram-se compelidas a incorporar as massas urbanas ao jogo político. Esse processo resultaria segundo o sociólogo em um fenômeno político multifacetado; caracterizado pela personalização do poder, com a soberania do Estado sobre a sociedade e seus representantes agindo enquanto uma espécie de árbitro e, ao mesmo tempo, com o crescimento da participação das massas populares urbanas esses atores passam a ganhar maior autonomia e poder de reivindicação.
Em contraponto à perspectiva weffortiana, Ernesto Laclau, em A razão populista[xi] (2005), oferece uma abordagem teórica que redefine radicalmente o conceito de populismo. Para o autor argentino, longe de ser uma anomalia política ou mera estratégia de manipulação, o populismo constitui uma lógica discursiva fundamental da política democrática moderna, caracterizada pela construção antagônica de um “povo” em oposição a uma “elite”.
Enquanto Francisco Weffort enfatiza o caráter vertical e instrumental do populismo brasileiro pós-1930, Ernesto Laclau destaca seu potencial horizontal e constituinte: as lideranças populistas não apenas “conduzem” as massas, mas encarnam e articulam demandas sociais fragmentadas (trabalhistas, regionais, identitárias) em um projeto hegemônico. Essa abordagem permite reinterpretar fenômenos como o varguismo e o lulismo não como manipulação de elites, mas como processos complexos de identificação política, onde a dicotomia “povo versus elite” opera como mecanismo de inclusão em uma sociedade historicamente marcada por exclusão estrutural.
Ernesto Laclau avança ainda ao desconstruir a associação clássica entre populismo e irracionalidade política. Em sua análise, a aparente “simplificação” da retórica populista – exemplificada tanto no “rouba, mas faz” de Adhemar de Barros quanto no “nunca antes na história deste país” de Lula – não representa mera demagogia, mas uma necessária redução discursiva que torna inteligíveis conflitos sociais complexos para as maiorias.
Essa perspectiva desafia diretamente a periodização weffortiana que restringe o populismo à fase de transição industrial (1930-1964): para Ernesto Laclau, o populismo é inerente às democracias plurais, manifestando-se tanto em movimentos progressistas (como o lulismo) quanto em projetos conservadores (como o bolsonarismo). Se Weffort interpreta o populismo como sintoma de imaturidade institucional, Laclau o concebe como forma de ação política capaz de, em contextos de desigualdade, produzir tanto riscos autoritários quanto possibilidades emancipatórias.
Se Ernesto Laclau desnaturalizou a visão apresentada por Francisco Weffort ao demonstrar o caráter constituinte do populismo, Chantal Mouffe radicaliza esse debate ao defender o populismo de esquerda como projeto político deliberado. Em Por um populismo de esquerda,[xii] Chantal Mouffe parte da noção laclauniana de antagonismo – ou seja, o permanente embate entre povo e elite – para afirmar que a esquerda deve construir ativamente essa fronteira política para enfrentar o neoliberalismo. Enquanto Weffort via no populismo um limite à institucionalização democrática, Chantal Mouffe o reinterpreta como condição para revitalizar a democracia, desde que articulado a um programa emancipatório.
No contexto brasileiro, seu enfoque permite reler o lulismo não como mera “herança varguista” (como sugeriria Weffort), mas como uma tentativa – ainda que incompleta – de constituir um bloco popular anticapitalista, cujas falhas podem ser vistas, por exemplo, na excessiva moderação frente ao capital financeiro e na dependência da figura do presidente Lula.
Nancy Fraser avança a crítica ao propor que um populismo de esquerda efetivo deve integrar três dimensões indissociáveis: redistribuição econômica, combatendo as desigualdades materiais; reconhecimento das pautas identitárias; e requalificação da representação, ou seja, reforma das estruturas de poder. Em sua análise, o lulismo teria criado um “populismo truncado” ao priorizar políticas assistenciais (como o Bolsa Família) sem promover reformas estruturais ou incorporar plenamente demandas feministas, antirracistas e ecológicas – limitando-se assim a uma inclusão mais discursiva do que materialmente transformadora.[xiii].
Juntas, Chantal Mouffe e Nancy Fraser superam as limitações das abordagens anteriores: Weffort via o populismo como manipulação das massas; Laclau, como lógica discursiva; enquanto elas o ressignificam como projeto estratégico integral. Seu desafio para a esquerda brasileira atual é evitar tanto o personalismo weffortiano quanto um populismo meramente retórico, construindo uma alternativa que una a radicalidade democrática trazida por Chantal Mouffe com a tríade redistribuição-reconhecimento-representação proposta por Nancy Fraser, para enfrentar tanto o capital quanto o populismo que flerta com o fascismo.
Por sua vez, em trabalho recente, os professores Leonardo Segura e Pedro Dutra Fonseca, ao propor uma revisão do debate acerca do conceito, irão propor uma série de eixos para definir o fenômeno, são eles: como uma ideologia, uma lógica de ação política, um discurso e uma estratégia política. Além disso, propõem um quinto eixo, encarando o populismo como um estilo de ação para construir relações políticas.[xiv] Os autores reafirmam que o conceito é considerado controverso e ainda é frequentemente utilizado para analisar fenômenos políticos e econômicos complexos, refletindo conflitos teóricos e político-econômicos.
A dupla afirmará ainda que há uma tendência analítica pejorativa em relação ao conceito de populismo, onde o mesmo é frequentemente utilizado para desacreditar rivais políticos e suas propostas econômicas. Essa visão negativa seria reforçada por interpretações históricas que não conseguiram compreender o populismo como um fenômeno robusto, associado a crises sociais. Além disso, segundo Segura e Fonseca, a literatura especializada muitas vezes falha em reconhecer a ambivalência do populismo, resultando em versões distorcidas de experiências históricas consideradas populistas.
Em sentido semelhante, o historiador Murilo Leal Pereira Neto, em sua obra O voto e a vida: democracia, populismo e comunismo nas eleições de 1954 e 1962 em São Paulo ao realizar substancial levantamento acerca do debate político e científico do fenômeno populista afirmará que “os usos, abusos e recusas da categoria são tantas e tão amplas que não seria inapropriado dizer que o mesmo se tornou uma polêmica planetária, ou pelo menos, intercontinental”.[xv] O historiador em seu trabalho afirma ainda que nesse cenário permeado por uma ampla gama de perspectivas e abordagens, o populismo constitui-se como “uma espécie de subcampo de debate nas ciências sociais, comportando posições negativas e positivas sobre sua natureza e impacto econômico e político”[xvi].
Por fim destaco a definição trazida pelos historiadores Adriano Duarte e Paulo Fontes no seminal artigo intitulado O populismo visto da periferia: adhemarismo e janismo nos bairros da Mooca e São Miguel Paulista (1947–1953)[xvii]; trabalho onde a dupla definirá o populismo como um sistema político resultante de uma complexa e sofisticada engenharia forjada por uma conjugação de interesses e arraigadas disputas entre atores desiguais, onde as classes populares, especialmente os trabalhadores urbanos desempenham um papel decisivo. Ainda segundo a dupla de historiadores, em vez de ser visto como uma ideologia imposta externamente, o populismo é compreendido como um fenômeno que envolve reciprocidade e negociação, com as classes populares exercendo um papel ativo, diferente da perspectiva trazida anteriormente por Weffort.
Adhemar de Barros – um populista envolto no mar de lama da corrupção
Como exemplo acerca do uso intrincado dos conceitos citados acima, abordarei como o político paulista Adhemar de Barros era visto, principalmente por setores da imprensa, tanto como um político populista, como corrupto. Nascido em Piracicaba, Adhemar de Barros era descendente de uma tradicional família de produtores de café, o que mostra que, mesmo após a ruptura gerada com a Revolução de 1930, parte de setores da oligarquia deposta seguiu com forte influência política. Durante o Estado Novo, foi indicado como Interventor Federal de São Paulo, acusado de corrupção, foi exonerado do cargo em 1941. Inocentado das acusações pelo Tribunal de Contas Paulista, exerceu entre 1947 e 1951 o cargo de governador de São Paulo. Seria ainda prefeito de São Paulo de 1957 a 1961 e voltaria a governar o Estado entre 1963 e 1966, sendo um dos principais apoiadores do golpe civil-militar que derrubaria o presidente João Goulart.
Na campanha eleitoral de 1950, um episódio ganhou notoriedade, passando inclusive a fazer parte da memória política do país: a “caixinha do Adhemar”[xviii]. Reconhecido como “um grande construtor de obras”; a caixinha servia como meio para coletar dinheiro e oferecer em troca favores. A negociação, segundo a imprensa do período, ocorria com um variado leque de interessados em obter benesses do Estado, passando por bicheiros, fornecedores, empresários e construtoras que buscavam algum benefício do influente político[xix]. Esta prática possibilitou tanto o crescimento do seu patrimônio pessoal; em sua casa, Adhemar de Barros chegou a manter cerca de 2,4 milhões de dólares para despesas pessoais, quanto para forjar uma nova maneira de arrecadar fundos para suas campanhas políticas.
De acordo com Duarte e Fontes, o populismo de Adhemar de Barros se manifestava por meio de um estilo de liderança marcado pelo carisma e uma comunicação direta com os eleitores. Para isso, utilizava desde programas de rádio, como o tradicional Palestra ao pé do fogo, cinejornal como O Bandeirante na Tela,[xx] e visitas a bairros periféricos. Apesar de ter sua origem na oligarquia cafeeira, Adhemar ao longo de sua trajetória, adotou um discurso classista, reconhecendo o protagonismo dos trabalhadores e também suas demandas. Além disso, desenvolveu uma máquina político partidária que mobilizava redes locais de apoio, fortalecendo sua imagem e influência nas áreas periféricas.
Essa construção de redes locais, acabou alcançando desde os diretórios do PSP, partido de Adhemar, até associações de bairro, e mesmo alguns sindicatos, essa construção foi o que segundo a dupla de historiadores garantiu organicidade ao adhemarismo nas áreas populares; avançando para além “das práticas clientelistas do “é dando que se recebe”. Muito do seu sucesso se deveu, na verdade, a essa ampla rede de contatos com as organizações do bairro e à instituição dos subdelegados e dos inspetores-de-quarteirão”[xxi].
Porém, se Adhemar contava com forte apoio popular, sua relação com a imprensa não era a melhor, principalmente com veículos de maior prestígio. O político enfrentou uma oposição sistemática do tradicional O Estado de S. Paulo, desde que liderou a ocupação do periódico, durante o Estado Novo. Por outro lado, foi proprietário de jornais em São Paulo (A Época, A Plateia, Jornal de São Paulo, A Notícia e O Dia) e no Rio de Janeiro (A Notícia e O Dia). Também foi proprietário de estações de rádio em São Paulo (Bandeirantes e América) e no Rio de Janeiro (Guanabara), além de contar com o apoio de diversos jornais do interior paulista. De acordo com Cotta, o governador, “além de possuir controle direto sobre esses meios de comunicação, utilizou métodos pouco convencionais para aparecer ou não na mídia, conforme sua conveniência”[xxii].
O tratamento dado à questão da corrupção, que envolvia Adhemar poderia ser encarado como mais um exemplo de como certos setores da sociedade manipulam o conceito. Em um clássico ensaio publicado na década de 1980, o jornalista Perseu Abramo destacava que “uma das principais características do jornalismo no Brasil, realizado pela maioria dos grandes meios de comunicação, é a manipulação da informação”.[xxiii]
A principal consequência dessa manipulação é que os meios de comunicação não espelham a verdade. A maioria do conteúdo que a imprensa disponibiliza ao público possui alguma conexão com a realidade. Ainda segundo Abramo, contudo, essa conexão é indireta. É uma alusão indireta à realidade, porém que a distorce. (…) A conexão entre a imprensa e a realidade se assemelha à existente entre um espelho deformado e um objeto que ele supostamente espelha.
Porém, não era apenas a grande imprensa que via Adhemar como um político corrupto, até mesmo parte do seu eleitorado compartilhava de tal percepção. Essa ambiguidade acabaria resultando na consolidação da imagem de Adhemar como o político que “rouba, mas faz” refletindo assim em seu próprio eleitorado a percepção de sua prática política.
Seu inegável carisma, somado à ampla máquina constituída ao seu redor e ao fato de apresentar propostas concretas que atendiam aos anseios dos eleitores paulistas, especialmente os mais pobres e a classe média descontente, fez tais acusações ficarem em segundo plano. Tal cenário mostra como a relação do líder populista com sua base se dava não somente com o simbólico, mas também através da percepção concreta de que suas demandas e anseios eram atendidos pela figura à qual davam seu apoio e voto.
Cabe destacar que o eleitorado da periferia geralmente percebia Adhemar de Barros como um político pertencente às classes dominantes, porém com uma preocupação com os menos favorecidos, o que lhe dava uma reputação benevolente. Embora de origem privilegiada, ele criou um vínculo com os eleitores por meio das famosas visitas, uma forma de se aproximar dessa população que de forma inegável provocava empatia. Esta conexão próxima e a identificação das necessidades locais gerou um sentimento de gratidão e reconhecimento entre os habitantes. No entanto, devido ao seu caráter pragmático, o aparecimento de um líder ainda mais carismático acabou reduzindo a influência de Adhemar na capital paulista. Com a ascensão de Jânio Quadros, a influência do adhemarismo começa a se concentrar no interior.
No decorrer do presente texto, procuramos refletir acerca dos usos às vezes enviesados de conceitos-chave, seja para a academia ou para a sociedade, e como os mesmos são, em alguns casos, instrumentalizados em prol de disputas políticas. Por fim, trago como uma espécie de nota curiosa uma passagem resgatada pelo já citado John French, que mostra como uma figura populista permaneceu na memória coletiva, até mesmo na memória daquele que é visto como uma das maiores lideranças do continente.
Vejamos: “As lembranças mais antigas de Lula sobre política são da política eleitoral populista vibrante de São Paulo. Ele recorda que alguns membros de sua família eram adhemaristas, apoiadores do rechonchudo e três vezes governador Adhemar de Barros, cujo apelo popular e incontestável carisma eram tão fortes quanto sua tendência à corrupção. A sua famosa caixinha levou seus apoiadores a gracejar com o clássico comentário “ele rouba, mas faz”. Ao mesmo tempo, Lula gostava de assistir aos histriônicos discursos públicos do oponente mais visceral de Adhemar, Jânio Quadros, o excêntrico ex-professor cuja ascensão meteórica iniciou-se com sua memorável campanha para prefeito de São Paulo em 1953, “o tostão contra o milhão”, seguida de sua eleição para governador em 1954 e para presidente do Brasil, em 1960”.[xxiv]
A análise dos conceitos de corrupção e populismo no contexto brasileiro revela não somente sua complexidade, mas também a intensa instrumentalização desses termos ao longo da história. Como demonstrado, a corrupção não é um fenômeno estático, mas um conceito que se transformou ao longo do tempo, adquirindo diferentes significados conforme as mudanças sociais e políticas. Desde sua associação inicial com questões morais no século XVIII até sua vinculação com o abuso de poder e delitos administrativos, a corrupção foi frequentemente utilizada como ferramenta política, seja para justificar intervenções autoritárias, seja para desacreditar adversários. O caso de Adhemar de Barros ilustra como a corrupção pode ser simultaneamente denunciada e tolerada, dependendo do contexto e dos interesses em jogo, evidenciando a ambiguidade desse fenômeno na sociedade brasileira.
Já o populismo, por sua vez, é um conceito ainda mais polissêmico e controverso. Como discutido, ele pode ser entendido como uma estratégia política, uma ideologia ou mesmo um estilo de governar, mas sua aplicação frequentemente carrega uma carga pejorativa, especialmente quando associado a governos que desafiam os ditames do mercado ou buscam maior conexão com as massas.
A análise de figuras como Adhemar de Barros e a relação entre populismo e corrupção mostram como esses conceitos se entrelaçam, muitas vezes servindo para deslegitimar lideranças que, apesar de suas práticas questionáveis, mantinham forte apoio popular. Isso reforça a necessidade de uma abordagem crítica e contextualizada ao analisar tais fenômenos, evitando anacronismos e generalizações simplistas.
Por fim, é fundamental destacar que a instrumentalização de tais conceitos não se limita ao passado. No cenário político contemporâneo, tanto a corrupção quanto o populismo continuam a ser utilizados como armas retóricas em disputas partidárias e ideológicas. A polarização política recente no Brasil, marcada por eventos como o golpe perpetrado contra Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro, demonstra como esses termos são mobilizados para justificar ou criticar ações políticas, muitas vezes à custa de um debate mais profundo e substantivo. Portanto, compreender a historicidade e a complexidade desses conceitos é essencial para evitar manipulações e promover uma discussão mais equilibrada acerca dos desafios da democracia brasileira.[xxv]
*Daniel Costa é mestrando em História na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Referências
ABRAMO, Perseu. Padrões de manipulação na grande imprensa. 2ª edição. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2016.
COSTA, Daniel. “Corrupção, corruptores e contrabando: uma discussão historiográfica sobre práticas ilícitas na América Portuguesa (C. Século XVIII)”. REVHIST – Revista de História da UEG, [S. l.], v. 11, n. 2, p. e122204, 2022. Disponível em: www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria/article/view/12780.
COTTA, Luiza Cristina Villaméa. Adhemar de Barros (1901–1969): a origem do “rouba, mas faz”. São Paulo: FFLCH/USP, 2008. (Dissert. De Mestrado).
DUARTE, Adriano; FONTES, Paulo. “O populismo visto da periferia: adhemarismo e janismo nos bairros da Mooca e São Miguel Paulista (1947-1953)”. Cadernos AEL, v.11, n.20-21, 2004.
FRASER, Nancy. O velho está morrendo e o novo não pode nascer. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
FRENCH, John D. Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2023.
LACLAU, Ernesto. A razão populista. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
LEAL, Murilo. O voto e a vida: democracia, populismo e comunismo nas eleições de 1954 e 1962 em São Paulo. São Paulo: Alameda, 2023.
MORAES, Leonardo Segura; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. “Populismo como conceito: teoria e história das interpretações”. Revista de Economia Contemporânea (REC), VOL. 28, 2024. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/64879
MOUFFE, Chantal. Por um populismo de esquerda. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil: uma história, séculos XVI a XVIII. São Paulo, Autêntica: 2017.
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
Notas
[i] FRENCH, John D. Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2023, p. 607.
[ii] FRENCH, 2023, p. 623.
[iii] COSTA, Daniel. “Corrupção, corruptores e contrabando: uma discussão historiográfica sobre práticas ilícitas na América Portuguesa (C. Século XVIII)”. REVHIST – Revista de História da UEG, [S. l.], v. 11, n. 2, p. e122204, 2022, p.1.
[iv] ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder no Brasil: uma história, séculos XVI a XVIII. São Paulo, Autêntica: 2017, p.19. Além do trabalho de Adriana Romeiro, referência para quem tem interesse no tema, conferir: ANDÚJAR CASTILLO, Francisco; PONCE LEIVA, Pilar. Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018; COELHO, Maria Filomena; RUST, Leandro Duarte. Corruption in pre-modern societies: challenges for historical interpretations.Brasília: Caliandra, 2024; ROMEIRO, Adriana. Ladrões da República: Corrupção, moral e cobiça no Brasil, séculos XVI a XVIII. Belo Horizonte: Fino Traço, 2023 e RUBÍ, Gemma; FERRAN TOLEDANO, Luís. Investigar la historia de la corrupción: conceptos, fuentes y métodos. Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona, 2021.
[v] Apesar de transcrever literalmente a passagem de French, discordo quando o autor associa o termo lulismo ao conjunto de interpretações acerca da figura e dos governos do presidente Lula. O termo lulismo, cunhado pelo cientista político André Singer, pode ser considerado um dos diversos termos analíticos cunhados por estudiosos do assunto.
[vi] FRENCH, John D. Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2023, p.40.
[vii] FRENCH, John D. Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2023, p. 521.
[viii] Publicado pela primeira vez ainda na década de 1960, o ensaio voltaria a ganhar relevância no começo da década de 1980 no bojo das transformações políticas e sociais que ocorriam no país. Nesse momento, Weffort desenvolvia outra agenda de pesquisa, afastando-se da temática. O autor voltaria a tangenciar o tema nos últimos anos, chegando a publicar um livro ao lado do cientista político José Álvaro Moisés. Ver: WEFFORT, Francisco; MOISÉS, José Álvaro. Crise da democracia representativa e neopopulismo no Brasil. Rio de Janeiro : Konrad Adenauer Stiftung, 2020.
[ix] WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p.61. Sobre o debate acerca da produção de Weffort, conferir: MUSSI, Daniela; CRUZ; André Kaysel Velasco e. “Os populismos de Francisco Weffort. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 35, n. 104, 2020.
[x] Cabe observar que diante da proposta do presente artigo não será realizada uma extensa revisão sobre o debate que permeia o conceito de populismo, para uma discussão de maior densidade recomenda-se as seguintes leituras: AMADEO, Javier; PAULA, Guilherme Tadeu de. “A saga do populismo: momentos da história de um conceito”. In: Exilium – Revista de Estudos da Contemporaneidade, vol. 2, num. 3, 2021; CRUZ, André Kaysel Velasco; CHALOUB, Jorge. “O Enigma do populismo na América Latina: conceito ou estereótipo?” In: BATISTA, M.,RIBEIRO, E., ARANTES, R., (org.). As teorias e o caso. Santo André: Editora UFABC, 2021; GOMES, Angela de Castro. “O populismo e as ciências sociais no Brasil: notas sobre a trajetória de um conceito”. In: Tempo, vol. 1, n°. 2, 1996; URBINATI, Nadia; AMADEO, Javier; PAULA, Guilherme. “A teoria política do populismo”. In: Exilium – Revista de Estudos da Contemporaneidade, vol. 2, num. 3, 2021.
[xi] LACLAU, Ernesto. A razão populista. Tradução: Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
[xii] MOUFFE, Chantal. Por um populismo de esquerda. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
[xiii] FRASER, Nancy. O velho está morrendo e o novo não pode nascer. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
[xiv] MORAES, Leonardo Segura; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. “Populismo como conceito: teoria e história das interpretações”. Revista de Economia Contemporânea (REC), VOL. 28, 2024.
[xv] LEAL, Murilo. O voto e a vida: democracia, populismo e comunismo nas eleições de 1954 e 1962 em São Paulo. São Paulo: Alameda, 2023, p.630.
[xvi] LEAL, 2023, p. 637.
[xvii] DUARTE, Adriano; FONTES, Paulo. “O populismo visto da periferia: adhemarismo e janismo nos bairros da Mooca e São Miguel Paulista (1947-1953)”. Cadernos AEL, v.11, n.20-21, 2004.
[xviii] O caso e a expressão acabaram dando origem à marchinha intitulada “Caixinha do Adhemar”, composta por Herivelto Martins e Benedito Lacerda, a canção contava com os seguintes versos: Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar? Na famosa caixinha do Adhemar? Que deu livro, deu remédio, deu estrada… Já se comenta de norte a sul Com Adhemar, está tudo azul. A marchinha Caixinha Abençoada, gravada pelo cantor Nélson Gonçalves, logo estourou nas rádios no período pré-carnaval. Segundo Luiza Villaméa Cotta: “De imediato, um grupo mais próximo de correligionários alertou o político para o perigo que a letra da canção poderia representar na campanha. Adhemar deu gargalhadas. “Quem tem lombriga assustada não serve para andar comigo”, respondeu. E saiu cantarolando a música”. COTTA, Luiza Cristina Villaméa. Adhemar de Barros (1901–1969): a origem do “rouba, mas faz”. São Paulo: FFLCH/USP, 2008, p. 26 (Dissert. De Mestrado).
[xix] Em sua pesquisa Luiza Villaméa Cotta esmiuçou o funcionamento da famigerada caixinha, mostrando desde a cobertura por parte da imprensa, especialmente o jornal O Estado de São Paulo até a “diversidade” de contribuintes, abarcando desde negócios ilícitos como jogo do bicho, cassinos e prostituição até a indústria da construção pesada. COTTA, Luiza Cristina Villaméa. Adhemar de Barros (1901–1969): a origem do “rouba, mas faz”. São Paulo: FFLCH/USP, 2008, (Dissert. De Mestrado), especialmente os capítulos: O homem “que rouba” e O homem “que rouba, mas faz”. pp. 46 – 98.
[xx] Para mais informações acerca da relação de Adhemar de Barros com os cinejornais, conferir: ARCHANGELO, Rodrigo. Um Bandeirante nas telas. O discurso adhemarista em cinejornais. São Paulo: Alameda, 2015.
[xxi] DUARTE, Adriano; FONTES, Paulo. “O populismo visto da periferia: adhemarismo e janismo nos bairros da Mooca e São Miguel Paulista (1947-1953)”. Cadernos AEL, v.11, n.20-21, 2004, p.92.
[xxii] COTTA, Luiza Cristina Villaméa. Adhemar de Barros (1901–1969): a origem do “rouba, mas faz”. São Paulo: FFLCH/USP, 2008, p. 36 (Dissert. De Mestrado).
[xxiii] ABRAMO, Perseu. Padrões de manipulação na grande imprensa. 2ª edição. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2016.
[xxiv] FRENCH, John D. Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Expressão Popular, 2023, p. 139.
[xxv] O presente artigo apresenta reflexões resultantes do desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado: “Que o modo vença mais que o poder”: uma análise das práticas de combate à corrupção durante o período pombalino (Pernambuco e Minas Gerais, c. 1758–1768), pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UNIFESP com apoio do CNPq e das discussões, resultante da participação na disciplina Populismo e neopopulismo no Brasil e na América Latina: História e debate, ministrada por Murilo Leal Pereira Neto no âmbito do referido programa.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA