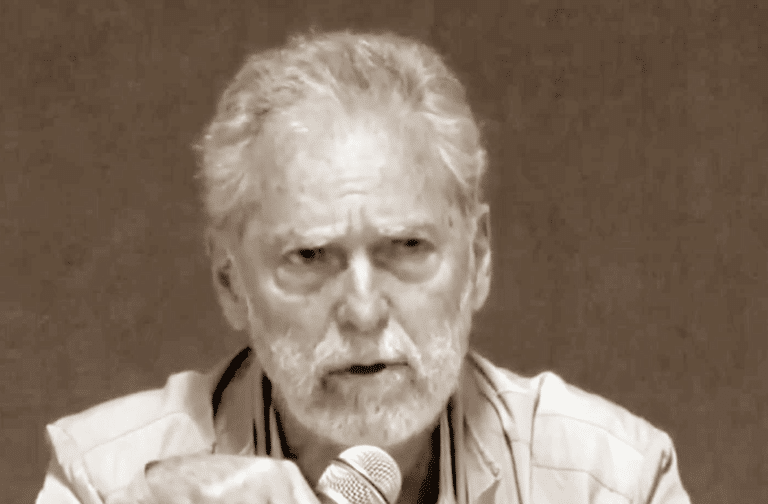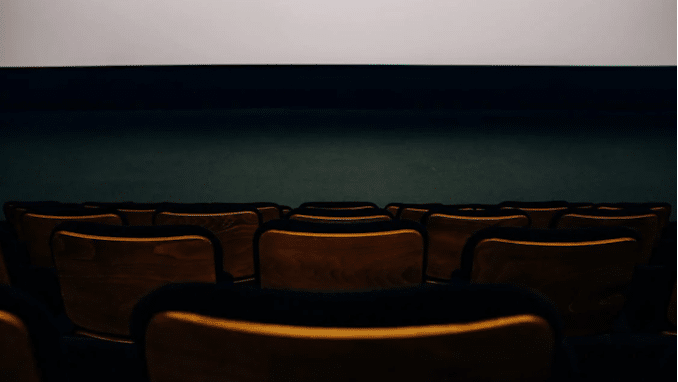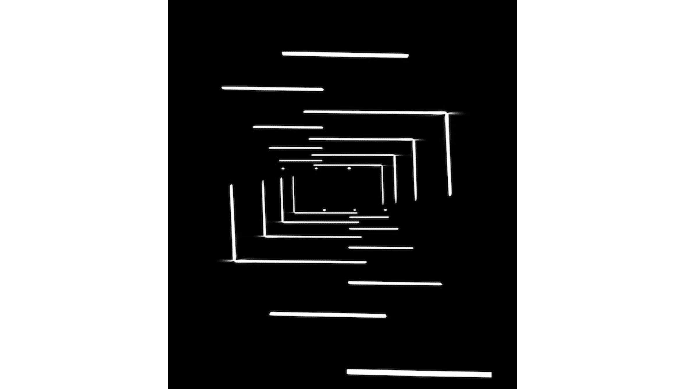Por MARILIA PACHECO FIORILLO*
Uma plataforma política sem reviravoltas trovejantes: apenas tornar os homens menos infelizes
Livros longos, nada contra. Que seria de nós sem o Tristram Shandy de Sterne, sem Ana Karenina de Tolstoy, The Shifting Point de Peter Brook ou Todos os Homens do Rei, de Robert Penn Warren, ou O Leviatã de Hobbes e o magnífico Declínio e Queda do Império Romano, do setecentista Gibbon?[i]
Uns pobretões. Que perderam a chance de experimentar mil vidas nessa única, de reconhecer-se, reinventar-se e se subverter. Esses livros, embora demorados, lê-se de um fôlego, contraditoriamente devorando e degustando.
Ninguém duvida dos efeitos terapêuticos de livros. Nunca se está só, com eles. Quando no exílio, Maquiavel, em sua comovente carta ao amigo Francesco Vettori, conta que passa os dias entediado jogando com um estalajadeiro, padeiro e açougueiro, mas à noite despe suas roupas enlameadas e veste “roupas dignas de um rei” para penetrar “ nas antigas cortes dos homens do passado”: livros de Dante, Petrarca, Ovídio. E o segredo dos livros, sabe-se, é que eles só se completam graças ao leitor, a nós. Com nosso repertório e imaginação. Ao contrário dos filmes e séries (cada vez melhores), é o leitor quem faz o livro. O autor ajuda, mas, principalmente na ficção, é ao leitor que cabe delinear rosto e gestos dos personagens, as nuances de sentimentos e comportamentos, os detalhes de um baile ou de uma batalha, até os odores do local.
O encômio aos livrões é só para fazer o elogio dos livrinhos. A começar da magreza de O Príncipe, manual (ih!) da arte (hum..) de governar, até hoje, séculos depois, imbatível. De Tolstoy, por exemplo, pode-se dizer que A Morte de Ivan Ilyich é o suprassumo de tudo que escreveu. Sem esquecer A Brevidade da Vida, de Sêneca e as Meditações de Marco Aurélio.
Então passemos a um panfletinho de diminutas 44 páginas, escrito pelo filósofo norte-americano e neo-pragmatista Richard Rorty, Uma ética laica. Com introdução de Gianni Vattimo e perguntas curtas da audiência, é um primor que certamente nos levará a devorar e degustar outros Rorty.
A parceria com Vattimo um católico devoto, é constante, vide O Futuro da Religião. Não são salamaleques de tolerância mútua, na esteira do pensiero debole (pensamento frágil). Uma Ética Laica é uma introdução à tese de Rorty de que não há absolutos em filosofia, e apenas o relativismo, ao contrário do fundamentalismo e absolutismo (e toda metafísica) é o único jeito de pensar, melhor, de enfrentar o mundo. É um lembrete de sua longa jornada filosófica, que começa na adolescência quando ele, de família esquerdista norte-americana, se vê dividido entre o amor ás orquídeas (inconfessável num esquerdista) e a pureza sem matizes do pensamento trotskista.
Orquídeas, ou borboletas, cabem em um pensamento revolucionário? Ele achava que não, e foi essa angústia adolescente que o levou, mais tarde, a descobrir o quanto é tolo e superficial raciocinar em termos ou/ou. Melhor abandonar a pretensa coerência escolástica, e adotar o e/e. Por exemplo, sobre a crueldade, tema que lhe é tão caro: 1984, de George Orwell é a obra-prima da dinâmica e maneirismos da crueldade social. E, e Lolita, de Nabokov, o melhor retrato do alcance e manhas da crueldade individual. São esferas distintas, e decalcam duas das inúmeras dimensões da crueldade humana. Retratá-las em suas peculiaridades, sem forçar paralelismos e tangências, amplia a compreensão sobre esse vício humano, e, quem sabe, desencadeia a desejada compaixão.
Das orquídeas burguesas à adoção do relativismo – como metro sensato –, Rorty escreveu The Mirror of Nature, em que lança a âncora para desdenhar da leitura dos fatos como eles parecem se espelhar a nós, e admitir que seria uma estultice confinar, ou colocar uma camisa de força, no primado da compreensão única do fenômeno. Seria mais razoável acatar aparentes incongruências, se concordarmos com a disparidade das esferas da vida, do conhecimento, pensamento, emoções, tradições e escolhas.
Sem abdicar de sua dívida a Heidegger (o “estar aqui” versus o ser platônico), Rorty é mais filho de Stuart Mill, William James e Dewey. E do insigne e pachorrento Hume,[ii] de quem Immanuel Kant dizia, com admiração, ter-lhe acordado do “sono dogmático”. Hume era empirista e cético em filosofia, e sentimentalista em moral (isto é, as ações morais provém de sentimentos, não de princípios e imperativos).
Rorty é um continuador dessa estirpe, do pragmatismo de James e do utilitarismo para o qual o bem maior é “o máximo da felicidade de cada um e a totalidade da felicidade de todos”, conta difícil de equacionar. Sabe-se que o ideal de uma sociedade em que todos amam todos como a si mesmos é uma monstruosa quimera. Cuja perversão histórica se consumou nos totalitarismos de esquerda e direita. Mas, apesar do pessimismo, não cede à apatia, e se engaja na ideia de que, sim, seria possível uma sociedade em que “todos tenham respeito pelos outros” – na qual nem sempre o desejo do outro é intrinsecamente perverso.
A plataforma política de Rorty é uma plataforma anti-crueldade. Sem reviravoltas trovejantes. Minimalista: apenas tornar os homens menos infelizes.
È por isso que Rorty tem certa aversão a utopias (é só lembrar que Thomas Morus, o clássico utópico, se comprazia em caçar hereges e enviá-los à fogueira). Daí sua ambiguidade quanto á democracia: às vezes faz uma rasgada apologia do menos ruim dos sistemas, ás vezes, como nesse opúsculo, diz que ela é apenas uma, entre outras, formas de se atingir a “felicidade”. “Amanhã poderia ser qualquer outro meio”.
O único consenso é a necessidade de salvaguardar a sobrevivência da humanidade, e evitar a crueldade. Mas para isso seria obrigatório convocar a um certo predicado, meio em falta: a imaginação. O dom de ser o outro, bem diferente de reconhecer a alteridade: o dom de ser Ivan Iilych, Anna Karenina, Winston Smith e a vítima de Lolita. Mas como incutir esse dom nas pessoas, pressuposto da empatia, especialmente em um período em que a indiferença prospera?
Algumas pistas são delineadas em outros livros e artigos de Rorty.[iii] Assim como transtornou a noção de filosofia como espelho do mundo, ele dá um piparote no kantismo e seu nobre ideal de imperativo categórico. Nem precisaria nos mostrar que nobres princípios se esfacelam rapidinho quando as coisas apertam: estamos vivendo isso, o “meu pirão primeiro”. O jeito, então, seria ampliar essa noção de meu para nosso, e de nosso para nós todos, um identitarismo da tribo humana. A originalidade de Rorty está em refinar e atualizar aquela máxima humeana de que boas ações só são cometidas quando o afeto, a lealdade, a amizade à distância, essas virtudes tributárias do sentimento e da imaginação, entram em jogo.[iv]
Vivemos a Era da Crueldade. Não da violência, da ferocidade, as atrocidades, dos extremos, das incertezas, mas do sadismo que virou regra, não espanta mais e não precisa prestar contas. O passado recente está lotado delas, sim, como os campos de extermínio do III Reich, os Gulags, o Khmer Rouge no Camboja que quebrava os dedos dos pianistas antes de enviá-los a campos de reeducação na área rural. Mas essas malignidades, quando vieram ao grande público,[v] causaram aversão, e algumas foram mesmo julgadas e punidas.
A crueldade, para diferenciá-la da violência, implica em gozo do perpetrador e prazer no espetáculo. Dizem que os fenícios, quando conquistavam uma cidade, em vez de matar os habitantes lhes cortavam pés e mãos. Nunca faltou público para os gladiadores, um entretenimento como eram as posteriores decapitações em praça pública. E a Inquisição, além de criar inventivos instrumentos de tortura, não poupava fogueiras para ecoar os gritos das vítimas queimando aos poucos.
Crueldade é um ato de gozo. É o gozo da soldadesca russa violando e executando os chechenos (assistam ao filme The Search, remake, cujo protagonista é uma criança chechena que escolhe a mudez como defesa). Ou, se preferirem, vejam as cenas diárias, dos refugiados que morrem na travessia, por obra dos traficantes de pessoas, do terror instaurado pelo Taleban no Afeganistão, sob os auspícios de Trump, dos budistas de Myanmar que queimam os Rohingya que não conseguiram fugir, 98% dos afegãos sob risco de fome, o Yemen, a Síria, o….tornou-se monótono!
A crueldade atual é demais corriqueira, para lá de comum, rotineira, trivial. Passamos batido por ela. Mudamos de canal, para uma comédia romântica.
Intoxicados de impotência, parece que só nos restam duas alternativas: cinismo (autoindulgente) ou ingenuidade (combativa e à deriva). The Search, o filme, foi detestado pela crítica, que o desancou como naif por denunciar o imobilismo da comunidade internacional. Revoltar-se contra óbvias anomalias virou coisa de Poliana. Pois, afinal o que temos com isso?
Tudo. A natureza já está mostrando as garras. A miséria vai bater à sua porta, ou pular o muro. A boçalidade e o bullying, gêmeos da couraça de indiferença, serão medrosamente acatados.
Para Rorty, a resistência consiste em buscar um pacto de mínima concórdia. Em que o eu e o meu se avizinhe do ele, dele, com ele. Curiosamente, só o individualismo, quando extremado na projeção de si no outro poderia nos tirar da ruína total. Rorty reafirma que só quando ampliarmos nossa comunidade de lealdades, de introjeção afetiva no outro, é que conseguiríamos tecer uma tênue comunidade de “confiança”: “começar a aumentar o número de pessoas que pertencem a nosso círculo”[vi]. Alargar o círculo não é ceder o único pedaço de pão ao filho, em vez de dar metade a um estranho. Alargar o círculo é impedir por todos os meios, através da comunidade internacional, que tenhamos de viver essa “escolha de Sofia”.
Para Rorty não há nada de simplório nesse ativismo. Não é naif nem uma fantasia mirabolante, pois “só quando os ricos puderam a começar a ver riqueza e pobreza mais como instituições sociais que parte de uma ordem imutável” as coisas mudaram. Entretanto, para tal, seria indispensável acionar a imaginação, sair da mesmice, substituir-se em si mesmo, ser vários em um, aquilo que dizíamos da leitura como o romance de formação do caráter.
Conclusão: de boas intenções o inferno está pavimentado. Paradoxalmente, só o egoísmo compartilhado na consciência de uma ameaça iminente e comum (evitar a crueldade) vai nos resgatar, e ás futuras gerações, de trevas de edículas ou superpotências se batendo, da ganancia e da desigualdade, da serpente que já saiu do ovo e nos traz sadismo e destruição.
Um senão: Rorty não consegue responder a uma pergunta da audiência. Pergunta-fábula: “Caio em uma ilha de um milhão de canibais. A soma das felicidades será me comerem. È a ilha de Hobbes e Freud. Como escaparia?” Rorty se esquiva, admitindo que não temos como convencer os habitantes a renegar o canibalismo tradicional.
Esquiva-se mas também se reafirma: lamentavelmente já habitamos essa ilha de crueldade e indiferença, e de canibalismo material (o 1% contra os 99%) e simbólico. Vale reler Lord of the Flies, de William Golding, para entender no que nos tornamos e, acima de tudo, quem deveríamos deixar de ser. Rapidinho.
*Marilia Pacheco Fiorillo é professora aposentada da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). Autora, entre outros livros, de O Deus exilado: breve história de uma heresia (Civilização Brasileira).
Notas
[i] Sem falar dos volumes de Totalitarismo de Hannah Arendt, de Thomas Hardy, de Gunther Grass, dos Nabokovs. As Mil e Uma Noites, lista constrangedoramente interminável, à qual injustamente escaparia muito.
[ii] Ver o Apêndice à Investigação sobre os Principios da Moral, 1751.
[iii] Em especial, Contingencia, Ironia e Solidariedade, e Pragmatismo e Política.
[iv] Vide “Justiça como lealdade ampliada”, em Pragmatismo e Política.
[v] O historiador Walter Laqueur, em The Terrible Secret: Suppression of the Truth about Hitler’s Final Solution, revela que Cruz Vermelha e o Vaticano estavam cientes desde o início dos campos de extermínio, e o Vaticano facilitou a fuga de diversos nazistas, entre eles Mengele, através das Rat Lines do cardeal Aloïs.
[vi] Citando o autor Peter Singer.