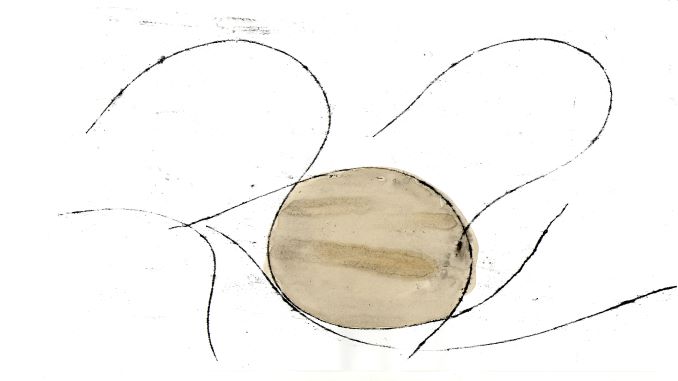Por ERALDO SOUZA DOS SANTOS*
A Declaração Universal não só não prevê um direito de resistência à opressão como também foi concebida com o objetivo de não permitir que esse direito tomasse contornos políticos
Nesse domingo último, 10 de dezembro de 2023, a Declaração universal dos direitos humanos fez 75 anos. E durante as comemorações, não se deixou de mencionar mais uma vez a importância do documento enquanto instrumento jurídico e político chave na resistência contra a tirania e a opressão. Após a Segunda Guerra Mundial e os horrores do holocausto, a Declaração Universal abriria uma nova era de respeito à dignidade do ser humano.
Não é incomum, nesse sentido, encontrar em livros de história e manuais jurídicos a asserção de que a Declaração Universal retoma a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) redigida durante a Revolução Francesa, cujo Artigo I ditava que “A finalidade de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. Ou de que a Declaração de 1948 recupera elementos centrais da declaração de 1793, que asseverava em seu Artigo XXXV que “quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é, para o povo e para cada parte do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres”.
Não devemos esquecer, contudo, que, contrariamente às declarações de 1789 e 1793, a Declaração universal dos direitos humanos não lista o direito de resistência à opressão entre seus artigos. É no preâmbulo que a resistência é tematizada: “Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão…”.
É, sem sombra de dúvida, razoável identificar nessa passagem um direito de resistência; o historiador Johannes Morsink, por exemplo, defende que se trata, nesse sentido, de um “direito submerso”. É notável, contudo, que não se trata aqui propriamente de um direito, mas de uma constatação de natureza realista: se e quando os direitos humanos não são protegidos, os seres humanos recorrem à rebelião contra a tirania e a opressão. Não se afirma explicitamente que os seres humanos possuem o direito humano de agir assim. O texto do prefácio soa, antes, como uma advertência aos governantes que buscarão se opor ao novo regime internacional de proteção e implementação de direitos humanos – e não como um esforço de proteger aqueles que resistirão a tirania de tais governos.
E não é um acaso que essa passagem da Declaração Universal tenha sido redigida assim. Como Emma Mackinnon revela em seu trabalho sobre a reinvenção dos direitos humanos no século XX, parte considerável da comissão de redação do documento opôs-se frontalmente à ideia de um direito de resistência à opressão. O que os arquivos da comissão trazem à luz é a percepção de que tal direito seria utilizado para justificar revoluções contra impérios europeus e contra a supremacia branca nos Estados Unidos. Ora, essa não era a intenção dos governos britânico, francês e estadunidense, os principais atores políticos por trás da concepção da Declaração Universal.
Eleanor Roosevelt, por exemplo, recusou a inclusão de um direito de resistência no documento. John Peters Humphrey, jurista canadense, insistiu, contudo, que o direito fosse incluído na Declaração e nos seguintes termos: “Todos têm o direito, individualmente ou em concerto com outros, de resistir à opressão e à tirania”. René Cassin, delegado francês na comissão, defendeu, por sua vez, que a proposta de Humphrey fosse acatada, mas em termos mais precisos: “Sempre que um governo violar de forma grave ou sistemática os direitos humanos e as liberdades fundamentais, os indivíduos e os povos têm o direito de resistir à opressão e à tirania, sem prejuízo de seu direito de recorrer às Nações Unidas”. Em meio aos debates, o compromisso encontrado foi relegar a referência à resistência ao preâmbulo da Declaração.
De um ponto de vista histórico, portanto, a Declaração Universal não só não prevê um direito de resistência à opressão como também foi concebida com o objetivo de não permitir que esse direito tomasse contornos políticos claros no direito internacional que encontrava sua gênese depois da Segunda Guerra. A Declaração não foi concebida com o objetivo de justificar a resistência à opressão colonial e imperial, mas com o objetivo de deixar em aberto a possibilidade de que as potenciais coloniais e imperiais pudessem justificar a resistência à resistência à opressão com o suposto objetivo de proteger os direitos humanos no mundo colonizado.
Não se trata de negar, com isso, as vitórias conquistadas através de outros instrumentos jurídicos como a Carta Internacional de Direitos Humanos e a maneira como subsequentemente as reconfigurações do direito internacional têm aberto caminho para a justificação da resistência, embora, sobretudo sob a forma de protesto pacífico. Trata-se antes de reconhecer que o processo de redação da Declaração Universal foi marcado por uma série de batalhas discursivas com o objetivo não somente de evitar a ressurgência de regimes totalitários como a Alemanha nazista, mas também de proteger a ordem imperialista totalitária vigente.
Se fosse pelos atores políticos que conceberam a Declaração não haveria direito humano de resistência à opressão e à tirania. Foi, sobretudo, durante a Guerra da Argélia (1954–1952) – numa luta anticolonial contra o Império francês, portanto – que a Declaração Universal, assim como a Convenção de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais, foram interpretados na prática como garantindo um direito de resistência.
Partindo de uma interpretação da Declaração de 1948, inspirada pela leitura das declarações revolucionárias de 1789 e 1793, os revolucionários argelinos buscaram usar o novo direito internacional para justificar sua luta em termos jurídicos. Foram eles – e não a boa vontade das potências capitalistas e imperialistas – que recentraram a ideia de um direito de resistência na teoria e na prática dos direitos humanos.
René Cassin, que, como vimos, defendeu a inclusão do direito de resistência na Declaração, justificou anos depois a repressão da luta pela independência na Argélia. O direito de resistência, para René Cassin, tinha como objetivo proteger os indivíduos em situações como a França de Vichy, sob ocupação nazista, e não uma colônia francesa contra a metrópole. A violência anticolonial não poderia ser comparada à violência da França, já que o regime francês, em sua missão civilizatória agora rearticulada nos termos da Declaração Universal, estaria buscando levar direitos humanos à Argélia.
Seria a França que estaria do lado dos direitos humanos, dada a sua história política desde a Revolução Francesa, e não os revolucionários argelinos. E não se trataria de um conflito armado internacional – apenas de uma rebelião em território nacional francês –, de forma que as Convenções de Genebra não se aplicariam, e crimes de guerra seriam apenas medidas de emergência justificadas.
Apesar de sua história, temos razões para comemorar os 75 anos da Declaração Universal e para acreditar que, nesse período, ela desempenhou um papel importante na luta contra a tirania e a opressão. Mas foi, sobretudo, o sangue de revolucionários anti-imperialistas durante e após a Guerra da Argélia que radicalizou a interpretação do documento. Da Palestina à Papua Ocidental e além, é essa a herança da Declaração Universal que é urgente que não esqueçamos.
*Eraldo Souza dos Santos é doutorando em filosofia na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA