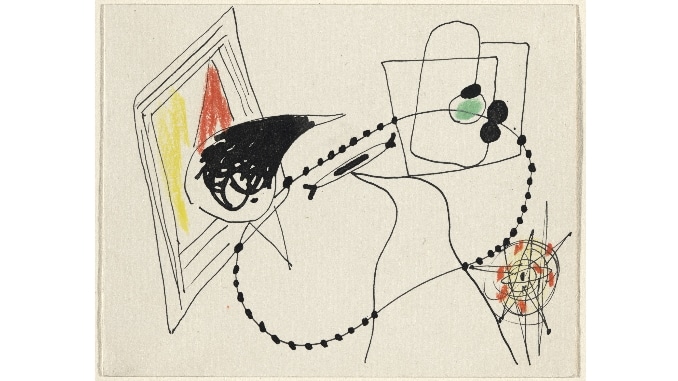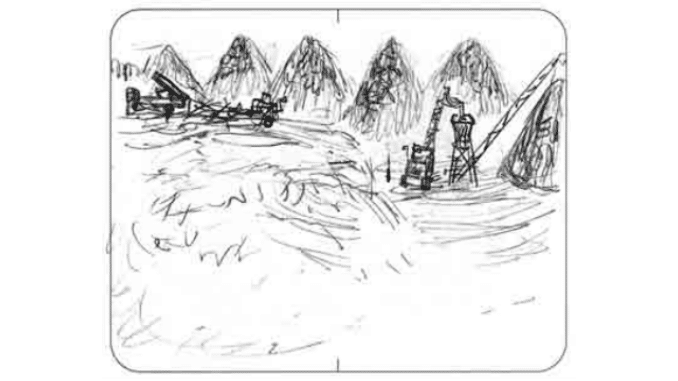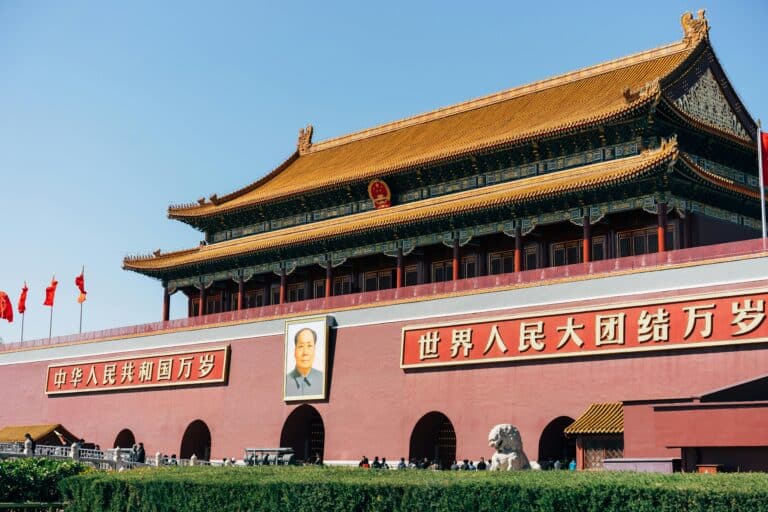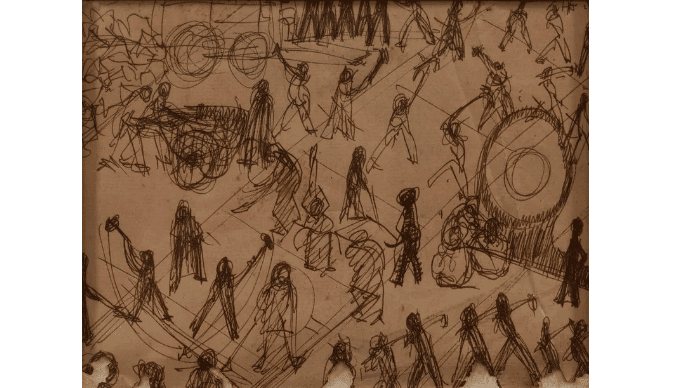Por RONALD F. MONTEIRO*
Comentário sobre a trajetória artística do cineasta.
1.
Os anos 1950 foram a época da chanchada. As comparações com as cinematografias mexicana e argentina impõem-se nesta introdução para efeito de aproximação e diferenciação cultural. As comédias de Cantinflas, Tintan (México) e Luis Sandrini (Argentina) constituíram-se em êxitos garantidos de bilheteria, graças, sobretudo, aos custos modestos das produções respectivas (e, obviamente, o prestígio dos atores). Entretanto, o que modelava aqueles centros produtores era o melodrama (devidamente aculturado, como a comédia, a partir dos modelos hollywoodianos). E, em boa parte, graças aos números musicais. No Brasil e particularmente na produção carioca, as canções acresciam – ou complementavam – de modo preponderante a comédia; não o melodrama.
Chanchada era sinônimo de humor mais canção popular, uma tradição que já vinha do nosso teatro-revista. Não estranha que o gênero tenha desaparecido com a vulgarização da TV. Números humorísticos e números musicais faziam parte do novo veículo desde o início (anos 50) e dispensavam os enredos-pretexto do espetáculo cinematográfico.
No começo dos anos 1960 a chanchada ainda era absoluta (embora muitos dos lançamentos fossem tributários da década anterior). Nas exibições de 1960, a chanchada foi dominante (mais de 70% da produção mostrada nas salas), diminuindo verticalmente nos anos seguintes. Pouco mais de 30% em 61, menos disso em 62, apenas 1% em 63.
Ao contrário dos cinemas mexicano, argentino e cubano (os três outros centros cinematográficos mais significativos da América Latina), o melodrama brasileiro sempre foi minoritário, dos anos 20 aos 50, embora tenha imposto sua minoria quantitativa em alguns sucessos indiscutíveis, como o Ébrio (46), de Gilda de Abreu (com o ator-cantor Vicente Celestino).
Nesse meio tempo, o neorrealismo italiano surgiu como a opção para os centros periféricos e, consequentemente, os países latino-americanos, fazerem face ao luxo das produções norte-americanas, senhoras absolutas do mercado exibidor, cujas tentativas de imitação provocaram terríveis fracassos financeiros, sobretudo entre nós (especialmente em São Paulo).
Foi de 1958 o média-metragem argentino Tire die, de Fernando Birri; do ano seguinte, Esta tierra nuestra, de Tomás Gutiérrez Alea. Também de 1959 foi O pátio, de Glauber Rocha. Em 1960 surgiam Aruanda, de Linduarte Noronha, Arraial do cabo, de Paulo César Saraceni e Mário Carneiro, Couro de gato, de Joaquim Pedro de Andrade; em 1961, O menino da calça branca, de Sérgio Ricardo, e Pedreira de São Diogo, de Leon Hirszman.
Esclareça-se, para efeito de coincidência, que os artistas dos três países ignoravam os esforços dos demais. Jung ficaria feliz com essa confirmação do inconsciente coletivo…
É uma nova geração de intelectuais, que troca os até então mais atraentes teatro e literatura pelo cinema. “Eu não tinha contato maior com o cinema. O que me interessava, até en tão, era o teatro” (declaração de Arnaldo Jabor em entrevista publicada na revista Filme Cultura, no. 17).
Fenômeno semelhante ocorreu também com a música popular, nessa mesma virada de década, quando a emergência de uma geração intelectualizada se dedicou à busca de uma identidade, impondo-se a canções naturalmente populares ou de cunho predominantemente – ou quase – comercial.
“Dizíamos: a realidade do Brasil é esta, pobre e cheia de conflitos, não adianta fazer filmes caros, não adianta criar uma indústria cópia de Hollywood. Vamos fazer filmes artísticos culturais, que deem o retrato verdadeiro deste nosso país e do nosso continente. Vamos competir e concorrer com qualidade, com nossas ideias, nossos temas e nosso tesão. Ideia na cabeça e câmera na mão. íamos formar um público para nossos filmes – um público que acreditasse nas nossas ideias, nas nossas emoções e na nossa revolução” anota Paulo César Saraceni em seu livro Por dentro do cinema novo (pág. 126).
Do curta ao longa para o já batizado cinema novismo foi um passo rápido. E, também, a noção da necessidade de comercialização de suas ideias sobre a realidade dominante entre nós e a reflexão sobre as condições de opressão impostas pela economia, as finanças e as artes do Primeiro Mundo.
O Cinema Novo foi, sobretudo, um surto. Nunca um movimento e muito menos uma escola. A carreira subsequente de seus animadores serviu exatamente para demonstrar que a nova comunidade de cineastas só tinha em comum a ideia de uma proposta inovadora de cinema, consciente das dificuldades de pesquisa fílmica num meio adverso (mercado colonizado). Suas primeiras abordagens no longa-metragem comercialmente distribuível situaram-se no ambiente rural, onde os contrastes com as grandes cidades eram mais fortes e desconhecidos do público pagante em relação a seu próprio país.
Vidas secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, e Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha, foram e continuam sendo os paradigmas dessa primeira fase, que cedo saltou para as questões urbanas, especialmente em São Paulo S/A (1965), de Luis Sérgio Person, O desafio (1965), de Saraceni, A grande cidade (1966), de Carlos Diégues, Terra em transe (1967), de Glauber Rocha e O bravo guerreiro (1968), de Gustavo Dahl. E chegou à alegoria urbano rural de Brasil, ano 2000 (1968), de Walter Lima Júnior.
Paralelamente, o espetáculo mais comercial, depois da aniquilação da chanchada, tentou explorar o faroeste nativo, com inúmeros filmes sobre o cangaço, que chegaram a ser malevolamente definidos como “nordesterns”, e o criminal urbano não inconsequente: em ambos os casos predominava – embora esquematicamente – certa heroicização do marginal (banditismo rural, criminalidade urbana). De certa maneira, esses filmes funcionavam como réplica à ética dominante do respeito irrestrito ao politicamente correto em termos legais (e preconceituais). E podem, hoje, graças ao distanciamento, serem assim entendidos, a despeito do estereótipo ideológico e da precariedade técnica evidenciados atualmente de modo mais explícito.
É assim que chega o cinema brasileiro a 1969. E com um marco de atualização e retorno à sua tradição fílmica. Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, evoca as fontes da comédia popular para impor uma crítica acre aos esquemas do poder e a análise psicossociologia do oprimido. Sociedade de consumo e autoritarismo militarista são coquetelizados com argúcia invulgar, da mesma maneira que postura autoral, atualização espetacular e revelação tecnológica do terceiro mundismo.
A década de 1960 revelou, indiscutivelmente, um cinema em processo de crescimento. Paulo Freire discorreu, durante muito tempo, sobre a pedagogia do oprimido. Hoje, que o oprimido já tem plena consciência de sua condição de colonizado, ele mudou o discurso para a pedagogia da esperança, ou seja: como sair dessa.
Foi a partir dos meados dessa década que começaram a surgir os festivais de cinema amador, reveladores de uma nova turma que se afirmaria nos anos seguintes, alguns deles já se impondo no final dos anos 1960, em filmes de características profissionais.
O cinema brasileiro da década de 1960 reflete, exatamente, essa parte do discurso. É um segmento historicamente fundamental para que fosse alcançado – pelo menos nas pretensões – o passo seguinte, que é o da esperança.
Afinal… é esta a função da história.
2.
Desde seu curta profissional de estreia, O mestre de Apipucos e O poeta do Castelo, em 1959, Joaquim Pedro de Andrade[1] fazia transparecer a ironia e o tom crítico que iriam preponderar em toda a sua obra. A maturidade seria alcançada em outro curta, Brasília: contradições de uma cidade nova, e no longa Macunaíma, realizados dez anos depois do filme de estreia.
O mestre de Apipucos e o poeta do Castelo era, na aparência, uma homenagem a dois intelectuais famosos e respeitados de nossa literatura: o sociólogo Gilberto Freyre e o poeta Manuel Bandeira. O então jovem realizador (estava com 27 anos) pediu a Freyre um relato do seu cotidiano, e o texto que lhe foi enviado foi utilizado na integra, acompanhando a deambulação do escritor pelos jardins de sua mansão em Apipucos e na casa da praia pernambucana. Ele falava de suas plantas, dos móveis e azulejos da casa, de sua biblioteca monumental, da esposa e do almoço que era preparado por uma cozinheira veterana. O filme concluía com Freyre deitado numa rede, com um livro de Bandeira na mão. Daí saltava para o poeta em seu pequeno apartamento no Castelo, centro do Rio de Janeiro. Bandeira enfrentava a selva de pedra do bairro, comprava jornal, retornava solitário ao ap onde preparava o café, atendia um telefonema e saía de novo à rua. Na faixa sonora, o poeta dizia um de seus poemas mais conhecidos: Vou me embora pra Pasárgada. A biblioteca-escritório do sociólogo era descrita orgulhosamente por ele. A de Bandeira, tão grande quanto a outra, permanecia apenas no visual.
O contraste entre o conforto doméstico de Freyre e a discreta solidão de Bandeira era eloquente. Depois de assistir ao filme e alegando ter sido explorado, o sociólogo escreveu um artigo jornalístico onde sugeria a deslealdade do cineasta. Nada disso: a comparação era contundente. Entretanto, Joaquim Pedro, evitando discussões, preferiu dividir o filme em dois: O poeta do Castelo continua exibindo seu lirismo; O mestre de Apipucos ficou como um registro inconcluso. Contudo, já nesta primeira experiência o realizador estabelecia diferenças entre os intelectuais brasileiros, o que viria a se tornar uma constante em sua obra posterior.
Um ano depois, partia para Couro de gato.[2] O filme, que chegou a ser exibido isoladamente no exterior e em sessões privadas no Brasil, tinha muito a ver com as ideias daquele tipo de proposta que viria a dar conteúdo ao que se chamou Cinema Novo. O Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes trabalhava quatro curtas para a composição de um longa que vitalizasse um projeto do grupo. Joaquim Pedro concordou em acrescentar o seu aos de Marcos Farias, Carlos Diegues, Miguel Borges e Leon Hirszman. O filme intitulou-se Cinco vezes favela e a superioridade de Couro de gato foi reconhecida unanimente pela crítica, quando do lançamento comercial.
Graças a Couro de gato o realizador frequentou cursos no exterior, travando intimidade com as propostas documentais que se faziam na época: o europeu cinema verdade o americano cinema direto. Assim voltou ao Brasil e assim elaborou Garrincha, alegria do povo. Nas intenções e na infraestrutura do enredo, o futebol como criação de ídolos e alienação dos excluídos entrava como uma luva nas ideias dos cinemanovistas. Foi quando chegou a vez do primeiro longa de ficção, O padre e a moça.[3]
Numa entrevista concedida à revista Cahiers du Cinéma, em 1966, Joaquim Pedro confessava sua vacilação face a O padre e a moça. Defendia a abertura das tentativas mas reconhecia que ainda estava tateando. De qualquer forma, O padre e a moça confirmava um pessimismo que ele atenuaria em sua obra através do sarcasmo e da crítica intrínseca, e que só estaria excluído (mas não totalmente) de Vereda tropical (episódio de Contos eróticos, 1977) e de O homem do pau-brasil, 1981. E poetizava à outrance a fuga conclusiva dos personagens-título em sequência que mantém até hoje o lirismo buscado.
Após este desvio do cinemanovismo estrito – que lhe valeu certo repúdio por parte dos colegas do surto – o realizador filmou para a televisão alemã Improvisiert und Zielbewusst (1966) Cinema Novo, no Brasil.[4] A seguir, Brasília contradições de uma cidade nova.
O país estava em plena ditadura, a produção estava sendo financiada pela multinacional Olivetti. Joaquim Pedro sabia que era tudo ou nada. Num curta metragem documental não havia espaço para estratégia de imagens a serem quase que fatalmente cortadas pela censura, a fim de serem poupadas outras mais importantes. Entrou de cabeça na crítica às ideias dos intelectuais que planejaram e ajudaram a erigir a nova capital do país.
A fala final, dita por outro rebelde, o poeta Ferreira Gullar, era taxativa: “Ao expelir de seu seio os homens humildes que a construíram e os que a ela ainda hoje acorrem Brasília encarna o conflito básico da arte brasileira fora do alcance da maioria do povo. O plano dos arquitetos propôs uma cidade justa, sem discriminações sociais. Mas, à medida que o plano se tornava realidade, os problemas cresciam para além das fronteiras urbanas em que se procuravam conter. Na verdade, são problemas nacionais de todas as cidades brasileiras que nesta, generosamente concebida, se revelam com insuportável clareza. É preciso mudar essa realidade, para que no rosto do povo se descubra o quanto uma cidade pode ser bela”.
Os produtores assustaram-se com a ferida funda que o filme marca, numa época em que imperava o chamado “milagre brasileiro”. E Brasília: contradições de uma cidade nova sofreu a autocensura de seus financiadores. Permaneceu comercialmente inédito, tendo sobrado uma única cópia mostrada a alunos dos raros cursos de cinema que existiam na época na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ou em sessões especiais que dispensavam os certificados de avaliação censória, foi apresentado muitíssimos anos depois – mais de 20 – na televisão.
O documentário inaugurava a fase adulta da inventiva de Joaquim Pedro. Atacava o idealismo ingênuo dos intelectuais que compactuavam com o poder (ainda que no período anterior à ditadura), generalizava os contrastes da classe média que tinha sido arranhada em sua dualidade no curta de estreia e prenunciava o discurso que seria retomado em Os inconfidentes (1972).
Brasília não era um espetáculo para o grande público, como tinham sido Couro de gato e Garrincha. Mas não era tão restrito (não se leia hermético) quanto O mestre de Apipucos ou O padre e a moça. Entretanto, na exibição óbvia das contradições de seu título, era tão didático quanto Cinema Novo. Mais uma vez o cineasta, só aparentemente camaleônico, mostrou a abrangência de sua capacidade criativa. Foi Macunaíma que esclareceu definitivamente as propostas de Joaquim Pedro e ratificou sua competência e importância dentro da história do cinema brasileiro.
De todos os filmes de Joaquim Pedro, Macunaíma foi o mais estudado e comentado. O americano brasilianista Robert Stam, em seu livro O espetáculo interrompido: literatura e cinema de desmistificação escora sua proposta praticamente nos filmes de Godard e no cinema brasileiro.[5] O Capítulo III, intitulado Os filhos de Ubu: a abstração e a agressão do anti-ilusionismo principia com Shakespeare e Alfred Jarry. Na abordagem do cinema começa com os primeiros Buñuel, detém-se em Godard (notadamente em Tempo de guerra (1963) Les Carabiniers) e conclui com Macunaíma, ao qual dedica 10 de suas 30 páginas, e que define como: “exemplar primoroso de la sauvagerie na arte”.
Estabelece relações entre o projeto de Mário de Andrade e o filme de Joaquim Pedro, define semelhanças e diferenças entre o movimento modernista da literatura brasileira nos anos 1920 e o Cinema Novo. No entanto, prende-se, sobretudo, às semelhanças de livro e filme, no interesse do projeto geral de seu trabalho, embora favoreça certas peculiaridades da adaptação cinematográfica, que interessam mais diretamente a esta análise (pelo menos, no início).
Heloísa Buarque de Hollanda, a partir de uma tese de mestrado intitulada Heróis de nossa gente, conseguiu editar Macunaíma: da literatura ao cinema,[6] onde trata primordialmente das diferentes propostas de criação de um herói sem caráter (o de Mário) e um herói mau-caráter (o de Joaquim Pedro). O livro é rico em esclarecimentos sobre a pesquisa de Mário para a criação de sua rapsódia sobre o herói do Brasil e sobre algumas das transformações operadas por Joaquim Pedro para adequar o original à problemática cultural brasileira do final dos anos 1960.
Com muita oportunidade, a escritora compara e distingue as problemáticas dos dois períodos, opondo a independência cultural dos modernistas ao questionamento da independência econômica dos anos 1960: o movimento no qual se insere o filme está preocupado, sobretudo, na descoberta do Brasil, mas em termos de sua estrutura social e econômica. Se Mário de Andrade aprisionava o mito às normas da literatura romanesca, Joaquim Pedro aprisiona o romance, pelo distanciamento crítico, às coordenadas da realidade brasileira no final dos anos 1960.
Confirmando – ou auxiliando previamente – as conclusões de Heloísa, Joaquim Pedro, entrevistado pela revista portenha Cine & Medios – em artigo publicado em seu no 5, de 1971 – informava que Macunaíma não era o tipo de herói que poderia ajudar o Brasil a sair de seu subdesenvolvimento: “…esse novo herói evidentemente não é Macunaíma. Macunaíma é um herói derrotado, um herói errado, um herói de consciência individual – enquanto um herói moderno, evidentemente, é um herói de consciência coletiva e é um vencedor, não um derrotado”.
A autora preocupa-se mais em discutir, no geral, a adaptação do código literário ao cinematográfico, mas explicita a postura diferencial de Joaquim Pedro em relação ao original literário de Mário ao declarar que a busca básica da técnica alegórica, no filme, consiste em devolver desmistificadamente, a realidade ao espectador.
Os livros da brasileira e do americano saíram do prelo em 1978 e 1981, respectivamente. Em 1982 surgiu Literatura e cinema; Macunaíma: do modernismo na literatura ao Cinema Novo,[7] de outro americano brasilianista, Randal Johnson. Foi o trabalho mais exaustivo e abrangente já escrito sobre um filme feito no Brasil. Voltarei obrigatoriamente a ele. É, entretanto, indispensável registrar o aparecimento recente de Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal (abril de 93), de Ismail Xavier.[8] O projeto maior do livro é a análise de filmes realizados no período politicamente crítico de 1968 a 1970. Ao filme de Joaquim Pedro são dedicadas 14 páginas sob o título: Macunaíma: as ilusões da eterna infância. Embora subordinando suas observações ao projeto geral, o autor ressalta, no filme, o questionamento do jeito brasileiro, que troca a mentalidade ascética voltada para o futuro por uma postura hedonista, como defesa de sobrevivência à vivência tutelada de fora para dentro.
Em texto escrito por Joaquim Pedro para o Festival de Veneza de 1969, discernem-se claramente seus propósitos. Nele, transcrito pouco depois na revista peruana Hablemos de cine, em seu no 49 (setembro/outubro, 69, pág.10) o cineasta afirma: “Todos os produtos de consumo são redutíveis, em última análise, ao canibalismo. As relações de trabalho como as relações entre as pessoas, relações sociais, políticas e econômicas, são ainda fundamentalmente antropofágicas. Quem pode devora o outro, diretamente ou através de um produto intermediário – como acontece no plano das relações sexuais. A antropofagia se torna institucional também, quando se dissimula. Os novos heróis à busca de uma consciência coletiva, partem para devorar o que, até aqui, devorou-os. Mas são muito frágeis. A esquerda enquanto é devorada pela direita, experimenta e se purifica pela autofagia, o canibalismo dos fracos. A igreja celebra a autofagia em suas missas, redevorando Cristo: as vítimas e os verdugos se identificam e se devoram. Tudo, tanto no coração como nos dentes, é comida. Enquanto isso, vorazmente, o Brasil devora os brasileiros. Macunaíma é a história de um brasileiro devorado pelo Brasil”.
A citação acima me parece da maior significação, embora seja indispensável registrar que o humor obtido no filme só surgiria nos textos e declarações do realizador alguns anos mais tarde (a partir de comentários sobre Guerra conjugal, 1974).
Conforme afirmado há três parágrafos acima, o estudo mais abrangente sobre Macunaíma foi o de Johnson. Até por que ele é a razão de ser do livro. Ele transformou em tese de doutorado para a Universidade do Texas, em Austin, uma pesquisa de 15 meses sobre as relações entre cinema e literatura, baseada no filme. A intenção do estudo é, também, discutir as relações entre literatura e cinema, em níveis teóricos e prático recorrendo ao filme de Joaquim Pedro, baseado no romance de Mário. E analisando, ao mesmo tempo, os códigos formais e os contextos que viram surgir as duas obras, isto é: o início dos anos 1920 e o final dos anos 1960, no Brasil. Johnson conclui esta informação constante de parte da introdução do livro afirmando que a análise estrutural e semiológica não é, um fim em si, mas um meio que possibilita um método para se chegar a uma teoria social ou psicológica mais abrangente.
Informação fornecida por Eduardo Escorel, montador de quase todos os filmes de Joaquim Pedro (e co-roteirista de Os inconfidentes) esclarece que Johnson comprou uma cópia do filme para seu trabalho de tese, adaptado a livro (época em que as cópias de vídeo ainda não eram disponíveis), o que evidencia o escrúpulo do autor em seu estudo.
Inicia-se o livro com considerações gerais sobre as relações entre o literário e o cinematográfico, segundo as noções do estruturalismo, no que diz respeito à transposição. Sua primeira metade se complementa com explicações sobre as relações entre o Modernismo brasileiro dos anos 20 e o Cinema Novo dos anos 60. Toda a segunda parte é dedicada ao vínculo livro-filme e às propostas diferenciais de Joaquim Pedro.
Na época do lançamento comercial do filme no Rio, eu participava do Conselho de Cinema do Jornal do Brasil, desativado com a saída de Alberto Dines e nunca retomado por qualquer de seus sucessores. Macunaíma foi o filme em questão no dia 7 de novembro de 1969. Dele fiz apenas um curto comentário: “De Macunaíma não faço crítica. Esforço de análise poderá ser encontrado em outros trabalhos do Conselho. Mas, para não deixar sem justificação esclareço que, depois de três contatos com o filme e apesar de alguns deslizes de produção e direção e do receio de Joaquim Pedro em trair Mário por Oswald, Macunaíma me surge como o filme mais saudável do ano. Glória aos homens heróis desta pátria, a terra feliz do Cruzeiro do Sul”.
A cobrança dos Andrade Mário e Oswald valeu-me alguns elogios verbais. A encenação revolucionária da peça O rei da vela, que mexeu com toda a intelectualidade brasileira, tinha tudo a ver com a receptividade de Macunaíma. O livro de Johnson coloca todas as coisas no lugar: analisando o comporta mento – ambíguo – de Mário de Andrade, ele aproxima-o do de Joaquim Pedro na época, 1969). A cobrança da minha nota não tinha o menor sentido porque em Macunaíma / filme o cineasta, não pretendia a anarquia oswaldiana, que ele buscaria mais tarde (inclusive na fantasiosa biografia do escritor em O homem do pau-brasil, 1981).
A pesquisa de Johnson é exaustiva. Ele se serve das lições de Vladimir Propp sobre os elementos invariáveis e variáveis da fábula e do estudo comparativo feito por Haroldo de Campos em Morfologia do Macunaíma[9]entre a tese proppiana e o livro de Mário de Andrade. Numa busca do ponto de partida para estabelecer a relação entre o filme e o livro, ele observa, da mesma maneira que Heloísa, uma diferença fundamental que pode ser expressa, esquematicamente, na dicotomia herói sem caráter (Mário) e herói mau-caráter (Joaquim Pedro).
E cita um trecho de entrevista do cineasta a Sérgio Augusto e Jean-Claude Bernardet, publicada no nº 127 do jornal Opinião, de 11 de abril de 1975, págs.20-21, da qual aproveito o fecho: “com relação às coisas que agreguei ou inventei, tentei fazer viver, expor esse material da maneira mais direta e simples possível… O que fiz foi transformar a magia em concreta, em fisicamente concreta”.
Entretanto, Johnson reconhece a fidelidade da adaptação ao original quando relaciona os seis entreveros do herói com o vilão (Pietro Pietra), evidenciando acatamento à estrutura dinâmica do livro.
O respeito ao original pode ser observado inclusive em alterações situacionais como, por exemplo, a transformação de Ci, rainha das amazonas, em guerrilheira; animais antropomorfizados (currupira, cutia, macaco); a metrópole paulista pelo Rio de Janeiro; banquete de macarronada em feijoada; ambientes de mato em urbanos. São todas transformações adjetivas que recebem, melhor, as modificações operadas pelo cineasta.
Todas essas observações são importantes na medida em que se constata a deferência do realizador pelo original literário: dramaticamente, o filme evolui como o livro e valoriza os aspectos narrativos criados pelo original. De acordo com o autor do estudo ora analisado, Joaquim Pedro teria interferido no original literário da mesma maneira que Mário de Andrade sobre a lenda, conforme o trabalho de Haroldo de Campos a respeito, ou seja, observando o eixo estrutural e invariável e organizando, criativamente, os elementos variáveis ao redor desse eixo.
E há desrespeitos respeitosos, como lembra Johnson. Ainda na primeira parte do filme (correspondente ao capitulo 2 do livro de Mário, Maioridade), Macunaíma ri da magreza de Maanape; isto está ausente do livro, mas consta de Façanhas de Makunaima, lenda coletada por Koch Grunberg, que serviu de fonte ao clássico literário brasileiro. Outro exemplo contundente anotado por Johnson está no comer terra, que acontece com Macunaíma no nascimento e no infortúnio de sua agonia.
Em entrevista a Mario Jacob e José Wainer, publicada em Cine cubano, n° 66/67, págs. 32 a 37, o cineasta declara: “O Brasil devora os brasileiros que morrem, constantemente, vítimas das condições que vive o próprio país, isto é, vítimas da pobreza, do subdesenvolvimento, da miséria; é enorme, um verdadeiro genocídio que ocorre permanentemente. O filme tenta representar tudo isto. O personagem principal, Macunaíma, começa o filme comendo terra, da mesma maneira como fazem as crianças pobres do Brasil, e termina comendo terra outra vez”.
Conferindo a informação do brasilianista, o comer terra não está presente no livro de Mário, mas em seu conto Piá não sofre? Sofre, anterior ao romance.
Desses dois exemplos – há outros no filme – percebe se a preocupação do cineasta com as pesquisas dos originais a serem, concomitantemente, respeitados e subvertidos. Ou na investigação de ocorrências existentes no roteiro.
Alteração mais sensível é percebida na conclusão e dela participei, em parte. Joaquim Pedro enfrentava problemas com o final. Numa noite, no velho Zeppelin da Visconde de Pirajá, contei-lhe o fecho que eu daria a uma adaptação de Pedro Malazarte que não viera a lume: ele morria devorado pela Iara, símbolo da imagística popular. Foi uma primeira solução para suas dúvidas. Nas declarações do cineasta para o folheto publicitário do filme pinçadas de uma entrevista dada a Manchete, em 1969, ele dizia: “Escrevo duas adaptações que me consumiram quatro meses. Mais ou menos de fevereiro a junho de 1968. Na primeira, eu tentava racionalizar, de certa forma domar o livro. Mas as coisas colidiam. Iam em várias direções e não se completavam. Já na segunda, quando entendi que Macunaíma era a história de um brasileiro que foi comido pelo Brasil as coisas ficaram mais coerentes e os problemas começaram a ser resolvidos, uns atrás dos outros”.
O roteiro definitivo sofreu novas alterações; em ambas, porém, concluía com Macunaíma no céu, como no livro. Joaquim Pedro foi à Cinemateca do MAM atrás de imagens de céu noturno estrelado; pensou-se, até, na marca de apresentação da Universal, com o fundo de estrelas sobre o qual girava a Terra. Mas não vingou. O fecho, no poço, com o casaco verde oliva avermelhado pelo sangue do protagonista, com o hino de Villa Lobos na faixa sonora, foi decisão posterior ao roteiro.
Outro aspecto significativo do filme, também notado por Johnson, é o do distanciamento, uma das marcas registradas de Joaquim Pedro, que se serviu dele, inclusive, para acentuar o anacronismo intencional presente em vários de seus filmes. Há diversos exemplos de distanciamento espetacular em Macunaíma. Atenho-me a dois citados por Johnson. No primeiro, quando a família deixa a selva em direção à cidade, numa canoa, a câmera acompanha a figura de Macunaíma que, em determina do momento, olha (duas vezes) irritado para o espectador, como que reclamando da indiscrição da câmera. No segundo, pouco depois, ele revela à plateia, diretamente, que sua cunhada, Iquiri, arranjou um emprego numa casa de moças, no Mangue, desaparecendo do filme.
A mais substancial das modificações é aquela apontada por Heloísa: herói sem caráter x herói mau caráter. Não se trata, assim, de um aggiornamento, embora respeitada a evolução narrativa de Mário. O Macunaíma literário, embora no sentido derivado fornecido por Propp, é um herói de fábula. O de Joaquim Pedro transforma-se em vítima da própria heroicização. No melancólico retorno à mata materna, os eletrodomésticos concretizam sua derrota ante o consumismo que destruiu sua individualidade épica, definida pelo irmão no seu nascimento.
Ao contrário do protagonista de Mário, o Macunaíma de Joaquim Pedro é sempre sagaz na floresta; suas desventuras principiam na cidade grande, para onde são transportados, por exemplo, os episódios do macaco e do pato, as relações com Ci, o duelo com o gigante, o encontro com Vei e as filhas, evidenciadores de sua ingenuidade e fraqueza.
A postura do herói do livro é tipicamente alegórica. Mário quer seu protagonista planando acima das convenções épicas da burguesia colonizada do Brasil no início do século. Joaquim Pedro contextualiza o herói, que não consegue fazer mágica e é dominado pela sociedade de consumo; deixa, evidente mente, de ser herói (epicamente) e se contenta com a submissão do individual ao social, exibindo, ao longo do relato, o crescente das cicatrizes impostas pelo núcleo urbano da sociedade a sua esperteza primitiva de herói da nossa gente.
Praticamente, todas as observações e descobertas de Randal Johnson são pertinentes. Equivoca-se, contudo, quando diz que a combinação de planos (a montagem) do filme é relativamente conservadora e tradicional, especialmente quando com parada com os filmes de Glauber Rocha. A grande diferença entre Macunaíma e os filmes de Glauber está no personalismo deste e na busca efetuada por Joaquim Pedro para alcançar um nível de leitura facilmente compreensível, integrando-o a outro onde expõe seu pensamento. É, antes de tudo, uma diferença de estilo, que o próprio realizador adota, tanto em relação ao anterior O padre e a moça quanto ao posterior Os inconfidentes.
De resto, em nenhum filme representativo do Cinema Novo poderá se encontrar uma combinação de planos rigorosamente conservadora. O surto cinemanovista teve como origem a busca da identidade cultural do cinema brasileiro. Este tateamento teve, obviamente, vários equívocos. Entretanto, até mesmo nesses não é o possível conservadorismo da montagem que conta. A tentativa de descoberta de um discurso brasileiro no cinema exigia uma adequação inovadora da tecnologia artística assimilada de fora para dentro à realidade interna. Se a adequação não se faz, o resultado se frustra: se ela é alcançada – ainda que parcialmente – efetiva-se a novidade. Aliás, como diz o velho adágio popular “ninguém é santo em sua terra”. Filmes como Brasil, ano 2000 (1969), de Walter Lima Júnior, e Opinião pública (1967) e Toda nudez será castigada (1973), de Arnaldo Jabor, recebidos com reservas entre nós, obtiveram prêmios no exterior.
Reporto-me ao livro de Roberto Stam citado no início deste artigo. Depois de afirmar que Macunaíma é o último filho de Ubu a ser examinado, ele afirma que o filme é uma degradação cômica do épico (inovação dramatúrgica, portanto). E declara, pouco adiante, que Joaquim Pedro explora as técnicas dissociativas já rotuladas por Noel Burch como estruturas de agressão (artigo publicado in Cahiers du Cinéma nº 195, novembro, 1967, págs. 58 a 65). Considerando que montagem é função adjetiva do discurso substantivo, impossível é atribuir a ela um caráter conservador se o principal é inovador. E o próprio Johnson volta-se contra si quando afirma que o narrador intervém 33 vezes no filme. Diz ele que às vezes sua fala é redundante, em relação à imagem, em outras é usada como comentário irônico sobre a ação do filme, ou como uma realidade falsa, que a imagem visual subverte. Pouco além afirma que o nascimento humorístico e grotesco de Macunaíma subverte a ideologia sugerida pela marcha patriótica. E que as inversões de valores oficiais percorrem o filme do começo ao fim.
Na minha equivocada nótula no Jornal do Brasil já indicada, eu concluía com o hino patriótico de Villa Lobos que o filme utiliza a contrassenso, na abertura e no fecho. A utilização da música letrada como comentário da narrativa não é nova, nem mesmo no cinema brasileiro. O próprio Joaquim Pedro já a tinha utilizado em Couro de gato (Quem quiser encontrar o amor, de Carlos Lyra) e Garrincha, alegria do povo (trechos de hinos futebolísticos e de dois sambas-enredo). Em Macunaíma a novidade está no recurso ao hinário patriótico para achincalhar com seus propósitos cívicos. Da mesma maneira foi utilizado nove anos depois por Ana Carolina, na conclusão de Das tripas coração (1982), com o Hino da Mocidade Acadêmica, de B. Sampaio e Carlos Gomes. Essas duas propostas (entre outras que talvez me escapem) terão provavelmente influenciado Nelson Pereira dos Santos em Memórias do cárcere (1984). As Variações feitas por Goldrach sobre o nosso Hino Nacional, presentes na abertura e no fecho deste seu filme dispensam a denúncia óbvia dos outros dois, mas provavelmente nela se inspiraram para caracterizar as ambiguidades da história oficial, já questionada no livro de Graciliano Ramos que lhe deu origem.
Resta uma última observação: as relações de Macunaíma com a chanchada. É vínculo de confirmação dúbia, posto que a chanchada já decorria de uma colagem – ou montagem narrativa – de gêneros e fórmulas, muitos deles originários, também, de outras fontes mais singelas ou ortodoxas de espetáculo, a nível internacional. Básica e quase que exclusivamente visando ao espetáculo popular (no sentido de público cinematográfico), a chanchada chupou o que pode dos musicais e comédias hollywoodianos (às vezes com amparo nas congêneres latino americanas e europeias, incluindo-se aí a ideologia), do nosso teatro de revista, adaptando similares estrangeiros ao gosto do público nativo, aglutinado nossa tradição de comédia teatral e combinando-os com os números musicais e o humor dos êxitos radiofónicos.
Esclareço melhor: embora sem os números musicais das chanchadas (à exceção dos versos de Mário de Andrade, musicados por Jards Macalé, Mandu Sarará e Tapera tapijara, cantarolados pelo protagonista e reevidenciando o buscado anacronismo do cineasta já indicado neste artigo), Macunaíma faz suceder o cancioneiro popular na faixa sonora. Anteriormente, Joaquim Pedro, nos filmes em que recorreu a seleções de música pré-existente, optou pela música erudita, mesclada ao popular apenas nos já citados exemplos de Garrincha, alegria do povo.
Aqui ele recorre à música popular em, pelo menos, 14 momentos (os letreiros registram apenas 12, omitindo o tango Quiero verte una vez más, sucesso de Libertad Lamarque na virada dos anos 40 e Que reste-t-il, do chansonnier Charles Trenet do final da mesma década). Em Macunaíma, ao contrário dos musicais e das chanchadas, as canções populares funcionam apenas como apoio sonoro, nunca executadas em sua inteireza. Contudo, estão lá, em mistura tão aparentemente caótica como o baião Respeita Januário, a fossa romântica de Orestes Barbosa, Arranha céu, a velha carnavalesca dos anos 30 Cecy e Pery e o jovem guarda É papo firme com Roberto Carlos.
Exatamente como a miscelânea chanchadística dos virtuosismos pianísticos de Bené Nunes, sambas e marchas carnavalescas e canções românticas nas vozes ou requebros das vedetes dos filmes e populares figuras das rádios de então. Nunca esquecendo de anotar, no coquetel andradiano de Joaquim (que recorre ao cancioneiro dos vários pontos do Brasil para compensar a concentração ambiental de mato e cidade, inexistente nas perambulações por todo o país do herói de Mário) a inclusão do Danúbio azul straussiano, um pequeno trecho do russo Borodin no mergulho derradeiro e o hino patriótico de Villa Lobos, já comentado. Além do tango, da canção francesa, já citados, e a utilização do fox By a waterfall – do filme Footlight parade (1933) Belezas em revista – em versão brasileira com a voz de Francisco Alves, fundo musical da transformação de preto para branco do herói mau-caráter, observada por Johnson. Trata-se de um dos dois únicos momentos do livro em que o autor referência a chanchada – e sua dependência aos códigos hollywoodianos – como imposição do imperialismo cultural (também, nem precisava mais!).
Em seu texto sobre os dois Macunaíma Heloisa serve-se da mesma situação para contrapor o príncipe lindo de Mário à roupa de mentira do príncipe de papel do filme. Poderia também ser entendida como uma alusão aos espetáculos amadorísticos estudantis, mas, ainda, às condições de produção e acabamento precário das chanchadas. E Sérgio Augusto, em seu livro sobre a chanchada, Este mundo é um pandeiro,[10] refere-se à utilização, no filme, de atores do gênero. Vários comentários sobre Macunaíma na época do lançamento citam apenas a latere seus aspectos chanchadísticos. No capítulo sobre Macunaíma do já arrolado livro de Ismail, o caráter paródico do filme é assumido como postulado sem detalhamento analítico. De resto, não era este o propósito do autor que, sob este aspecto, registra sua abrangência na tônica hedonista.
Ainda em relação ao apelo para a chanchada, a participação de Grande Otelo, no filme, merece atenção especial, independentemente de alusões outras que refletem mais profundamente as propostas do filme no que se refere ao racismo. Como bem observa João Carlos Rodrigues em O negro brasileiro e o cinema,[11] a chanchada recorreu a comediantes negros, porém em duplas (ou conjunto) com brancos. A mais popular e famosa destas combinações foi a de Grande Otelo com Oscarito (e, depois, com Ankito). Otelo tornou-se um dos atores-personagens emblemáticos da chanchada, mesclando ingenuidade e esperteza, malandragem e imediatismo inconsequente: tudo a ver com Macunaíma, visando à releitura. E, sintomaticamente, a dupla preto-e-branco dos chanchadeiros surge, em Macunaíma, como numa árvore genealógica. Sucessivamente, os atores Paulo José e Grande Otelo personificam a mãe de Macunaíma e o herói de pois de embranquecer, e, em criança, o endiabrado malandro e o filho de Ci. E os irmãos Jigue e Maanape formam outra dupla em preto e branco (inexistente no livro).
Vale lembrar, também aqui, as metamorfoses capilares que caracterizam o Macunaíma adulto. Seus cabelos vão do ligeiramente ondulado à carapinha, do castanho escuro ao claro, às vezes chegando ao avermelhado. Numa pergunta minha feita há muitos anos sobre o assunto ao ator Paulo José ele declarou que nas filmagens tudo parecia uma loucura: que filmavam anarquicamente, receosos quanto ao descosimento do resultado. A este propósito convém lembrar três cenas imediatamente sucessivas. No caminho do mato para a cidade, descoberta a fonte mágica Macunaíma fica branco, louro de cabeleira longa; na cena seguinte, dentro de um caminhão de paus-de-arara, está de carapinha negra; ao saltar do veículo, tem os cabelos castanhos, ondulados.
E, no entanto, o resultado não revelou incoerência: as sucessivas mudanças no visual do protagonista não incomodaram (o filme foi um sucesso junto ao público). Obviamente intencional sobre a abertura do leque racial em seu personagem, o realizador, embora ocultando as intenções (como fez frequente mente em seus filmes), jogou, evidentemente, mais uma vez, com o hábito do espectador brasileiro em aceitar soluções precárias nos espetáculos a ele destinados.
A chanchada, por mais comerciais que fossem seus projetos, estabeleceu paradigmas, que fizeram evoluir o gênero (ou a fórmula, se quiserem: talvez seja o termo mais adequado). Um dos mais constantes, no terreno do humor – leve ou negro – foi a relação entre o esperto e o tolo, benevolente, maliciosa ou canalha. As transformações dos animais (folclóricos ou não) que confrontam o Macunaíma de Mário e de forças da natureza em personagens humanos cria um insólito humor grosseiro ou grotesco de chanchada – o antropófago currupira, a bondosa cutia, a velha caapora, o duelo do tico-tico com o chupinzão, o macaco sacana, a Sol, etc. A flexa desferida por Macunaíma no gigante, que resulta em sua vitória na obtenção do amuleto, é também um quase absurdo decorrente das viradas – muitas vezes inverossímeis – dos finais felizes do gênero, da mesma maneira que os travestimentos dos personagens.
O índice mais significativo é o do disfarce de Macunaíma-Paulo José em mulher para seduzir o gigante (réplica, por exemplo, de várias dissimulações dos comediantes da chanchada). O disfarce provém do original de Mário. Este, no entanto, é abundante em transmudações mágicas, inclusive no episódio em questão. Elas são elididas na adaptação cinematográfica, à exceção do branqueamento do protagonista ao som da canção norte-americana (premonição do fenômeno Michael Jackson?) e dos efeitos da macumba sobre a saúde do gigante (no entanto, controlada, no filme, graças aos efeitos do poderoso muiraquitã).
Que a chanchada serviu de embasamento à elaboração de Macunaíma-filme, parece não restar dúvida. Se nenhum dos exemplos citados vale por si, a soma deles faz pesar a balança para esse lado. Até mesmo em declarações Joaquim Pedro passou esta ideia de organizar seus filmes com várias leituras. Do folheto publicitário de Macunaíma consta outra declaração do realizador que não consegui detectar de onde saiu (se é que não foi escrita diretamente por ele). Diz o seguinte: “Eu achava que podia inclusive renovar o público de cinema, atrair aqueles que estavam afastados do cinema há muito tempo, o público da chanchada [o grifo é meu], por um caminho diferente, sem repetir as velhas fórmulas com variações. Macunaíma é realmente diferente de tudo quanto foi feito em matéria de cinema, não pelo trabalho, mas em virtude do próprio livro (…) Procurei fazer um filme sem estilo pré-determinado. Seu estilo seria não ter estilo. Uma anti-arte, no sentido tradicional da arte (…) Não existem nele concessões ao bom gosto. Já me disseram que ele é porco. Acho que é mesmo. Assim como a graça popular é frequentemente porca, inocentemente porca, como as porcarias ditas pelas crianças”.
Todas estas considerações a respeito da chanchada me parecem de especial significação numa análise de Macunaíma. Porque no filme ela adquire um peso estrutural. É através dela que o cineasta devolve ao público seu herói preferido, o mestre da malandragem, para, afinal, puxar-lhe o tapete. Como quem diz: não é por ai!
O périplo mato-cidade-mato tem um sentido vetorial na derrocada da malandragem típica. A floresta da conclusão está eivada de urbanidades. Nos inúteis aparelhos de consumo, é claro, mas também na inconsciência presente nas mentiras conta das ao papagaio pelo herói mau-caráter. Em seu narcisismo – como observa Ismail no capítulo do livro já citado – ele não soube tirar proveito da experiência vivida – e sofrida. Não percebeu o seu fracasso inexorável: nem sequer sacou o fim-de-caminho que lhe causaria o abandono dos irmãos-capangas.
Reduzido à imobilidade na mata-virgem onde veio à luz, só lhe resta o último mergulho. E ao contrário do Macunaíma de Mário, que virou estrela, do de Joaquim Pedro resta apenas o sangue que, dentro do poço tinge de vermelho a jaqueta verde-oliva.
Se Brasília: contradições de uma cidade nova surgia como uma visão mais abrangente e estruturada das propostas constante dos filmes anteriores de Joaquim Pedro, Macunaíma impõe a ironia e a visão do mundo que iria percorrer toda a sua obra seguinte, tanto na gozação quanto na amargura.
*Ronald F. Monteiro (1934-1996) colaborou nos jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa, nas revistas Guia de Filmes, Filme Cultura e Cadernos de Crítica e tem trabalhos publicados em obras coletivas comoCinema Brasileiro, anos 70 (Editora Europa, Rio de Janeiro, 1980) eLe Cinéma Brésilien (Edições do Centro Georges Pompidou, 1986). Foi responsável pelo arquivo de fotografias, publicações e documentos sobre cinema brasileiro e pelos cursos de cinema da Cinemateca do Museu de Arte do Rio de Janeiro entre 1967 e 1990.
Notas
[1] O cineasta nasceu no Rio de Janeiro, em maio de 1932, e morreu nessa mesma cidade, em agosto de 1988, de cardiopatia provocada por câncer nos pulmões. Sua ascendência familiar, no entanto, era de intelectuais mineiros, filho que era do crítico, historiador e contista Rodrigo Melo Franco de Andrade, mentor e primeiro diretor do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi para as cidades históricas de Minas Gerais que o pai o enviou, pouco sensibilizado com os pendores cinematográficos do filho, que desistira da carreira de físico, sua formação universitária.
[2] Couro de gato começava registrando o cotidiano dos meninos favelados e de suas mães, suas atividades na cidade (engraxate, vendedor de jornais ou de amendoins). Fornecia informações sobre os gatos, cujo couro servia à manufatura de tamborins a serem usados no carnaval e acompanhava outros garotos do morro, empenhados na caça a gatos para a venda aos fabricantes dos instrumentos de percussão. Toda esta fase era elaborada em montagem alternada, num ritmo que já demonstrava a familiaridade do cineasta com o veículo. Finalmente, após o retorno dos garotos ao morro, dedicava se o filme do único vitorioso da caça e o produto de seu furto: um angorá branco. Nessa conclusão ocupava-se Couro de gato de um namoro poético entre o menino e o gato, terminando com a entrega do bichano ao fabricante de tamborins e o garoto partindo – como nos filmes de Chaplin – limpando uma lágrima, tendo ao fundo e em baixo, a cidade grande. Joaquim Pedro conseguia, assim, conciliar poesia e ideologia, sem criar os problemas que tinham destruído seu projeto de estreia. Couro de gato.
[3] Para seu primeiro longa-metragem de ficção Joaquim encontrou uma fonte de inspiração num poema de Carlos Drummond de Andrade, O padre, a moça que falava do rapto de uma moça do interior por um padre. Foi, sobretudo, um pretexto para que o diretor comentasse um pouco sobre os preconceitos do povo dos vilarejos de Minas Gerais a propósito da obediência religiosa e o amor liberatório. O padre e a moça – filme originariamente intitulado Negro amor de rendas brancas, servindo-se de verso do texto poético que o gerou – quase nada tem do original. Tem menos a ver com o poema de Drummond do que com um conto amador que Joaquim escrevera quando de sua estada em Ouro Preto, onde fora trabalhar para o IPHAN. Sobretudo no que se refere ao desenvolvimento da personagem da moça – Mariana, no filme – e a descrição das ruelas, praças e prédios da cidadezinha, no caso, São Gonçalo do Rio das Pedras. A conjuntura decadente da economia local – minério de pedras preciosas – o patrão explorador e o dono da farmácia local, rebelde e impotente, a passividade de uma população totalmente idosa e sua submissão a um misticismo conservador, são frutos exclusivos da cabeça do realizador. Exceto pela semelhança temática com um filme sueco de Arne Mattson Hon dansade en sommar (1951) A última felicidade, lançado entre nós em 1954. O sueco, apesar da denúncia a um autoritarismo religioso reacionário, constituía-se num melodrama caprichado, mas melodrama. O roteiro e o tempo cinematográfico de O padre e a moça avizinhavam-no da tragédia. Uma tragedia com forte pinceladas de libelo social, mas tragédia. Com seus personagens centrais tipificados, a fatalidade do destino contextualizada, mas nem por isso menos fatal: o coro de velhas bruxas dava-lhe o tom.
[4] Cinema Novo é um primor de didatismo que, no entanto, desordenadamente, observa as dificuldades de produção e realização de filmes, no período, desde a captação de financiamentos e a elaboração de roteiros até o controle da exibição. Para isto, servia se de Todas as mulheres do mundo, de Domingos Oliveira, Garota de Ipanema, de Leon Hirszman, Terra em transe, de Glauber Rocha, Opinião pública, de Arnaldo Jabor e A grande cidade de Cacá Diegues. E, aproveitando o delírio criativo de Glauber, procurando a poesia da criação numa das sequências iniciais do filme, com o cineasta penteando – ou despenteando-o ator Paulo Autran na discussão que ele tem com o poeta Paulo Martins (Jardel Filho, o intérprete) na mansão do primeiro, ou melhor, no corredor do balcão nobre do teatro Municipal do Rio de Janeiro.
[5] Robert Stam: O espetáculo interrompido; literatura e cinema de desmistificação (do original em inglês The Interrupted Spectacle) Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1981. 200 páginas no formato 17 por 19,5 centímetros.
[6] Heloísa Buarque de Holanda: Macunaíma, da literatura ao cinema. (Originalmente tese de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro com o título de Heróis de nossa gente) Livraria Jose Olympio Editora/Embrafilme. Rio de Janeiro, 1978. 128 páginas no formato 13,5 por 21 centímetros.
[7] Randal Johnson: Literatura e cinema; Macunaíma: do modernismo na literatura ao cinema novo. (Originalmente tese de doutoramento na Universidade do Texas em Austin, em 1987) Tradução de Aparecida de Godoy Johnson. T. A. Queiroz Editor. São Paulo, 1982. 194 páginas no formato 13,5 por 21 centímetros.
[8] Ismail Xavier: Alegorias do subdesenvolvimento; Cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. Editora Brasiliense, São Paulo, 1993. 284 páginas no formato 16 por 23 centímetros.
[9] Haroldo de Campos: Morfologia do Macunaíma. Editora Perspectiva, São Paulo, 1973. 220 páginas no formato 11,5 por 21,5 centímetros.
[10] Sérgio Augusto: Este mundo é um pandeiro: A chanchada de Getúlio a JK. Companhia das Letras, São Paulo, 1989. 280 páginas no formato 116 por 23 centímetros.
[11] João Carlos Rodrigues: O negro brasileiro e o cinema. Editora Globo, Rio de Janeiro, 1988. 110 págs.