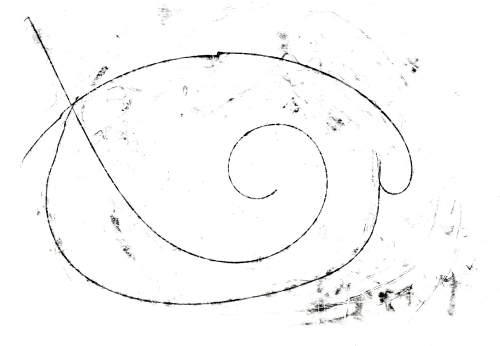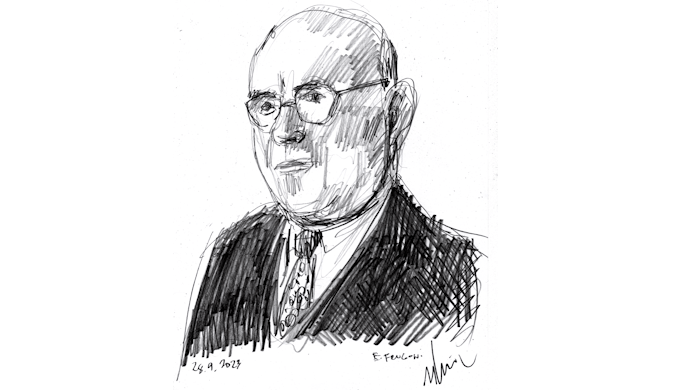Por KEVIN B. ANDERSON*
O árabe como o idioma da revolução do século XXI
Depois de uma longa peregrinação por serviços postais de vários regimes autoritários, uma cópia física da tradução em árabe do meu Marx at the Margins[i]chegou recentemente pelo correio. Me comoveu profundamente o fato de isso ocorrer no décimo aniversário da Primavera Árabe. Quando postei a boa-nova no meu facebook, dizendo que estava honrado de ser publicado no idioma da revolução do século XXI, recebi muitas respostas amigáveis. Mas, depois percebi, não eram unânimes. Um dos que replicaram, um esquerdista dogmático que se considera um anti-imperialista, assim descartou minhas palavras sobre o árabe como o idioma da revolução: “insensatez”.
No inverno passado, não pude escrever um artigo mais longo em lembrança das revoluções árabes de 2011, mas esta palavrinha, “insensatez”, não saía da minha cabeça. Quero, pois, agradecer a esse crítico por me impelir a escrever algo, nestes tempos em que essas revoluções – as mais importantes, de longe, das últimas décadas – são tão esquecidas, ou, pior ainda, descartadas (é certo que acadêmicos da região, como Gilbert Achcar, comentaram analiticamente o seu aniversário, mas sem o impacto mais amplo que elas merecem).
É verdade que o silêncio das tumbas permeia o Egito, o maior país envolvido nas revoluções de 2011. Tanto é assim (por ora ao menos) que o regime militar do General Abdel Fattah al-Sisi promoveu recentemente uma parada em que veículos carregavam múmias de antigos faraós; do outro lado do muro, literalmente, a classe trabalhadora não pôde ver, senão pela televisão, um evento que passava por ruas de sua própria vizinhança. É também verdade que a Síria se tornou um pesadelo para quase toda a sua população: ainda vivendo sob o regime assassino de Assad, forçada ao exílio ou lutando pela existência em uma pequena área controlada por forças rebeldes dominadas por fundamentalistas; a única exceção: o pequeno território controlado pelos revolucionários curdos, seculares e pró-feministas. É verdade ainda que a Tunísia, que manteve a república democrática conquistada em 2011, está sob um regime crescentemente autoritário e com o desemprego em massa da juventude e das mulheres, que deflagrou a revolução, aumentando novamente.
A situação era inteiramente diferente em 2011-2012, o que nunca deve ser esquecido. Caso contrário, também nos esqueceremos da capacidade de os trabalhadores comuns e a juventude transformarem efetivamente a sociedade, de efetivamente derrubarem governos. Outra lição a lembrar é que os momentos de transformação radical são usualmente breves e, se não os agarramos, podemos perder a chance por uma ou mais gerações. Uma terceira lição é que, ainda quando somos derrotados, novas perspectivas emergem das derrotas. Uma quarta lição: o que começamos pode espraiar-se por onde for, inspirado por nós, mesmo na derrota.
Começou a Primavera Árabe na pequenina Tunísia, nos fins de 2010, com a autoimolação de um jovem vendedor de rua, Mohamed Bouazizi, que havia sido achacado pela polícia a ponto de não mais poder sustentar sua empobrecida família. Em janeiro de 2011, semanas depois da morte de Bouazizi, a juventude enraivecida e os trabalhadores derrubaram um regime autoritário que estava há décadas no poder e era tido como invencível. Algumas semanas mais tarde e o regime egípcio, um pilar do imperialismo dos Estados Unidos por quarenta anos, também encontrou seu fim, depois de vastas multidões ocuparem a Praça Tahir, no centro de Cairo, por mais de uma semana, com o suporte de um levante massivo da juventude, em boa parte vinda dos bairros pobres e trabalhadores das grandes cidades.
Naquele momento, alguns na esquerda, do tipo que adora atacar o imperialismo dos Estados Unidos enquanto se cala (ou pior) sobre os regimes anti-Estados Unidos, começaram a papaguear: os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio estavam batendo as botas. Ainda quando essas perspectivas limitadas eram divulgadas, a revolução espraiava-se, e não só por um, mas por dois regimes há muito considerados hostis aos Estados Unidos: a Líbia de Qaddafi e a Síria de Assad, alcançando também o Barein, outro aliado dos Estados Unidos, tal qual o Iêmen.
Logo, no espaço de menos de três meses, de janeiro a março de 2011, dois governos foram derrubados, e outros quatro enfrentavam levantes verdadeiramente de massas. Na Líbia, Qaddafi foi derrubado por forças rebeldes no verão de 2011, mesmo que de modo ambíguo, devendo algo a poderes externos imperialistas e sub-imperialistas, com graves consequências para o futuro. No Barein, o levante foi reprimido com a ajuda da Arábia Saudita, o mais reacionário poder da região. No Iêmem, desenvolveu-se um impasse, ao que se seguiu a cumplicidade da Arábia Saudita e dos EUA em ataques aéreos que resultaram no que hoje muitos chamam de a pior crise humanitária do mundo. Na Síria, o regime de Assad sobreviveu pela via da força bruta e dos apelos sectários a alauítas e cristãos. Em armas, os rebeldes não foram senão infiltrados por todas as sortes de fundamentalistas, ajudados por sauditas e outros dos seus, ao passo que o regime chamou a força aérea russa e as forças terrestres leais ao regime teocrático do Irã, desenfreando a mais sangrenta repressão da região, a fim de se manter no poder.
Se é preciso que encaremos de frente essas contrarrevoluções e traições, é igualmente importante que não nos esqueçamos dos pontos altos, em 2011-2012. Em toda a parte, mas especialmente nos dois levantes que fizeram cair governos, no Egito e na Tunísia, as forças democráticas combinaram demandas políticas com demandas sociais. Os revolucionários clamaram, pois, por pão eempregos, tanto quanto por liberdade e democracia. E se não se opuseram tão explicitamente ao capitalismo, apresentaram, sim, duras críticas à sua forma neoliberal, rapace e corrupta, que varreu a região. As políticas neoliberais haviam feito dos regimes pré-2011 garotos-propaganda do Fundo Monetário Internacional e do capital internacional em geral, o que não teve um papel secundário em fazer com que os levantes tocassem amplos setores da classe trabalhadora, bem como os estudantes e a juventude.
Foi na Tunísia e no Egito que esses aspectos econômicos e de classe emergiram mais claramente. Com a queda dos antigos governos em 2011, os revolucionários defrontaram-se, quase que de imediato, com outros defensores do regime conservador, que ameaçavam bloquear ou fazer retroceder a agenda de transformações radicais. Estes, na Tunísia, tomaram a forma de fundamentalistas religiosos. Bem organizados após anos de atividade, prevaleceram nas primeiras eleições, ameaçando estabelecer um regime islâmico e autoritário. Mas depois de massivos protestos de rua, envolvendo esquerdistas, feministas e sindicatos, os fundamentalistas recuaram, abrindo caminho para o estabelecimento de uma constituição de tipo quase desconhecido na região: secular, favorável aos direitos da mulher e pluralista. No Egito, os fundamentalistas também dominaram as primeiras eleições, mas quando a esquerda democrática lançou protestos de massa consistentes, os militares intervieram, supostamente para resolver a situação em favor de uma república democrática e secular. A esquerda democrática, cercada, de um lado, por fundamentalistas, de outro, por militares “seculares”, e sem a presença de um movimento sindical poderoso (como na Tunísia), tomou a fatídica decisão de se inclinar aos militares. Logo em seguida, o General Sisi pôs de lado não só os fundamentalistas, como também, pouco depois, a própria esquerda democrática.
Podemos, e decerto devemos, tirar lições dessas derrotas. Mas penso que, neste aniversário, muito mais importante é apreender o caráter histórico-mundial da Primavera Árabe, cujo impacto internacional continua até os dias de hoje. Numerosos são os exemplos. Durante o levante egípcio, trabalhadores do governo do Estado de Wisconsin ocuparam o Capitólio em protesto contra perniciosas leis antitrabalho, reconhecendo explicitamente a inspiração da Primavera Árabe. Seis meses mais tarde, irrompeu o Occupy Wall Street, também reconhecendo explicitamente as suas raízes na Primavera Árabe. No verão de 2011, protestos e ocupações contra a desigualdade econômica e o neoliberalismo, também inspirados pela Primavera Árabe, tomaram lugar na Espanha e em Israel. No mesmo verão, em face da morte de um homem negro pela polícia, uma massiva rebelião urbana, envolvendo tanto pessoas negras como jovens brancos, espraiou-se por toda a Grã-Bretanha. Em 2013, todos os olhos voltaram-se para a Turquia, onde o levante de Gezi Park, inspirado tanto pela Primavera Árabe como pelo movimento Ocuppy, lançou o maior desafio, até então, ao regime direitista de Erdogan. E se, como muitos disseram, os fenômenos Sanders e Corbin, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, são ramificações do movimento Ocuppy, então precisamos dizer que são também ramificações da Primavera Árabe. O mesmo poderia ser dito, ainda que mais indiretamente, dos massivos protestos do Black LivesMatter, em 2020. E não nos esqueçamos da “segunda onda” de levantes árabes que emergiu em 2019-2020, com algum sucesso no Sudão, mas com resultados mais equívocos na Argélia, Iraque e Líbano.
Em suma, nós que em todo o mundo desafiamos o racismo, o capitalismo e a opressão de gênero, devemos reconhecer nossa dívida com a Primavera Árabe de 2011, assim como devemos ponderar sobre as suas lições. Sempre mirando um futuro revolucionário, precisamos saudar o que esses revolucionários alcançaram em 2011 (e depois), assim como gravemente velar seus mortos, feridos e oprimidos. Pois o árabe é mesmo o idioma da revolução do século XXI.
*Kevin B. Anderson é professor de sociologia e ciência política na Universidade da Califórnia-Santa Bárbara. Autor, entre outros livros, de Marx nas Margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais (Boitempo).
Tradução: Rodrigo M. R. Pinho.
*Publicado originalmente no jornal The International Marxist-Humanist.
Notas
[i]ANDERSON, Kevin B. Marx at the Margins: on nationalism, ethnicity, and non-western societies. Chicago: The Universityof Chicago Press, 2010. No Brasil: Marx nas Margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais. Tradução de Allan M. Hillani, Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2019.