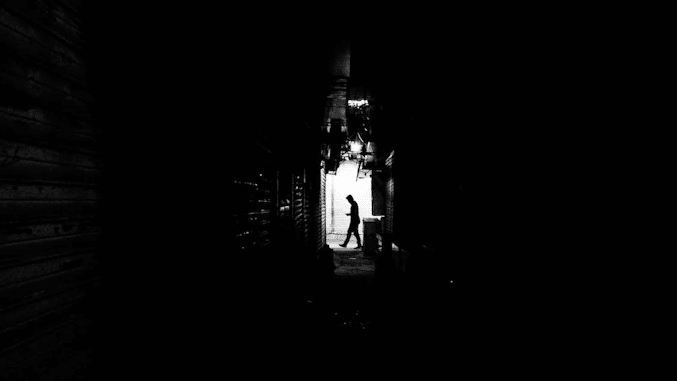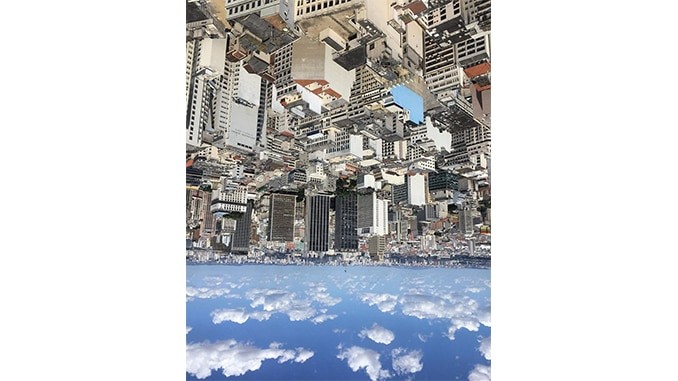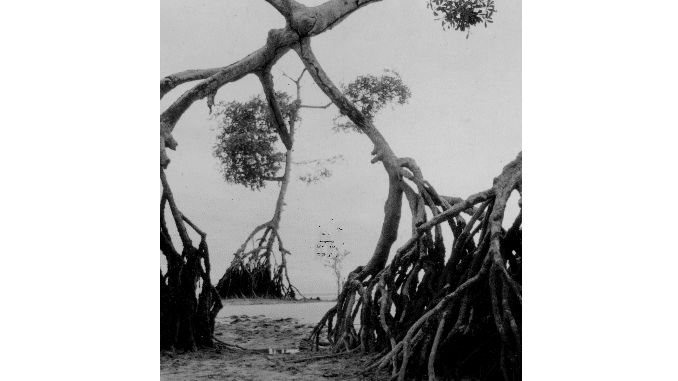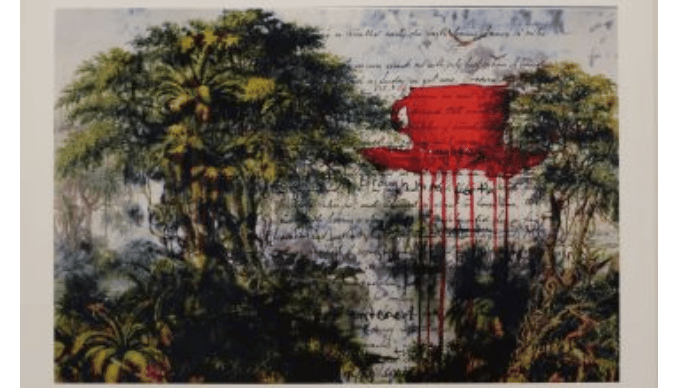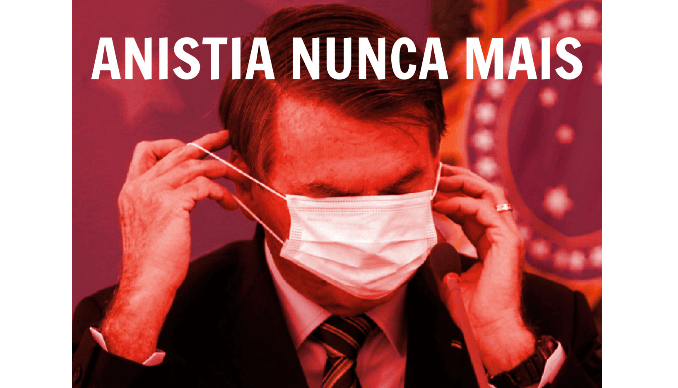Por Júlia Lemos Vieira*
Comentário sobre a nova edição, revista e ampliada do primeiro livro de Michael Löwy publicado no Brasil
O fascismo funda-se na lógica mentirosa de uma suposta possibilidade de relatos puros contra relatos impuros. É por isso que a leitura da obra Marxismo contra Positivismo de Michael Löwy, reeditada no Brasil pela editora Cortez em 2018, é leitura obrigatória para o momento nebuloso em que estamos vivendo. Löwy nos lembra que a influência do positivismo no Brasil recai não só sobre as forças armadas e a elite burguesa brasileira, mas alcança as ciências sociais aqui institucionalizadas. A corrente positivista, fundada por Auguste Comte e Émile Durkheim, descende da cisão cartesiana sujeito/objeto que enraizou a crença na possibilidade de construção de relatos puros a partir de uma matriz neutra permanente livre de preconceitos e pressuposições e acredita que, tal como nas ciências naturais, nos estudos científicos sobre a sociedade é possível um sujeito neutro, portador da verdade absoluta sobre os fatos humanos. A separação entre julgamentos de fato e julgamentos de valor na compreensão dos acontecimentos sociais emerge da visão de que as leis que regem a sociedade não dependem da vontade e da ação humanas, sendo possível descobri-las a partir de uma observação objetiva, “neutra” no que tange a opiniões e valores pessoais.
Löwy demonstra que a mentira do discurso da neutralidade é facilmente revelada na própria justificativa do uso do termo “positivo” como tomada de partido a favor de uma doutrina política específica e que se refere ao campo político oposto como “negativo”. De acordo com seus principais representantes, Comte e Durkheim, “positivas” seriam as doutrinas conservadoras, contrapostas à uma transformação estrutural da sociedade, tendentes a consolidar a ordem pública até então estabelecida: “(o positivismo) tende profundamente, por sua natureza, a consolidar a ordem pública pelo desenvolvimento de uma sábia resignação” ” (COMTE apud LÖWY, 2018, p. 13); “nosso método não tem pois nada de revolucionário, ele é mesmo, num certo sentido, essencialmente conservador” (DURKHEIM apud LÖWY, 2018, p. 15). Ora, ao contrário do que rogam, portanto, não há um absoluto social, não há um único modelo de sociedade possível e, portanto, é impossível para o sociólogo se afastar de suas pré-noções, na medida em que estas não podem ser um acessório à parte dos seres sociais. A ironia é que, ao deixarem escapar a consciência de que suas teorias sociais possuem um claro partidarismo – o reacionário – os representantes desse suposto lugar neutro e portador da verdade absoluta, apenas confirmam a honestidade e superioridade lógica de Karl Marx ao assumir que a sua própria ciência social não era neutra e sim proletária.
Löwy demonstra que, ao não se imputar portador de um discurso absoluto e sim representante do ponto de vista proletário, Marx foi o único que conseguiu dar uma solução coerente ao problema da diferença metodológica entre as ciências naturais e as ciências sociais. Ao contrário das acusações de autores como Karl Mannheim, que insistiram na possibilidade de uma verdade a partir de uma síntese de perspectivas indicando a fragilidade de um Marx que pretendera-se portador de uma ciência neutra, este admitira que sua crítica da economia política representava o ponto de vista do proletariado: “assim como os economistas são os representantes científicos da classe burguesa, assim também os socialistas e comunistas são os teóricos da classe proletária” ; “na medida em que essa crítica representa uma classe, ela não pode representar senão a classe cuja missão histórica é a subversão do modo de produção capitalista e a abolição final das classes – o proletariado” (MARX apud LÖWY, 2018, p. 23). Para Löwy, a novidade e relevante contribuição da solução marxiana ao problema do caráter próprio das ciências sociais raramente foi absorvida em sua grandeza pela maioria de seus sucessores, sejam de esquerda ou de direita.
No campo da esquerda, se por um lado autores como Lênin, Rosa Luxemburgo, Lukács, Korsch e Gramsci aprofundaram e deram importantes contribuições à problematização do caráter de neutralidade da ciência inaugurado por Marx, o revisionismo e a ortodoxia da II Internacional – Bernstein e Kautsky – bem como o stalinismo, promoveram incompreensões e reduções da tese marxiana original.
Bernstein e Kautsky simplesmente recusaram o caráter de classe do materialismo histórico, insistindo na perspectiva da neutralidade e indicando-o como uma ciência que “não está absolutamente ligada ao proletariado” (KAUTSKY apud LÖWY, 2018 p. 24). E enquanto Lênin assinalara que “numa sociedade fundamentada na luta de classes não poderia haver ciência social imparcial” (LÊNIN apud LÖWY, 2018, p. 24) – elucidando a possibilidade de superar a determinação de classe à ciência – e Lukács indicara que o ponto de vista do proletariado não se refere à consciência empírica da classe operária e sim ao ponto de vista que corresponde racionalmente aos interesses históricos objetivos dela – elucidando que não se trata de dar privilégio científico à prática proletária direta – o stalinismo promovera uma grosseira sociologização das ciências biológicas – extinguindo a distinção outrora admitida por Marx entre as metodologias das ciências da natureza e das ciências sociais.
Na verdade, não é de fato simples apreender a complexidade e originalidade marxiana e é por isso que tantas vezes se deturpou ou se passou ao largo da novidade que ela trouxe ao campo da polêmica na definição do caráter da ciência social. Löwy demonstra que, além de Karl Mannheim, outros autores relevantes, como Max Weber, Althusser e Adam Shaff buscaram solucionar tal polemica sobre como encontrar a verdade objetiva nas ciências sociais sem terem compreendido efetivamente o posicionamento de Marx a esse respeito.
No sentido de uma compreensão mais complexa da ciência social em Marx, Löwy reivindica sobretudo as contribuições de Lênin e Lukács, mas vai além, elaborando também uma colaboração adicional importante. Sobre Lukács, ele reitera repetidas vezes a importância da célebre “consciência de classe atribuída” na dissolução da confusão de que o marxismo teria se afirmado como produto da prática proletária e não do ponto de vista da classe proletária. Sobre Lênin, ele lembra a acertada afirmação de que “o materialismo dialético de Marx e Engels contém certamente o relativismo, quer dizer, ele reconhece a relatividade de todo nosso conhecimento não no sentido de negar a verdade objetiva, mas no sentido de que os limites da aproximação de nosso conhecimento à realidade são historicamente condicionados”. (LÊNIN apud LÖWY, 2018, p. 32)
Löwy admite que o problema suscitado pela tese marxiana segundo a qual toda ciência social é “partidária”, “tendenciosa” porque ligada ao ponto de vista de uma classe social é evidente: partir do pressuposto de que há várias verdades, a do proletariado e a da burguesia nos leva ao risco de queda “na célebre noite relativista onde todos os gatos são pardos” e na negação da possibilidade de um conhecimento objetivo. E que, obviamente, tal não é o posicionamento de Marx. Para o marxismo existe sim uma história verdadeira e objetiva da Revolução Francesa e conceber validade à visão contrarrevolucionária da história seria absurdo.
Löwy encara o desafio de desatar esse quiproquó afirmando, contra o risco de queda no relativismo, que é forçoso reconhecer que algumas perspectivas “alguns pontos de vista são relativamente mais verdadeiros que outros”, “que o ponto de vista da classe revolucionária é, em cada período histórico, superior ao das classes conservadoras” e que, no que se refere ao período histórico capitalista, é somente o ponto de vista do proletariado , como classe revolucionária, que se pode alcançar a verdade de suas leis econômicas. A visão privilegiada da classe revolucionária adviria de sua capacidade de enxergar a transitoriedade do(s) sistema(s) social(is). Já a visão privilegiada da classe revolucionária proletária – em relação às demais classes revolucionárias de outros momentos históricos, como a classe burguesa fora outrora, por exemplo – adviria da especificidade de seu objetivo ser necessariamente um empecilho para práticas de mentira e ocultação da verdade social. Löwy explica que (a) a classe proletária não só não tem necessidade de ocultar hipocritamente que seus interesses são interesses de classe – ou seja, não tem necessidade de realizar uma revolução em nome de direitos naturais universais tal como fizeram os burgueses – mas, ao contrário, só pode ser revolucionária necessariamente afirmando a defesa dos interesses dos proletários contra os interesses dos burgueses. Além disso, (b) diferentemente do que ocorreu com a classe revolucionária burguesa, a classe revolucionária proletária necessita de uma consciência clara dos acontecimentos sociais para a sua vitória. Enquanto a burguesia podia ser levada pela astúcia da razão, o proletariado, em compensação, só pode tomar o poder e transformar a realidade por um ato deliberado e consciente. O conhecimento objetivo da realidade (…) corresponde, pois, ao seu interesse de classe” (LÖWY, 2018, p. 40).
Há uma suposta fragilidade da argumentação de Löwy – afinal, a princípio parece absurdo dizer que pode ser legítimo dizer que uma classe possui uma visão privilegiada da verdade social em relação a outra classe? Mas essa fragilidade é evidentemente revertida pelas evidências lógicas apresentadas. É inegável que a classe proletária não tem qualquer benefício com a ocultação e com a mentira sobre o funcionamento do sistema social que a oprime, assim como é inegável que é ela a classe mais interessada em desvendar tais ocultações e mentiras no intuito de reverter a opressão. O processo de conscientização dos efetivos processos do sistema que a oprime é inevitável em sua luta emancipatória.
Outro ponto que fortalece o argumento de Löwy é sua lembrança de que o princípio epistemológico do ponto de vista do proletariado como aquele que oferece a melhor possibilidade objetiva do conhecimento da verdade não deve ser confundido com o ponto de vista dogmático e reducionista de que o ponto de vista do proletariado é suficiente para o conhecimento absoluto da verdade. A força da ciência do proletariado também reside justamente no seu reconhecimento de uma autonomia relativa das ciências sociais, reconhecimento este que a capacita a incorporar, de modo dialético, verdades parciais produzidas pelas ciências “burguesas” ao invés de proclamar como absolutamente equivocadas as pesquisas fundamentadas em outro ponto de vista.
Partindo desse esclarecimento nodal e de sua contribuição peculiar à metodologia marxiana para as ciências sociais, Löwy costura com os demais artigos da coletânea uma série de argumentos que corroboram e aprofundam esse perspectiva. Da retomada da obra do jovem Marx concatenada à proposta de uma releitura de O Capital, da grande lógica de Hegel até uma análise complexa do bolchevismo, da crítica ao Marx weberiano às diretivas de um marxismo antipositivista de Gramsci e Lukács, Löwy mergulha mais demoradamente nos elementos anunciados desde o primeiro artigo da série em torno das incompreensões ou das importantes contribuições na peculiar inovação de Marx contra o positivismo e a favor da ciência.
Desta seleção de artigos para os nossos dias se impõe a força da argumentação de Löwy a partir do questionamento de a quem e a quais interesses a mentira serve e na demonstração de que, com certeza, não é ao proletariado: “porque a verdade é para o proletariado um meio de luta, uma arma indispensável para a revolução. As classes dominantes (…) têm necessidade de mentiras para manter seu poder. O proletariado tem necessidade da verdade…” (LÖWY, 2018, p. 42).
*Júlia Lemos Vieira é pesquisadora de pós-doutorado em filosofia na UFG. Autora, entre outros livros, de Caminhos da liberdade no jovem Marx (Anita Garibaldi, 2017).
Referência Bibliográfica
LÖWY, Michael. Marxismo contra positivismo. Tradução de Reginaldo di Piero, São Paulo: Cortez, 2018 (https://amzn.to/3QJjj1s).