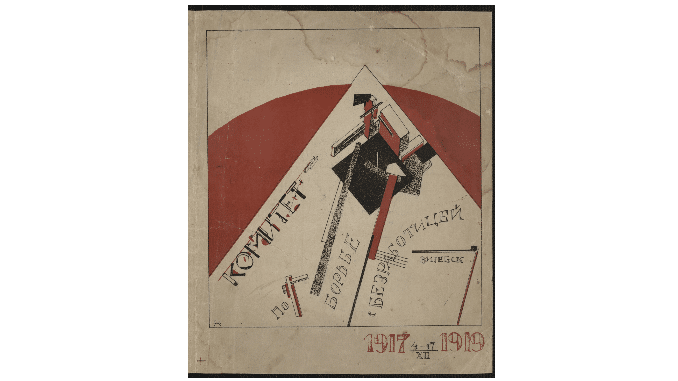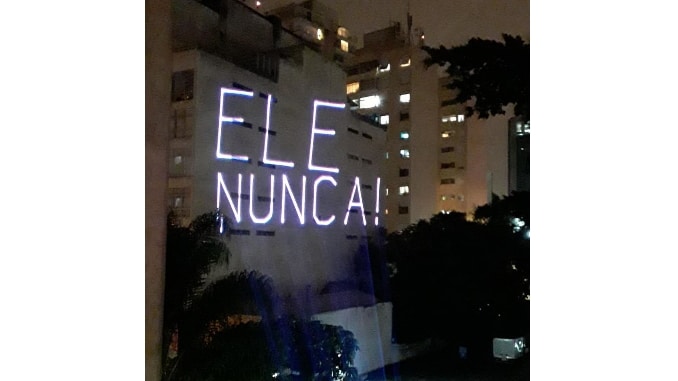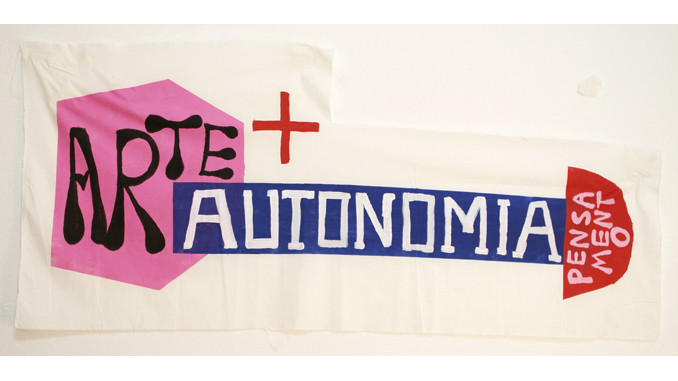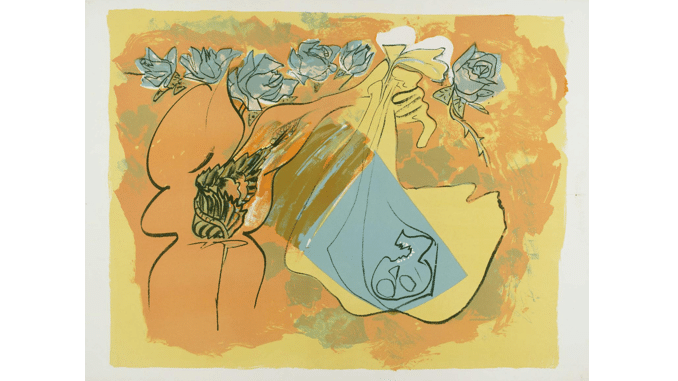Por AIRTON PASCHOA*
Considerações sobre a teoria e a prática do arrivismo em contos maduros de Machado
À Flora Thomson-DeVeaux
(em homenagem machadiana à machadiana tradução)
“Teoria do medalhão — diálogo”, dos Papéis avulsos, é uma teoria do arrivismo.[1] Tamanha obviedade, porém, não pode esconder as novidades que porta. A primeira é que se trata de uma teoria do carreirismo patrocinada por um pater famílias. Janjão completa a maioridade, e o pai, depois do jantar comemorativo e antes de caírem na cama, descortina-lhe um horizonte risonho, dotado que está o filho, de saída, de “algumas apólices” e um diploma (de bacharel, presume-se).
De posse de tais culotes, básicos, o jovem podia ser o que bem entendesse, deputado, magistrado, jornalista, fazendeiro, industrial, comerciante, escritor, artista, o que fosse, nas trilhas de Napoleão e sua carreira aberta ao talento, o qual, como se sabe, sobe de sem-calção a imperador.
O precavido pai, porém, ciente que “a vida é uma loteria”, como diz expressamente, ou que o filho é uma besta, como insinua abertamente, recomenda um ofício de reserva, na hipótese de não deslanchar a(s) escolha(s): o ofício de medalhão, com o fito de escapar da “obscuridade comum”.
Eis a receita, em breve extrato, que prescreve o mestre: moderação, gravidade (de corpo), repressão das ideias, no caso infeliz de tê-las, (mediante um “regime debilitante”, à base de retórica, incluindo a parlamentar, de jogos, como voltarete, dominó, whist, bilhar, de pasmatórios pra evitar a solidão, “oficina de ideias”, de frequentar livrarias apenas mundanamente) vocabulário apoucado, frases feitas e quejandos, cientificidade ostensiva e perfunctória, autopromoção sistemática, vida pública em causa própria, com pronunciamentos mesquinhos ou, de preferência, abstrusos, “metafísicos”, imaginação nenhuma, nenhuma filosofia, ironia — nem pensar! tão só “nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca”.
Tal ofício impõe aos pretendentes dois movimentos, o de identidade (com todo mundo) e, por meio dele, paradoxalmente, o de distinção (de todo mundo). Isto é, alcançada a identidade, baseada na “arte difícil de pensar o pensado”, começa o movimento de se distinguir dos seus iguais (sem se diferenciar, o mais importante) pela mídia de si, miúda mas eficiente, aereperennius, no afã de fugir ao destino parece que reservado a seres periféricos.
Completa ou incompleta, a identidade define os tipos correspondentes de medalhonismo: o completo, com sua gravidade de corpo e sua indigência intelectual, à moda de Janjão, e o incompleto, mais ingrato, por exigir o esforço desumano, ingente, de sofrear as eventuais ideias.
Com o medalhonismo completo, topamos o primeiro nível de crítica, de sátira social, e sátira social às vezes constrangedora, pela exploração descarada do ridículo, — mas o mais superficial deles: na contramão do século napoleônico, retesado pela “tensão do arrivismo”,[2] a carreira poderia até estar aberta no Brasil, sim, mas à falta de talento, aos janjões da vida.
Curiosamente, pela mesma época, um clássico da historiografia nacional, cuja primeira edição data de 1884, em radiografia luminosa e sombria de nosso capitalismo escravista, aparenta desmentir o mestre de Janjão. Em vez do país aberto, Joaquim Nabuco diagnostica um “país fechado”, uma sociedade “murada” a todos os talentos nacionais, e em praticamente todos os campos que declina o mestre de Janjão.[3]
Erro de Machado?
O segundo nível de crítica, porém, repõe as coisas no lugar, com literatura e história se confirmando mutuamente, e Machado antecedendo o amigo abolicionista. Mais profundo, reconhece que não sobra ao talento nacional senão a carreira de medalhão, que a carreira em verdade nada tem de suplente, é a primeira e única. Medalhão completo, como Janjão, ou medalhão incompleto, como Machado, cujo conhecido tédio à controvérsia pode não passar da arte medalhônica de abafar ideias que teimam em irromper, não há saída a quem quiser fugir à vala comum do anonimato.[4]
A novidade maior da teoria do arrivismo machadiana consiste no tipo de alpinismo social que prescreve o pai: um arrivismo sui generis, singular, um arrivismo à moda brasileira. Porque arrivismo que é arrivismo, arrivismo que se (des)preza, isto é — arrivismo burguês, fala abertamente em dinheiro, em enriquecimento, em ascensão de classe, enfim. Basta pensar no Stendhal, no Balzac…
E por falar no abundante romancista desconfio que nosso Machado pode ter se inspirado, perverso do jeito que era, em certas páginas das Ilusões perdidas, quando Vautrin, disfarçado do cônego espanhol Carlos Herrera, e topando Lucien de Rubempré à beira da estrada e do suicídio, depois de seu malogro em Paris, de onde voltava à província endividado e desmoralizado, ministra ao jovem pupilo “cursos” de como disparar na vida a qualquer preço.[5]
Minha suspeita decorre de algumas pistas: a disposição doutrinária comum de teorizar, cinicamente? honestamente? em torno da ambição e dos meios de realizá-la; da forma dialogada; da relação paternal e filial que se cria entre ambos, com Vautrin tratando o jovem ambicioso por “meu filho”, por certa palavrinha equívoca em francês — “père” (pai/padre), e cuja recorrência pode também ter ajudado a despertar a perversidade machadiana, induzindo-o a fazer, em pleno regime patriarcal, de figura em regra veneranda, um conselheiro sagaz, e sacana.
Sabemos da dificuldade em provar fontes, dificuldade que se acentua ainda mais quando o escritor se chama Machado de Assis, seja pela vasta cultura, mobilizada implícita e explicitamente em toda a sua obra, seja pelo estilo alusivo, apto a desencadear toda sorte de relações. Muitas fontes machadianas são por isso crípticas, não há duvidar. Ao mesmo tempo não há dúvida que Machado também versava certas questões literárias em voga, como o fez com o tema romântico da prostituta regenerada em “Singular ocorrência”,[6] das Histórias sem Data.
Outro tema, de Eça a Dostoiévski, parece também ter despertado a perversidade machadiana. Segundo Rónai,[7] o tema da morte do mandarim chinês teria sido lançado por Balzac, mais precisamente numa passagem d”O pai Goriot, num diálogo entre Rastignac, à beira de ceder ao mefistofélico Vautrin, e seu amigo de pensionato Bianchon, um porta-estandarte da virtude. Nele Rastignac (o protótipo do arrivista) relembra página de Rousseau em que o filósofo pergunta ao leitor se teria coragem de enriquecer, sem sair de Paris, matando um velho mandarim chinês…
Empreendidas longas pesquisas, sempre segundo o erudito balzaquiano, e que não faço senão resumir porca e parcamente, pesquisas em que se cogitavam diversas variantes, inclusive sem a figura pitoresca do mandarim chinês, descobriu-se que o mote, por deslize ou despistamento de Balzac, não pertencia a Rousseau. A variante mais próxima, e na qual figurava um chinês, comparecia noutro cristão, Chateaubriand. O autor d’O gênio do cristianismo, em verdade, lançava mão da questão a fim de provar a “realidade da consciência”.[8]
A “realidade da consciência”, contudo, como se sabe, soprou outra coisa a Machado; soprou-lhe que, pra enriquecer e ficar em paz com ela, não precisava matar pelo pensamento apenas, e a nenhum desconhecido, e em plagas tão longínquas; soprou-lhe que se podia ir ali pertinho, a uma vila do interior, como Procópio, “o enfermeiro” improvisado, matar perfeitamente bem com as duas mãos um “mandarim” local, como o Coronel Felisberto, e, uma vez de posse da herança, ir sufocando os gritos, cada vez mais débeis, da consciência.
Verdade seja dita em favor do gênio perverso de Machado que, rendendo preito aos cristãos sinceros, como Rousseau, Chateaubriand, Balzac, no fim do conto evocou ele, levemente atualizado, o “divino sermão da montanha: — Bem aventurados os que possuem, porque eles serão consolados!”[9]
Fontes à parte, possíveis, prováveis, reais ou imaginárias, críveis ou incríveis, o que oferecem as passagens balzaquianas, é exemplo canônico, clássico, típico, do arrivismo burguês. Ali não tem zona de sombra, meias palavras, meios-termos, meia-luz, meios-tons, verdades veladas, chiaroscuro de consciências dúbias. Ali se fala sem rodeios, se fala cruamente em ascensão de classe, em dinheiro, a palavra mágica que, como se sabe, aciona toda a Comédia Humana.[10]
Já o nosso arrivismo evita sintomaticamente a palavrinha nefanda; além de “algumas apólices”, espécie de poupança mínima necessária à corrida pelo medalhonismo, não se toca mais no assunto, e por uma simples razão: a meta de nosso carreirismo é acumular fama, fugindo à obscuridade periférica; o que o distingue, em vez da auri fames, da “fome de ouro” burguesa, é a famosa “sede de nomeada” do nosso Brás Cubas.[11]
Não por outra razão a teoria do arrivismo machadiana procede a uma notória atenuação de tom e de tema, e tão decisiva é ela em face da teoria do arrivismo balzaquiana, que podemos falar em dessatanização, tal a passagem do criminoso ao comum, do monstruoso ao doméstico, do fantástico ao corriqueiro, do chocante ao ridículo. Numa sentença, tal a passagem das “ilusões perdidas” às ilusões fruídas.
Em lugar de tentações mefistofélicas, em lugar do diálogo entre um padre diabólico e um poeta angelical, em lugar de uma sociedade revolucionada pelo capital, e em cujo olho do furacão reina a figura vertiginosa de Vautrin,[12] roubam a cena novos personagens. No palco nosso, ou melhor, na sala, no recesso do lar, deparamos uma sociedade senhorial, e em cujo nicho uma figura de pai zeloso convida o filho a ouvir uma preleção de uma hora acerca da carreira mais promissora do País, a carreira de medalhão, — preleção naturalmente afinada com o meio, sem exempla de golpes, violências, homicídios, sem “cursos” cruentos nem mestres que cheiram a enxofre.
E a crer no poder de sugestão das imagens, não há alegorias mais contrastantes e revelatórias da vida social: em Balzac a vida como “jogo”, presumindo regras e igualdade entre jogadores, supõe a revolução burguesa; e a vida como “loteria” em Machado anuncia a fatalidade da fortuna numa sociedade de regime escravista e capitalista, regida pelo liberal-clientelismo, de dependência pessoal e capricho senhorial, de “ideias fora do lugar”, em suma.[13]
Não se sustenta pois interpretar por típico exemplo de arrivismo burguês, como quer Faoro,[14] o nosso medalhonismo, uma ascensão, paradoxo à parte, e que não é nosso, é do país — uma ascensão horizontal, uma espécie de arrivismo senhorial, um arrivismo que, em vez de mudança de classe, investe em mudança de estado, de qualidade, de obscuro para claro, um arrivismo que respeita a “realidade nua e crua” de um reino ainda escravocrata, contra a qual “não há planger, nem imprecar”.
O movimento duplo e paradoxal do medalhonismo, de identidade e de distinção, não nos deve enganar, segue direção única e bota em causa a sociedade como um todo. É o terceiro nível da crítica machadiana, estrutural, radical.
Senão vejamos, como fica o indivíduo no arrivismo à brasileira, ciente que evocam ambos a ordem burguesa?
O indivíduo dividido que somos, meio burguês e meio afidalgado, burgossenhorês, é deflacionado, desindividualizado ao máximo, e ao mesmo tempo sofre, simétrica e proporcionalmente, notável hiperinflação, mas cujo resultado está longe, paradoxalmente, de reindividualizá-lo.
Medalhão, não por se individualizar, mas justamente por se desindividualizar, por se fundir com o ser social, — o primeiro plano passa a ser ocupado pelo fundo, pela ordem social, de que o próprio medalhão é emblema reluzente, ordem tal, que não pode ser questionada em hipótese nenhuma, nem de partida, nem de chegada. O indivíduo não deve chorar ou maldizer-lhe a aparente injustiça (relembremos o imperativo de conformismo social travestido de fatalismo bíblico na abertura do conto) nem deve cultivar a ironia, “própria dos céticos e desabusados” (relembremos, fechando a teoria, o elogio da chalaça).
Em contraste com a oposição do indivíduo à sociedade, típica da ordem burguesa clássica, da sua revolta, do seu inconformismo social, nossa teoria do arrivismo consagra a fusão, prazerosa, entre um e outra. Como conceber em nosso quadro histórico, imaginem, aquela apoteose final, glacial, que pinta Balzac, quando Rastignac, do alto do Père-Lachaise, depois de enterrar o pai Goriot e as ilusões juvenis, desafia a sociedade parisiense?
Se é esta a ordem social e este o ofício único, se o medalhão reluz em meio a tal ordem obscura, mas se é essa ordem obscura que salta ao primeiro plano, ao fazer esplender o emblema que é dela, o nosso medalhão, ou, dito de outro modo, se a distinção não significa desidentificação, pelo contrário, se se trata de sua expressão suprema, da própria identidade elevada a medalha gloriosa, — figura e fundo se confundindo, em fim de contas, a crítica machadiana, estrutural, radical, vai muito além evidentemente do medalhonismo e seus cultores, atingindo em cheio a própria sociedade que o cultiva e cultua.
Mas longe de nós perder a esperança na modernização do País! Nosso diabólico escritor (dialético?) estampou pouco tempo depois uma crônica, oh, ambrosia das ambrosias! em que justifica o medalhonismo do ponto de vista moderno, avançado, democrático! A mediocridade afinal tem seus direitos:[15] “Os vivos são o que meu amigo Valentim designa pelo nome de medalhões. Em primeiro lugar, há ainda um certo número de espíritos bons, fortes e esclarecidos que não merecem tal designação. Em segundo lugar, se os medalhões são numerosos, pergunto eu ao meu amigo: — Também eles não são filhos de Deus? Então, porque um homem é medíocre, não pode ter ambições e deve ser condenado a passar os seus dias na obscuridade?”
Quer me parecer que a ideia do meu amigo é da mesma família da de Platão, Renan e Schopenhauer, uma forma aristocrática de governo, composto de homens superiores, espíritos cultos e elevados, e nós que fôssemos cavar a terra. Não! Mil vezes não! A democracia não gastou o seu sangue na destruição de outras aristocracias, para acabar nas mãos de uma oligarquia ferrenha, mais insuportável que todas, porque os fidalgos de nascimento não sabiam fazer epigramas, e nós os medíocres e medalhões padeceríamos nas mãos dos Freitas e Alencares, para não falar dos vivos.”
***
Marcado o distintivo da nossa teoria e sua “sede de nomeada”, a prática do arrivismo comporta igual feitio particular, apropriado a “país fechado”, ou aberto apenas ao medalhonismo, — o napoleonismo de imaginação.
“O programa”[16] narra as labutas de um bacharel pobre pra fugir a sua condição obscura, inspirado pelo velho mestre-escola Pitada, em cujos sermões, regulares provavelmente como as pitadas de rapé, advertia da necessidade de entrar na vida “com um programa na mão”.
Depois de tentar, sobraçando o dito cujo, as mais diversas carreiras, literatura, ciência, política, casamento, a própria magistratura, termina advogado de roça, com mulher e filhos que sustentar. Aos 53 anos, numa das viagens ao Rio, Romualdo topa seu velho escrevente Fernandes, o único, além dele, a acreditar no programa, até desistir e tentar a sorte no Paraná, — topa o bom e crédulo Fernandes absolutamente transfigurado. Os negócios haviam dado certo e vinha à Corte pleitear uma comenda.
Compreende-se naturalmente o espanto de Romualdo e suas reflexões desacorçoadas a caminho da roça, de volta. Ele que entrara na vida com um programa… e o Fernandes que acabava comendador!
A caracterização deliciosa de Rangel, “o diplomático”,[17] em conto homônimo das Várias histórias, define a natureza da prática do nosso arrivismo senhorial: “De imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Mais de uma vez foi, consigo mesmo, ministro de Estado, e fartou-se de cortesias e decretos. Chegou ao extremo de aclamar-se imperador, um dia, 2 de dezembro,[18] ao voltar da parada no Largo do Paço; imaginou para isso uma revolução, em que derramou algum sangue, pouco, e uma ditadura benéfica, em que apenas vingou alguns pequenos desgostos de escrevente. Cá fora, porém, era pacato e discreto.”
Noite de São João de 1854, naqueles bons tempos da Conciliação,[19] do fastígio do Império, e duas festas fronteiras, ou melhor, uma festinha familiar, bem brasileira, nunca casa remediada, e uma senhora recepção em fausto palacete, dividindo ambos, bem brasileiramente, a mesma rua.
O dito diplomático, graças ao polido, presumido, das maneiras, é enamorado da filha do dono da casa modesta e, após meses de hesitação, promete a si mesmo entregar-lhe em carta, naquela mesma noite junina, impreterivelmente, sua declaração de amor.
Não é preciso dizer que sua sorte estava decretada, a dele e a nossa, não nos restando senão acompanhar sua última campanha amorosa, e sua derrota certa; vê-lo com a carta em punho, temeroso, perdendo ocasião sobre ocasião, até ver apontar desgraçadamente a Ocasião personificada, Queirós (do grego kairós, “tempo oportuno”, “momento favorável”, “ocasião”), aquele que não a perderá, e arrebatar-lhe a amada, largando-o como sempre, cumulando sonho sobre sonho; vê-lo em sua última oportunidade, colado quase a Joaninha, ainda sem abrir asas, jogando loto, naquela intimidade natural e sensual que brota das relações familiares, sentindo pungir-lhe o corpo com a proximidade física, com ela “roçando quase a orelha pelos lábios dele”, e a ocasião despedindo-se inelutavelmente e inelutavelmente sucumbindo ele a sua vocação, agarrando-a pela cintura e lançando-se na “eterna valsa das quimeras”; vê-lo sair da festa como quem sai do enterro e chegar em casa com ele e com ele quase nos enterrar aos soluços no travesseiro, — de onde, aliás, parece nunca ter tirado a cabeça nosso napoleônico herói.
Tentando muito, como Romualdo, ou nada tentando, como Rangel, o fato é que em ambos prevalece a fantasia, e a “comichão das grandezas” facilmente deriva para os arroubos de imaginação, donde o napoleonismo típico nosso, cuja expressão, como vimos, é praticamente cunhada por Machado ao caracterizar tanto o diplomático quanto o programático: “Napoleão fez com a espada uma coroa, dez coroas. Ele, Romualdo, não só seria esposo de alguma daquelas formosas damas, que vira subir para os bailes, mas possuiria também o carro que costumava trazê-las. Literatura, ciência, política, nenhum desses ramos deixou de ter uma linha especial. Romualdo sentia-se bastante apto para uma multidão de funções e aplicações, e achava-se mesquinho concentrar-se numa cousa particular. Era muito governar os homens ou escrever Hamlet; mas por que não reuniria a alma dele ambas as glórias, por que não seria um Pitt ou Shakespeare, obedecido e admirado? Romualdo ideava por outras palavras a mesma cousa. Com o olhar fito no ar, e uma certa ruga na testa, antevia todas essas vitórias, desde a primeira décima poética até o carro de ministro de Estado. Era belo, forte, moço, resoluto, apto, ambicioso, e vinha dizer ao mundo com a energia moral dos que são fortes: lugar para mim! lugar para mim, e dos melhores!”
O sonho de grandeza, porém, pode revestir formas variadas. O conto “Sales”,[20] por exemplo, apresenta outra das versões do napoleonismo de imaginação, esta empresarial.
A personagem central, que dá nome ao conto, concebe plano sobre plano, mas sem levar nenhum a cabo. Sua carreira napoleônica inicia aos 19 anos, em 1854, naquele tempo fabuloso da Conciliação, do apogeu do Império, e da juventude de Machado, tempos do Machadinho, e quando deve ter reconhecido uma infinidade de jovens napoleões como ele, entre os quais o nosso Sales, que logo tem uma ideia visionária, precoce de um século, de mudar para o interior a capital do Brasil.
Em 1859, aos 25 anos, expõe um plano a um senhor de engenho pernambucano, e engenho não muito vistoso, pelo visto, maravilhado que ficou com o projeto, algo ligado à produção de açúcar por meio de um “mecanismo simplíssimo”. Conquistado o senhor de engenho e a filha, casa com ela e vem para a Corte, pretextando negócio urgente e parindo nova ideia mirabolante, uma empresa de pescado pra abastecer a cidade durante a Semana Santa, plano que afunda quando são indeferidos pelo governo os estatutos da empresa.
Pouco depois, por ocasião de uma frase espirituosa dita à mulher, um “perdão ‘de rendas’”, a qual brigara com ele pelas loucuras empresariais, pensa logo numa “indústria de rendas”, ideia que o leva a passar sete meses na Europa… em estudos. Esquecido da razão por que viajara, volta de lá empunhando mais uma de suas “concepções vastas, brilhantes”, um “plano soberbo”, provavelmente inspirado na haussmannização de Paris, “nada menos que arrasar os prédios do Campo da Aclamação e substituí-los por edifícios públicos, de mármore”.
Empobrecido, que o dote todo da mulher fora comido nas tantas aventuras econômicas, morre, então, de uma lesão cardíaca, não sem antes conceber a ideia derradeira, nascida durante o sacramento da extrema-unção, a fundação de uma igreja, — ideia igualmente precoce de mais de século.
A pergunta é incontornável: mas Sales teria salvação, se se deslanchassem seus planos?
A confiarmos em Nabuco e seu “país fechado” e em Jorge Caldeira, que se debruçou sobre a carreira napoleônica do Barão de Mauá, sorte de empresário fora do lugar,[21] o qual começara a edificar seu império perto de 1850 e vinte anos depois começava a vê-lo ruir, paralelamente ao império de seu inimigo, d. Pedro II, a resposta não é simples nem automática, mas tende, queremos crer, à negativa.
Vária é a forma do nosso distintivo da prática do arrivismo, incluindo até o napoleonismo de imaginação — alheia.
Este nos parece o caso de “Um erradio”,[22] das Páginas recolhidas, Elisiário, o “erradio”, cuja história é narrada à mulher por Tosta, amigo desde a juventude e admirador sem freio, é o típico gênio sem obra. O santuário do erradio ficava numa casa de estudantes, bem mais jovens, onde costumeiramente lhe oficiavam o culto e onde o narrador o viu pela primeira vez. Antes de entrar, glosou o mote dado por um dos oficiantes, e de cuja ironia capciosa vamos nos dando conta ao longo da história: “Podia embrulhar o mundo/ A opa do Elisiário”.
Tosta, um dos embrulhados, vira uma espécie de secretário e discípulo do professor de latim e matemática, secretário sem trabalho e discípulo sem norte, pois o “grande homem” começava e jamais concluía nenhum dos seus projetos intelectuais, drama, poesia, etnologia… Esta “catadupa de ideias”, como lhe chama de passagem o admirador, converte-se num dia repentino, depois de desaparecido bom tempo, numa catadupa quase de fato, de lágrimas; chega à casa do narrador em prantos, dizendo-se casado, e desgraçadamente casado, por gratidão, com a filha de seu protetor.
Sua esposa Cintinha, outra das grandes senão a maior das embrulhadas, curtia pelo protegido do pai admiração desmedida, verdadeira “paixão intelectual” desde os seus 18 anos, a mesma idade em que o conhecera o narrador. Pensando salvá-lo da vida desregrada, salvando-lhe o gênio da dissolução inevitável, concebe então o casamento.
Passado um ano, Tosta volta a encontrá-lo e começa a frequentar-lhe a casa… Quede o alto talento? Elisiário está mudado; perdeu a opa, e adivinha-se o resto; perde toda a eloquência divina que abrigava a “vasta sobrecasaca alegre”, e isto apesar dos protestos, dos incansáveis estímulos da dupla de devotos fiéis.
O gênio do erradio é assim, desmentindo as expectativas da mulher, esterilizado pela ordem, — ordem doméstica, é verdade, mas ajudada também por uma ordem social ainda alheia ao trabalho dito livre, ao esforço regular, metódico, constante, do universo burguês, ordem ainda escravocrata, senhorial, em que o trabalho infamava, em que ao fidalgo só se lhe consentia, quando muito, a atividade digna da ocupação.
Em tal “país fechado”, aberto apenas à carreira segura do medalhonismo, em que o trabalho nem sequer compensação simbólica traz, as reações podem lograr vestes o mais esdrúxulas possível.
Conto que, impresso pela primeira e única vez na Gazeta de Notícias de 25/3/1886, dado praticamente por perdido por Galante de Sousa,[23] ressurgiu milagrosamente numa edição de O Globo em 1991, e editado em livro cinco anos depois faz jus àquelas maravilhosas “obras do acaso”, de acordo com o título da boa apresentação de Davi Arrigucci Jr., — “Terpsícore” arrebata a palma do mais extravagante napoleonismo nacional, o napoleonismo de imaginação efêmero.[24]
Autêntica obra-prima do engenho machadiano, o conto relata a história de um casal pobre, Porfírio e Glória, à beira da miséria, devendo seis meses de aluguel, ameaçado de despejo pelo senhorio, e sem ter a quem recorrer, que o padrinho de casamento já cansara de bancar o “par de malucos”, sempre afeito a extravagâncias, sobretudo ele, o marido, que já dera, sem recurso nenhum, uma festa de casamento assombrosa, — história de um casal, enfim, que, em tal situação extrema, tira a sorte grande num bilhete de loteria e acaba por torrá-la, insensatamente? noutra festa de arromba.
Com Porfírio surpreendido na cama pela mulher, acordado, os olhos postos na parede e na dívida, o conto se divide em duas partes. Na primeira, o narrador sumariza o encontro sugestivo do casal, quando o marido, medusado pela musa da dança, Terpsícore, encarnada na mulher, “a viu polcar […] e cravou nela uns olhos de sátiro, acompanhou-a em seus movimentos lépidos, graciosos, sensuais, mistura de cisne e cabrita”, o namoro, a escolha intempestiva da casa, o casamento e o baile, as alegrias e desmedidas da embriaguez conjugal, e a ronda, apertando o passo, da miséria, até chegar àquela manhã de mais um dia de marcenaria na oficina, a que parecia condenado Porfírio, e o deparamos acordado na cama, de olhos postos na parede e na dívida.
A segunda parte expõe as tentativas vãs de escapar à situação de penúria até o momento que Porfírio tira o bilhete premiado e, contrariando o senso comum, como bom espírito avesso à ética capitalista, consome todo o dinheiro em mais uma festa memorável.
Ganho o prêmio, era preciso ganhar a mulher, que aconselhava, pagas as dívidas, pôr o restante do dinheiro na Caixa, “para alguma necessidade”. A campanha do marido, à qual veio cedendo terreno, do “vestido de seda” ao “pagode” doméstico, foi a sua maneira napoleônica, grandiosa, jogando com o tempo, atacando e recuando e voltando à carga uma semana depois, variando sabiamente de tom e argumento, do carinhoso ao enérgico, do enérgico ao médico, — faz até mal viver assim! do médico ao piedoso — que pensaria Deus diante de tamanha ingratidão? não seria até pecado deixar de festejar uma graça recebida? do piedoso ao materialista-metafísico — que é que levavam da vida? e deste ao pessoal — que ele ainda espairecia, andava pelas ruas, mas ela, coitada, era só trabalho e mais trabalho!
Convencida a mulher, foi se dando sem alarde o passo seguinte, sob a influência talvez dos preparativos (o narrador ainda lhe concede o benefício da dúvida), da “patuscada” familiar à “festa de estrondo”, da “febre” ao “delírio”.
E se a festa faz pensar simbolicamente numa fogueira, apagando-se como ela, lentamente, para resistir apenas nas cinzas da memória, leves e (in)deléveis, nessa fogueira arde sobretudo o futuro do casal, um futuro, se não próspero, pelo quadro histórico nosso mesquinho, no mínimo remediado: “Deram três, quatro, cinco horas. Às cinco havia um terço das pessoas, velha guarda imperial, que o Porfírio comandava, multiplicando-se, gravata ao lado, suando em bica, concertando aqui umas flores, arrebatando ali uma criança que ficara a dormir a um canto e indo levá-la para a alcova, alastrada de outras. E voltava logo batendo palmas, bradando que não esfriassem, que um dia não eram dias, que havia tempo de dormir em casa. Então o oficlide roncava alguma coisa, enquanto as últimas velas expiravam dentro das mangas de vidro e nas arandelas.”
O que choca no conto, a desconsideração absoluta do futuro, da dimensão temporal burguesa, este napoleonismo quase às avessas, de tão efêmero, de tão fugaz, esta “sede de nomeada” nem que seja por um dia, uma noite, mas que se faça, assimilando “esse raio de ouro, como um hiato esplêndido na velha noite do trabalho sem trégua”, noite tão árdua, tão antiga, que o narrador, contrariando seus hábitos, parece não fazer questão de nenhuma marcação temporal, — o que choca em “Terpsícore”, nesta dança imemorial da pobreza, é que boa parte dos nossos pobres parece continuar a partilhar o mesmo sentimento.
O que choca ainda hoje, e ainda mais, é que talvez seja esse porfírio “delírio” o único “raio de ouro” — e de razão, num mundo em que o trabalho, o “trabalho sem trégua” que tão bem conhecem os pobres, não compensa mesmo, nem simbólica nem materialmente.
***
Nossos napoleões de imaginação, fossem feitos de “devaneio, indolência e afetação”, à moda do “diplomático”, fossem feitos de devaneio, impotência e ação, à moda do “programático”, fossem feitos só de devaneio e indolência, como o “erradio” e o empresário fora de lugar, desconheciam a singularidade da vida material e ideológica brasileira, não podendo senão malograr em “país fechado”, de capitalismo escravista.
Tão somente seguindo à risca a receita do pai de Janjão, não se tornariam ninguém, melhor dizendo, se tornariam Ninguém, com letra maiúscula, tal e qual o destino exemplar de nosso arrivismo horizontal, senhorial, o de Fulano, do conto homônimo de Histórias sem data, nascido obscuro e morto glorioso.[25]
Fulano Beltrão, nome e sobrenome de janjão-ninguém, era homem pacato e reservado, casmurro e obscuro, que, de uma hora pra outra, muda inteiramente. Ele está morto, aos 60 anos, e o narrador, amigo íntimo, nos conta sua história, enquanto se espera a abertura do testamento. A reviravolta de Fulano Beltrão, o narrador a credita a notícia de íntimo da família, em artigo de jornal estampada, anônima mas elogiosa ao futuro medalhão pela passagem dos seus 40 anos, “bom pai, bom esposo, amigo pontual, cidadão digno, alma levantada e pura”.
A trajetória de Fulano descreverá o movimento que distingue o medalhão, aquele movimento de distinção em busca de nomeada, que supõe, por sua vez, o movimento de identidade, aquela fusão orgasmática com o corpo social.
Deslumbrado com a descoberta da imprensa, especialmente com o uso senhorial de mais um invento da civilização moderna, Fulano Beltrão passa a dar seus atos todos quase que diariamente a publicidade — aquela “dama loureira e senhoril”, fossem quais fossem eles, como recomendava o mestre de Janjão, desde benfeitorias a igrejas, ajuda a flagelados de cataclismos naturais ou sociais, passando pelas causas públicas mais nobres, pelos bailes patrióticos, até o mais íntimo, como a morte da mulher e a sua própria moléstia.
É assim que, publicizando-se todo, Fulano Beltrão atinge aquela adorável e distinta indistinção que distingue o medalhão, pontificando como “adjetivo dessas reuniões opacas”, chegando em pouco tempo àquele supremo adjetivo substantivado de que fala o pai de Janjão: “o odorífero…”, “o anilado”, “o prestimoso”, “o noticioso e suculento…”
Ao expirar, enfim, era o retrato do medalhão completo, faltando-lhe apenas isto mesmo, — o medalhão, literalmente, pra coroar-lhe a brilhante carreira. De acordo com a lista de doações, legava providencialmente uma boa quantia, “para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma estátua a Pedro Álvares Cabral. “Cabral, diz ali o testamento, não pode ser olvidado dos brasileiros, foi o precursor do nosso império”. Recomenda que a estátua seja de bronze, com quatro medalhões no pedestal, a saber, o retrato do bispo Coutinho, presidente da Constituinte, o de Gonzaga, chefe da conjuração mineira, e o de dous cidadãos da presente geração “notáveis por seu patriotismo e liberalidade” à escolha da comissão, que ele mesmo nomeou para levar a cabo a tarefa”.
Que ela se realize, não sei; falta-nos a perseverança do fundador da verba. Dado, porém, que a comissão se desempenhe da tarefa, e que este sol americano ainda veja erguer-se a estátua de Cabral, é da nossa honra que ele contemple num dos medalhões o retrato do meu finado amigo. Não lhe parece?”
É ridículo… não lhe parece? Mas haveria outra saída?
À sua maneira, como Cabral, Fulano descobriu o Brasil.
*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de Ver Navios (Nankin, 2007).
À parte uma ou outra conclusão mais amadurecida, o artigo reproduz, em linhas gerais e em ponto menor, dissertação defendida há 25 anos: “Teoria e prática do arrivismo em contos maduros de Machado de Assis”, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), 1996.
Referências
ASSIS, Machado de. Obra completa, 3 v., 6.ª ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986 (1.ª ed. de 1959).
____. Histórias sem data. Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Garnier, 1989.
____. Páginas recolhidas. Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Garnier, 1990.
____. Contos: uma antologia, 2 v. Seleção, introdução e notas de John Gledson. São Paulo, Cia. das Letras, 1998.
____. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1988.
____. Terpsícore. São Paulo: Boitempo, 1996.
BALZAC, Honoré de. As ilusões perdidas:A Comédia Humana 7: estudos de costumes / cenas da vida privada. Trad. Ernesto Pelanda e Mário Quintana. 3.ª ed. São Paulo: Globo, 2013 (1.ª ed. de 1948-1955, com várias reimpressões).
_____. O pai Goriot: A Comédia Humana 4: estudos de costumes / cenas da vida privada. Trad. Gomes da Silveira e Vidal de Oliveira. 3.ª ed. São Paulo: Globo, 2012 (1.ª ed. de 1946-1955, com várias reimpressões).
CALDEIRA, Jorge. Mauá: empresário do Império. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
CANDIDO, Antonio. Uma dimensão entre outras. In: ____. Brigada ligeira e outros escritos. São Paulo: Editora Unesp, 1992, p. 187-196.
FAORO, Raymundo Faoro. Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 1988 (1.ª ed. de 1974).
FARIA, João Roberto Faria. Singular ocorrência teatral. Revista USP, São Paulo, n. 10, 1991, p. 161-166.
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. 5.ª ed. Petrópolis: Vozes, 1988 (1.ª ed. de 1884).
RÓNAI, Paulo. Balzac e a Comédia Humana. 4.ª ed. São Paulo: Globo, 2012 (1.ª ed. de 1947).
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 2.ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1981 (1.ª ed. de 1977).
_____. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990.
SOUSA, Galante de. Bibliografia de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1955.
Notas
[1]Ver Teoria e prática do arrivismo em contos maduros de Machado de Assis, SP, e-galáxia, 2021. [Em breve, nas melhores lojas do ramo, à escolha do freguês, em versão digital ou impressa. Recomendamos se adquiram as duas… a título de comparação.]
[2] Antonio Candido, “Uma dimensão entre outras [de Stendhal]”, in Brigada Ligeira e Outros Escritos (São Paulo, Unesp, 1992, p. 190).
[3] “Isso significa que o país está fechado em todas as direções; que muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas, e outras, em que homens práticos, de tendências industriais, poderiam prosperar, são por falta de crédito, ou pela estreiteza de comércio, ou pela estrutura rudimentar da nossa vida econômica, outras tantas portas muradas” (“Influências sociais e políticas da escravidão”, O Abolicionismo, Petrópolis, Vozes, 1988, 5.ª ed., p. 131).
[4] Datando de 1863 sua estreia medalhônica, aos 24 anos, quando é convidado pelo Ministério do Império a ocupar um cargo que fora de José de Alencar, de censor teatral, e sua fixação aos 28 anos, em 1867, quando recebeu o título de cavaleiro da Ordem da Rosa, podemos dizer, nos marcos de sua teoria, que tamanho “madrugar” não deixa também de atestar-lhe o gênio.
[5] “Curso de História para Uso dos Ambiciosos por um Discípulo de Maquiavel” e “Curso de Moral por um Discípulo do R. P. Escobar”, capítulos 32 e 33 da última parte d’As ilusões perdidas (p. 743-754), na edição de Balzac: A Comédia Humana 7, já clássica na língua, por Paulo Rónai. E diga-se de passagem que o Reverendo Padre Escobar batizou um personagem de Machado que até hoje dá que falar…
[6] João Roberto Faria, “Singular ocorrência teatral” (Revista USP n.º 10, jun/jul/ago/1991, p. 161-166). O conto foi publicado na Gazeta de Notícias de 30/5/1883, e o livro no ano seguinte.
[7] Paulo Rónai, Balzac e a Comédia Humana, 4.ª ed. (São Paulo, Globo, 2012, 1.ª ed. de 1947).
[8] “Ó consciência! serás tu apenas fantasma da imaginação ou o medo do castigo dos homens? Interrogo a mim mesmo; pergunto-me: se tu pudesses, por um desejo apenas, matar um homem na China e herdar-lhe a fortuna na Europa, tendo a certeza de que nada jamais seria conhecido, consentirias em executar esse desejo?” E conclui: “Por mais que exagere a minha pobreza, por mais que atenue este homicídio, supondo que, por meu voto, o chinês morre instantaneamente e sem dor, que não tem herdeiros, que por sua morte natural iriam seus bens para o Estado; por mais que lhe atribua idade avançada, acrescida das torturas, dos achaques e dos desgostos; por mais que eu me diga que assim a morte é uma libertação que ele mesmo suplica e que não esperará muito — a despeito desses subterfúgios, ouço no fundo do meu coração uma voz que tão fortemente grita contra o mero pensamento de tal desejo que não posso duvidar, um instante, da realidade da consciência’” (apud Rónai, Balzac e a Comédia Humana, p. 66-67).
[9] “O enfermeiro” (Contos: uma antologia, v. 2, p. 208) foi publicado em 13/7/1884 na Gazeta de Notícias sob o título de “Cousas íntimas”, e há variantes, além do nome, em relação ao que veio a constar das Várias Histórias, de 1896 (Galante de Sousa, op. cit., p. 553).
[10] “A Monarquia de Julho [1830-1848] é um período de gloriosa prosperidade, um momento florescente para todos os empreendimentos industriais e comerciais. O dinheiro domina toda a vida pública e privada: tudo se curva diante dele, tudo o serve, tudo é prostituído — exatamente, ou quase, como Balzac o descreveu.É verdade que o domínio do capital não começa agora, mas até então a posse do dinheiro tinha sido apenas um dos meios pelos quais um homem era capaz de conquistar uma posição para si mesmo na França, embora não fosse o método mais refinado nem sequer o mais eficaz. Agora, por outro lado, todos os direitos, todo o poder, toda a capacidade, passaram subitamente a expressar-se em termos de dinheiro. Para ser entendido, tudo tinha de ser reduzido a esse denominador comum” (Arnold Hauser, História Social da Arte e da Literatura; parte VII, “Naturalismo e impressionismo”; cap. 1 “A geração de 1830”, p. 734-735, grifo nosso).
[11] A “sede de nomeada” é uma das múltiplas manifestações da Volubilidade, a “forma ostensiva” do universo machadiano descoberta e explorada por Roberto Schwarz (Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 2.ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1981, e Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990). No que eventualmente houver de convincente, deve o artigo ao esquema interpretativo do grande crítico, o qual retirou em definitivo das mãos da direita este que é dos maiores escritores do Oitocentos no Ocidente, senão o maior.
[12] “Vautrin iniciador e corruptor, com efeito, Vautrin descobridor dos segredos do mundo e teórico do arrivismo […] A diferença, todavia, entre os cínicos do século XVIII e Vautrin é imensa. A atitude de conjunto, o vocabulário mesmo, podem se assemelhar, mas o conteúdo, a orientação, a significação, a perspectiva, são de um outro universo. Em primeiro lugar, porque Vautrin fala de dentro de um universo pós-revolucionário, depois do triunfo das Luzes, da razão e da igualdade, depois do grande esforço da racionalização e de clarificação das relações sociais que se propusera a Revolução Francesa e que se havia pensado que ela devia ser. (…) o discurso e a ação de Vautrin no coração mesmo do mundo liberal são um outro signo romanesco daquilo que se tornou o mundo nascido da Revolução. É absolutamente impossível colocar no mesmo plano, do ponto de vista da história das mentalidades e das reações subjetivas, a sociedade de antes de 1789 e a sociedade de 1819. Nem Vautrin, nem Rastignac, [nem Lucien de Rubempré, nosso homem tentado pelo Vautrin disfarçado de padre] nem ninguém em 1819, pode pensar a vida social nos mesmos termos que antes de 1789. (…) Balzac historicizou um tema moral e sem raízes precisas. Antes de tudo, explorando-o, ressaltando-o em um contexto histórico que lhe dá necessariamente uma ressonância nova. Depois, ainda fez melhor: tratou-o explicitamente em referências históricas e precisas. As referências de Vautrin, com efeito, suas justificativas são constantemente históricas, políticas, e sua história, sua política, não são aquelas da retórica (Aníbal César, os grandes homens sobre os quais raciocina ainda Montaigne), mas aquelas brutais, imediatas, dos homens de uma geração: Napoleão, Talleyrand, Villèle, Manuel, La Fayette (…). Vautrin não discorre nem raciocina em um eterno que não concerne senão aos homens de cultura. Ele raciocina e discorre sobre o fundo de uma experiência recente e em curso, vivida e compreendida como histórica e como política. Não somente o mundo, mas o mundo moderno, o único que conhecem milhões de homens, fez-se assim. (…) Vautrin fala por todos e se dirige a todos, porque põe em causa os fundamentos mesmos do mundo novo. // […] Vautrin vai falar do interior de um mundo aberto, febril, um mundo em expansão, que permite tudo a todo o mundo. Vautrin não é concebível separado da grande pressão plebeia consecutiva à revolução capitalista que destroçou os quadros da sociedade nobre e parlamentar. Um lugar-tenente corso se torna Imperador. (…) Mas somente a Revolução e suas consequências,a explosão econômica, social e cultural que ela desencadeou ou tornou possível e que, em seguida, se consolidou com o retorno da paz e o fim das restrições imperiais, puderam dar todo seu sentido às teorias do arrivismo e da ambição […] Vautrin exprime uma lei geral, aquela de toda a sociedade nova[…] Vautrin está no centro da Comédie Humaine […] Eis por que Vautrin, longe de ser apenas um ‘caso’ […] adquire grandeza e estatura. Vautrin é um momento do devir histórico e social: por atingir o épico, é uma das figuras maiores da criação romanesca do século XIX”(Pierre Barbéris, le Père Goriot de Balzac, p. 61-64; tradução e grifos nossos).
[13] Schwarz, op. cit., Ao vencedor as batatas.
[14] Ver de Raymundo Faoro Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, de 1974 (Rio de Janeiro, Globo, 1988, 3.ª ed.).
[15] Ver crônica, de 16/12/1883, da série “Balas de estalo” da Gazeta de Notícias, in Obra Completa, 3 v., 1.ª edição de 1959 (Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, 6.ª impressão ilustrada, p. 425-6), ou in R. Magalhães Júnior, Machado de Assis: crônicas de Lélio (Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p. 37-8).
[16] Publicado n’A Estação em 1882/1883, não foi recolhido em livro por Machado (ver “Outros contos” da Obra Completa, edição Nova Aguilar, v. 2, p. 908).
[17] Publicado na Gazeta de Notícias de 29/10/1886, faz parte das Várias Histórias, de 1896 (Contos: uma antologia, v. 2, p. 243).
[18] Dia de nascimento de D. Pedro II, anota John Gledson na melhor antologia que temos (op. cit., p. 245), dentre cujas virtudes, tantas, despontam a anotação histórica pertinente e a observância da pontuação machadiana, clássica em sua elegância e expressividade, restaurando-a da ação predatória de manuais de redação e editores sem noção, de vasta e nefanda influência em país de tradição iletrado. [Verdade se diga, no entanto, em desagravo aos analfabetos funcionais: a confiar nestas retinas tão fatigadas que há de torrar logo o forno, se deus quiser, apagando por todo o sempre certos pareceres que recebeu o enjeitado artigo, tampouco professores de Letras de boas universidades parece conhecerem pontuação outra além dessa manualesca, aliás sobrepontuação, de tão excessiva, quadradinha, certinha, simetriquinha, neurotiquinha, abafadinha, esterilzinha, autentiquinha camisinha de força, infensa à língua viva… a não ser que a furemos a golpes de travessão, — sinal suprimido de nossa pontuação, a despropósito, trocado por hífen, ou por traço, ai de nós! parido provavelmente pra ganhar mísero milímetro. E que isto é frescura de poeta, que o hífen ou o traço pode bem representar o travessão — vírgula! Por que não um sinalzinho só representando a todos? Voto no ponto final.]
[19] Informam os pacientes estudiosos do nosso Oitocentos — que o diga Gledson! que a Conciliação entre liberais e conservadores, estabilizando politicamente o Império, iniciou em 1846, atingiu o auge em 1853, com o gabinete do Marquês do Paraná, e entrou em declínio em 1856.
[20] Não recolhido em livro por Machado, saiu na Gazeta de Notícias de 30/5/1887 (Obra completa, v. 2, p. 1.072).
[21]Mauá: empresário do Império (São Paulo, Cia. das Letras, 1995).
[22] Publicado originalmente n’A Estação, do mesmo ano (Páginas recolhidas, p. 27).
[23] Galante de Sousa, op. cit., p. 581.
[24]Terpsícore: Machado de Assis (São Paulo: Boitempo, 1996).
[25] O conto saiu publicado na Gazeta de Notícias no mesmo ano do livro, 1884 (Histórias sem data, p. 115).