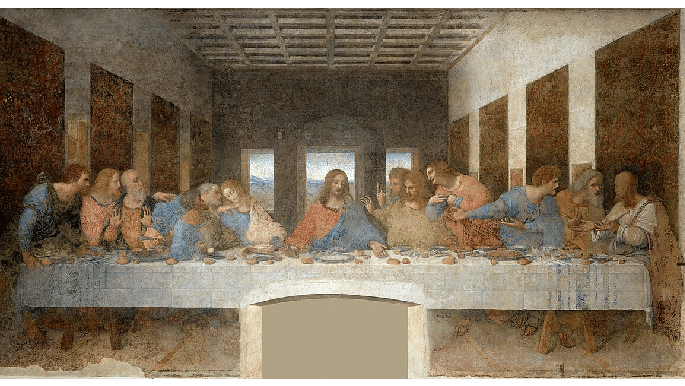Por JOSÉ RAIMUNDO TRINDADE*
Considerações sobre a questão agrária em José de Souza Martins
“Prenhe vou resistindo/acreditando que atrás da cerca do latifúndio/ as pindobas cantam/ e as velhas palmeiras assoviam uma canção de liberdade”
(Lília Diniz, Imperatriz/Maranhão)[i]
O debate e o tratamento teórico da questão agrária no Brasil percorreram diversas trajetórias e busca de sentidos: desde a visão completamente vinculada aos aspectos partidários do antigo PCB, as contribuições imprescindíveis de Caio Prado até visões de intelectuais vinculados a igreja católica. Algumas das interpretações propriamente no campo do marxismo estabelecem um mosaico interpretativo de diversos modos convergentes e divergentes ao mesmo tempo.
Já analisamos no site A Terra é Redonda um pouco daquilo que Octávio Ianni observou como o nexo da questão agrária e a conformação de um Estado agrário brasileiro.
Outro autor que nos parece chave para o entendimento da “fechadura” sociológica e econômica brasileira constitui as contribuições de José de Souza Martins. Este autor define a questão agrária brasileira como o centro de qualquer elemento interpretativo de uma sociedade que não consegue superar a escravidão ou a “forma escravista de trabalho”, como o autor nos define, e se torna “um capitalismo de capital subsumido pela renda fundiária” ou “capitalismo de insuficiências”.
Para José de Souza Martins “a questão agrária brasileira não é apenas, propriamente, a questão social da pobreza que no campo resulta da injustiça fundiária. Ela é aqui o modo anômalo como se deu o pacto do capital com a propriedade da terra, o capital tornando-se proprietário de terra e mutilando-se como modo capitalista de produção” (2023, p. 26).
No breve excerto acima pode-se tratar de cinco elementos que nos parecem centrais na interpretação do Brasil contemporâneo. Primeiramente como se estabelece a formação da sociedade capitalista nacional, cuja presença de fim institucional tardio e com permanência contemporânea constituiu aquilo que José de Souza Martins vai denominar de “capitalismo insuficientemente realizado”, não somente pelas condições de “sobre-exploração” do trabalho aqui presentes, mas pelas “atividades econômicas desreguladas, da economia paralela de resistência e sobrevivência” (2023, p. 103).
O nexo sociológico da escravidão é mais profundo que as análises do estruturalismo desenvolvimentista brasileiro supunham. Essa sociedade de capitalismo insuficiente requer a permanência perene da extração de um lucro extraordinário a partir de formas de exploração não propriamente capitalistas, assim a escravidão e outras formas de “sobre-exploração” permanecem como contingente a formação sociológica brasileira.
Por mais que não tenha referência, a categoria de “sobre-exploração” de José de Souza Martins se aproxima a categoria de “superexploração” de Ruy Mauro Marini. Podemos visualizar essa aproximação mais de perto expondo seus elementos interpretativos. Para José de Souza Martins a “sobre-exploração” se manifesta no “barateamento do trabalho assalariado muito aquém do processo de reprodução da força de trabalho para o capital, do valor de sobrevivência de quem para ele trabalha”. Para Ruy Mauro Marini (2005) as formas “superexploração” se manifestam numa taxa de salário inferior ao valor da força de trabalho, sendo que o capital faz uso do próprio “fundo de salários”, avançando sobre as condições de reprodução do trabalhador.
A aproximação dessas duas formas de exploração (sobre e super) se diferenciam quando José de Souza Martins (2023, p. 150) teoriza propriamente o trabalho escravo por endividamento, uma forma pós-escravidão histórica. A sobre-exploração é uma manifestação do capital comercial, sendo que o trabalhador antes de entrar no processo produtivo já apresenta uma condição de aviltamento espoliativo. Assim, a “sobre-exploração se dá antes do trabalho realizado, nos preços majorados e monopolistas que paga por aquilo de que carece para subsistir, e não durante o processo de trabalho”.
Vale observar que as diversas formas de possível apropriação creditícia existentes no Brasil podem ser, de algum modo, analisadas sob essa categorização ou delas derivadas, mesmo que não haja propriamente manifestação de “formas de trabalho escravo”, mas podem ser visualizadas como formas de “acumulação por despossessão”, por exemplo, as formas de trabalho de plataforma (Uber e outras) ou a extorsão via juros usurários manifestos nas famosas “cadernetas de compras” existentes até hoje nas periferias de todo Brasil ou mesmo nos cartões de créditos, são formas de apropriação de pequenas rendas.
A análise de José de Souza Martins estabelece a necessária compreensão de como a “herança escravocrata” se manifesta não somente na atualidade da “escravidão contemporânea”, mas constitui aspecto chave para se pensar uma sociedade em que “o desemprego, o subemprego, a precarização do trabalho” criam uma “pobre consciência social de resignação e da espera”, porém “persistindo, ajustada ou reinventada” forma escravista de trabalho “conforme as condições socialmente minimizantes” (…) no “modelo subdesenvolvido de capitalismo” brasileiro.
Um segundo ponto central refere-se aos aspectos fundiários em si, que se reveste tanto nos aspectos de controle social, quanto na própria formação do Estado brasileiro, cuja noção de Octávio Ianni (2004) era de um “Estado agrário”, mas com enormes proximidades a percepção de José de Souza Martins (1986, p.15) das “oligarquias apoiadas na propriedade da terra”.
A questão agrária aparece aqui com uma dupla interação: de um lado o controle sobre os movimentos sociais e a eterna postergação de uma reforma agrária que de fato enfrente a apropriação fundiária e, por outro, a conformação do “pacto excludente” que sempre operou no sentido daquilo que o autor denomina de “inclusão social perversa”, pois não se trata de fato de “exclusão social” já que “o desvalido tem uma função no atual modelo neoliberal de reprodução ampliada do capital”.
Algo que se agrava conforme o ciclo de poder agrário que se impõe, como o atual em que o padrão primário-exportador baseado no agronegócio e na extração mineral reforçam a lógica dessa “inclusão social perversa”, algo objetivado nos conflitos agrários, na escravidão contemporânea, nos assassinatos e genocídios de povos. Como demonstra a CPT (Comissão Pastoral da Terra) em seu último relatório: “a situação no campo se agravou em conflitividade, com números acima das 1.500 ocorrências anuais, entre 2016 e 2018, e chegando a mais de 1.900 por ano entre 2019 e 2022 (…) sendo que, nos últimos 10 anos, a violência no campo cresceu 60% em intensidade”.[ii]
Mas o nexo interno, preponderantemente econômico, mas com profundas raízes sociológicas e antropológicas refere-se ao caráter não mercantil da terra que se transforma em apropriação privada mercantil no estabelecimento da renda fundiária. Marx (2017 [1896]) demonstra o caráter irracional da terra enquanto mercadoria, sendo que a forma mercantil se estabelece desde o processo de trabalho, sendo que a natureza não constitui processo produtivo e sim essência ontológica.
Ao mercantilizar a terra, através do atributo da renda fundiária capitalizada observa-se uma dupla contradição, como nos estabelece José de Souza Martins (2023, p. 129): o uso de “elemento natural, finito, que não pode ser reproduzido” como algo a ser utilizado indefinidamente, o que leva a necessária frente expansiva da acumulação agrária; por outro, no “agronegócio o empresário é um ser bifronte (…) capitalista e proprietário de terra, duas lógicas econômicas antagônicas”.
Convém explicar esta última contradição e integrá-la ao primeiro problema. A renda fundiária constitui uma dedução tributária ao uso produtivo e capitalista da terra, sendo que o arrendatário de terra para utilizá-la produtivamente paga na forma de renda absoluta ou diferencial uma dedução do lucro obtido na exploração econômica da terra. O proprietário agrário, portanto, funciona como um parasita que obtém uma parte da riqueza social a partir do mero controle e propriedade da terra. O que se observa no agronegócio é a personificação de “realidades que mesmo juntas se movem em direções antagônicas. Uma em direção ao futuro e outra em direção ao passado”.
Como observa corretamente Delgado (2005, p. 66) o “agronegócio (…) é uma associação do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária (…) perseguindo o lucro e a renda da terra, sob o patrocínio de políticas de Estado”. As consequências de um modelo econômico e social pautado no agronegócio é o fortalecimento do atavismo rentista baseado na renda fundiária e, como reforça Martins (p. 130) “bloqueado ao progresso, à democracia e à cultura da pluralidade e da diferença”.
Mas o “modo anômalo” que representa a questão agrária na interatividade entre o capitalismo arcaico brasileiro e a propriedade fundiária somente se consolida se produzir uma continua e expansiva fronteira. A fronteira amazônica tal como entendido por José de Souza Martins em diversas obras (1981, 1986, 2010, 2014, 2023) é o lugar de “coisificações” onde as pessoas se “degradam como coisa e objeto, empobrecida como sujeito de destino”. A Amazônia traduz, não somente neste autor, mas em outros intérpretes, como o já citado Octávio Ianni, o palco desorganizado de três contingenciais fronteiras do capitalismo brasileiro: a fronteira da escravidão contemporânea; a fronteira da acumulação agrária e a fronteira do fim ambiental humano.
A noção de fronteira em José de Souza Martins (2014, 2023) não é um espaço linear, constitui mais uma geografia relacional, assemelhada a percepção de Smith (1988) e Harvey (2013), como ele refere-se estabelece uma lógica “aberta e móvel” que se redefine permanentemente e “altera a lógica de extração do excedente econômico”, sendo, portanto, uma formação territorial de dialética relacional, ou seja, se altera condicionada por um conjunto variado de vetores, sendo a acumulação capitalista um desses pontos, mas também “as técnicas sociais da coerção do trabalhador, a variedade da violência moral e física, a modalidade da alienação (…)” (2023, p. 149). O Estado da acumulação agrária é ao mesmo tempo uma resultante e um desses fatores relacionais.
Essa fronteira da escravidão contemporânea expressa nos inúmeros dados divulgados de trabalhadores cativos e martirizados na Amazônia constitui uma formação móvel como trata José de Souza Martins (2014, 2023), mas expressa uma necessidade sanguínea do capitalismo expansivo, cuja requisição de mãos e terra são imprescindíveis para a extração de excedente econômico, mesmo que não seja propriamente mais-valia enquanto forma moderna capitalista, mas se torna mais-valia realizável no intenso ciclo exportador de grãos, carne, minério. O período histórico recente das décadas de 1960 e 1980 foram marcantes pela presença de variada “violência moral e física” na região que como ressalta o autor “explica-se por procedimentos e cálculos propriamente capitalistas sob formas não capitalistas de exploração do trabalho” (2023, p. 138).
A construção de fronteira de degradação moral somente se deu pela ação planejada do Estado nacional, algo que tanto Martins, quanto Ianni reforçam pela presença de um “Estado agrário” que integra a técnica mais moderna ao arcaísmo do uso e devoção de sua missão de servidão ao capital mediado pelos controladores de terras, sendo que o agronegócio constitui a expressão mais acabada dessa fusão entre capital, Estado e latifúndio, cuja conformação se dá intelectual e materialmente no centro nervoso do Estado autoritário pós-1964.
Como observa José de Souza Martins (1986, p. 90): “o projeto histórico [da ditadura] [foi] a grande conciliação entre o capital e a propriedade fundiária para constituir a nova base do Estado nacional (…) pela incorporação da propriedade fundiária e da renda territorial como sócios de um desenvolvimento capitalista que é bem diferente do modelo clássico, inglês ou americano”. A Amazônia constitui uma condição territorial expansiva para essa forma de capitalismo, algo que se manifesta pela impossibilidade de uma modernidade não degradante, cujo fio condutor é não somente a espoliação humana, mas também a degradação ambiental.
A expansão do agronegócio é uma das marcas do atual padrão econômico nacional, centrado na especialização produtiva primário-exportadora e que tem com uma de suas bases as condições de exploração em larga escala de commodities agrícolas, cujo cálculo econômico requer o uso de ampla extensividade de terras agriculturáveis. O capitalismo se desenvolve em escalas crescentes de exploração de diversos espaços territoriais de reprodução, perfazendo uma dinâmica reprodutiva mundializada.
A Amazônia constitui o principal espaço de expansão da acumulação agrária de capital, um território que sofre uma reconfiguração econômica, social e ambiental acelerada, com efeitos em sua ocupação, espaço, uso da terra, valor, relações de trabalho e desagregação socioambiental. A renda da terra possibilita uma compreensão estrutural sobre dois fenômenos fundamentais: o vínculo entre a produção agrária e o controle da propriedade da terra e, por outro, a lógica de crescente ocupação do hinterland amazônico por “plantations”.
Assim o agronegócio constitui um “capital com dupla e contraditória função: a de produção de lucro e a de produtor de renda fundiária” (p. 157), o que torna o espaço amazônico um mercado de terras ideal para o rentismo, sendo que a “dupla função” que o agronegócio cumpre é fortalecida por uma agenda do Estado agrário que subsidia esse setor e impossibilita a necessária cobrança de tributos que poderia transferir valor para acumulação em outros setores produtivos.
Como nos lembra José de Souza Martins (2023, p. 137) o Estado brasileiro agiu doando terras ao grande capital, ao mesmo tempo que desapropriava a pequena produção e tornava a “grilagem” um mecanismo de acumulação por despossessão e de transferência de terras para grandes grupos fundiários. Os dados do Censo Agropecuário de 2017 denotam o reforço da lógica concentradora agrária, assim os estabelecimentos com áreas acima de mil hectares representavam no universo total em 2006 aproximadamente 0,92% dos 5,1 milhões de estabelecimentos, porém abocanhavam 45% da área total de 333,6 milhões de hectares. No Censo de 2017, esses latifúndios representavam 1,01% do universo de 5,07 milhões, porém controlando 47,6% da área total de 351, 2 milhões de hectares.[iii]
Não há como finalizar uma breve abordagem da questão agrária em José de Souza Martins sem abordar dois pontos convergentes da própria conformação anômala do capitalismo brasileiro: o campesinato e a questão da reforma agrária, sendo que podemos, a título de contribuição também assentar algumas teses evolutivas do campesinato brasileiro.
Em Os camponeses e a política no Brasil, José de Souza Martins (1986, p. 16) observa que “o nosso campesinato é constituído com a expansão capitalista, como produto das contradições dessa expansão”. Temos aqui, portanto, uma completa inversão da lógica clássica das formações europeias, onde o “campesinato é uma classe, não um estamento”, sendo uma formação social da atualidade do capitalismo subdesenvolvido brasileiro e não do seu passado, continuamente se refazendo e reorganizando suas formas de manifestação e enfrentamento.
Ao tratar da formação do campesinato brasileiro, José de Souza Martins (1986, p.39-44) observa que esse campesinato historicamente se forma no Brasil colonial sendo duplamente excluído: “da condição de proprietário de terras e da condição de escravo”. Diferentemente do que ocorreu nos EUA a forma como se estabelece o controle de terras no Brasil, desde a Lei de Terras de 1850 ficava “proibida a abertura de novas posses, estabelecendo que ficavam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não fosse o de compra”.
Assim, a burguesia escravocrata brasileira através do Estado oligárquico conformava um verdadeiro cerco a qualquer possibilidade de não escravos ou libertos de qualquer tipo se apropriassem de terras. A resultante desse processo foi variada formas de trabalhos de “agregados”, cumprindo atividades desde a derrubada da floresta até o preparo da terra. “O camponês incumbia-se da abertura de uma fazenda e implantação do cafezal em troca do direito de plantar entre os cafeeiros gêneros que necessitasse, como milho, arroz, feião, algodão”. Essa dinâmica caracterizará durante muito tempo o campesinato brasileiro “como produtores de gêneros alimentícios de consumo interno”. Diga-se até a atualidade, a agricultura familiar manterá grande relevância no fornecimento de alimentos da cesta básica dos trabalhadores brasileiros.[iv]
O campesinato se caracteriza pela produção de um excedente superior ao valor de reprodução familiar, algo que se estabelece como parte de uma economia mercantil simples, ou seja, a produção de mercadorias não aparece como uma condição reprodutiva obrigatória e sim como um excesso. Por mais que esse excedente seja apropriável como mercadoria no sistema que constitui a totalidade da economia mercantil capitalista, mas o centro dessa forma de reprodução social continua a se dar de forma comunitária ou familiar, o que constitui uma base de organização econômica e cultural diferenciada. A produção camponesa, mesmo destinada ao mercado, tem como lógica ouso da terra pelo trabalho e não a apropriação de lucro e renda fundiária.
A continuidade lógica da forma camponesa na sociedade brasileira se estabelece por cinco dimensões que se projetam socialmente e que podem, ao nosso ver, ser deduzidas das contribuições de José Souza Martins, sendo que o aprofundamento delas constitui uma excelente agenda de trabalhos: (i) a permanência de excedentes populacionais cuja única possibilidade de reprodução social e cultural se dá pela exploração da natureza (terra ou outras formas como rios e lagos).
(ii) Assim na medida em que o capitalismo subdesenvolvido brasileiro eleva sua composição orgânica de capital e aumenta a superpopulação relativa, isso induz novos contingentes a se tornarem camponeses, mesmo que a custa de diversos riscos, inclusive de existência, como demonstram os números da violência rural já citados.
(iii) a lógica cíclica do atual capital agrário exportador é semelhante aos processos anteriores, como as plantations de café e açúcar, apresentam limites dados pela substitutibilidade de novos espaços de plantio em diversas partes do planeta, assim como pelas diversas possibilidades de alterações tecnológicas, o que estabelecerá sua contração e crise, com nova disponibilidade de terras para uso camponês; (iv) o Estado agrário apresenta limites para sustentação da acumulação agrária, seja por possíveis pressões sociais, urbanas e rurais, seja pelo estancamento do ciclo agrário exportador, como acima exposto; (v) um componente novo colocado refere-se ao avanço da crise ambiental. A exemplo de outros países, a permanência de comunidades camponesas (indígenas, quilombolas e diversas) converge ao interesse da sociedade de garantir áreas de proteção e diversidade ambiental.
A reforma agrária tal como colocada nesta terceira década do XXI constitui “um problema social e político e só tem sentido proposto em escala social e política”. Com o avanço do modelo de especialização agrária exportadora e frente aos atuais conflitos da sociedade brasileira, se coloca como parte do fazer história mais do que nunca o reestabelecimento de uma agenda nacional que coloque novamente no centro de sua construção a democratização do direito a terra. Libertar o povo brasileiro do cativeiro da terra parece ser a grande missão de qualquer radicalidade moderna.
*José Raimundo Trindade é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Autor, entre outros livros, de Agenda de debates e desafios teóricos: a trajetória da dependência e os limites do capitalismo periférico brasileiro e seus condicionantes regionais (Paka-Tatu).
Referências
DELGADO, Guilherme C. A questão agrária no Brasil, 1950-2003. In: JACCOUD, Luciana (Organizadora). Questão Social e Políticas sociais no Brasil contemporâneo. Brasília: IPEA, 2005.
José de Souza Martins. A reforma agrária e os limites da democracia na “Nova República”. São Paulo: Hucitec, 1986.
José de Souza Martins. Capitalismo e escravidão na sociedade pós-escravista. São Paulo: Editora Unesp, 2023.
José de Souza Martins. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Contexto, 2014.
José de Souza Martins. O cativeiro da terra. São Paulo: Contexto, 2010.
José de Souza Martins. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1981.
MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência (A). In: SADER, E. Dialética da Dependência. 1ª edição. Petrópolis: Vozes, 2000.
MARX, K. [1894]. O Capital: crítica da economia política, Livro III: o processo global da produção capitalista. São Paulo: Boitempo, 2017.
Octavio Ianni. Origens Agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 2004.
TRINDADE, J. R. B. e FERRAZ, L. P. Acumulação por espoliação e atividade agropecuária na Amazônia brasileira. In: Revista da SEP, n°. 67 (2023), acesso em: https://revistasep.org.br/index.php/SEP/article/view/1051.
Notas
[i] Poema de camponesa de Imperatriz no Maranhão.
[ii] Conferir CPT (2024). Sobre o mapa de Conflitos no campo Brasil 2023 acessar: https://www.cptnacional.org.br/downlods?task=download.send&id=14308:conflitos-no-campo-brasil-2023&catid=41
[iii] Censo Agropecuário do IBGE (2006, 2017). Dados disponíveis em: https://sidra.ibge.gov.br/acervo#/S/CA/A/Q
[iv] Os dados para comparar a agricultura camponesa com a empresarial são bastante desencontrados, mas se utilizarmos estudo realizado pela Embrapa e divulgado no site desta instituição, veremos o relevante peso da agricultura familiar (ou campesina) na formação da base alimentar brasileira, respondendo por quase um quarto (23%) da produção de feijão e quase 70% da produção de mandioca, além de arroz (10,9%), trigo (18,4%) e mais de dois terços das hortaliças. Conferir: Embrapa (2020), acesso: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/55609579/artigo—qual-e-a-participacao-da-agricultura-familiar-na-producao-de-alimentos-no-brasil-e-em-rondonia
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA