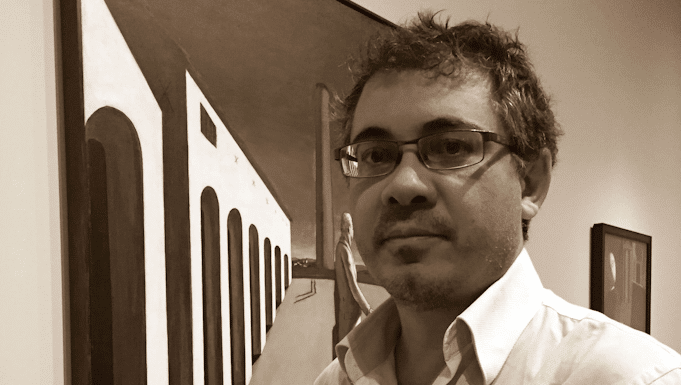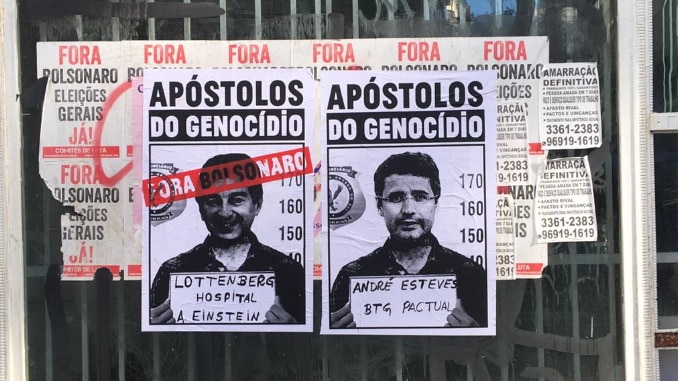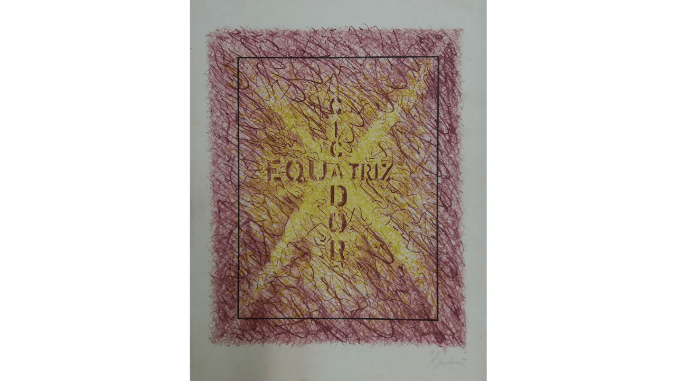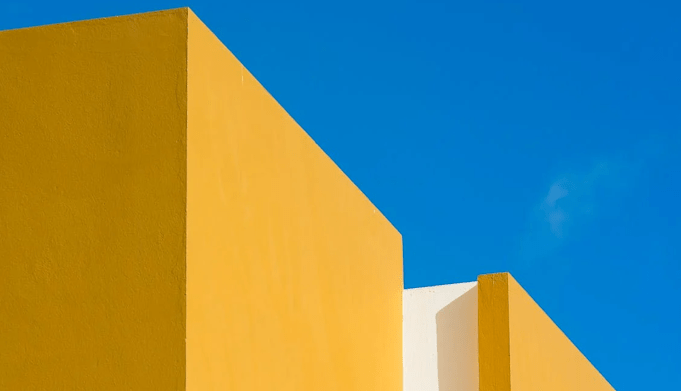Por HOMERO SANTIAGO*
Comentário sobre o livro de Georges Orwell, Dias na Birmânia
“Trata-se de uma necessidade política. Claro que é o álcool que mantém essa máquina em funcionamento. Não fosse por ele, todos enlouqueceríamos e sairíamos matando uns aos outros em uma semana. Eis aí um bom tema para os seus elevados ensaístas, doutor. O álcool como o cimento do Império.”[i]
1.
Georges Orwell nasce na Birmânia e ainda pequeno vai para a Inglaterra; forma-se numa das mais conceituadas escolas do país, graças a uma bolsa de estudos. Diplomado, em vez de seguir o caminho natural da universidade, decide retornar às Índias e presta o concurso para o oficialato da polícia imperial. Ele fica na Birmânia por cinco anos, até que em 1927, de licença na Inglaterra, resolve exonerar-se do posto e tornar-se escritor.
A experiência no Oriente fornece a matéria-prima de seu primeiro romance, Dias na Birmânia, terminado em 1933 e publicado no ano seguinte, bem como de outros textos do jovem Orwell, que passou assim a ocupar um capítulo relevante nesse ramo das letras britânicas que é a literatura anglo-indiana.[ii]
O enredo é razoavelmente simples e não custa pincelá-lo aqui. Num pequeno vilarejo birmanês, a vida gira em torno do clube inglês. Flory, empregado numa madeireira, sofre a amargura de uma vida dissoluta e solitária, corrompida pela mentira; ele odeia os seus pares europeus, abomina o imperialismo, mas precisa calar as próprias opiniões; tem como único amigo o médico local nativo, cuja destruição é desejada por um juiz corrupto também nativo.
Flory conhece Elizabeth e sonha em casar-se com ela, superando a solidão; os gênios são incompatíveis, porém: ao passo que ele realmente admira a Birmânia e os birmaneses, Elizabeth se horripila com a simples ideia de convivência com os locais. O protagonista torna-se vítima do plano que visa destruir a reputação de seu amigo médico e, finalmente, vê seu plano de casamento evaporar; desesperado pela perspectiva de continuar a mesma vida modorrenta, suicida-se.
Com muita frequência, o romance de estreia de Georges Orwell é considerado um livro literariamente mal resolvido e, sobretudo, um fracasso político. Pelo momento, salientemos esse segundo aspecto. A tese da falha política descansa num pressuposto que é mais ou menos o seguinte: ao ficcionar a sua experiência birmanesa, Georges Orwell teria desejado produzir algo como uma denúncia do imperialismo britânico; é precisamente como tal o trabalho malogra.
Se o imperialismo e os imperialistas são diabolizados por Flory, somente o são na medida em que acarretam o sofrimento psíquico do jovem que descobriu a falta de sentido de uma vida regada a uísque e cercada de serviçais e prostitutas; o ódio ao Império confunde-se ao ódio a si mesmo, a ponto de produzir efeitos literários duvidosos, como quando o protagonista se estapeia, xinga-se, o desejo de purga tomando ares de pastelão: “Patife, patife covarde […] Covarde, vagabundo, bêbado, fornicador, patife cheio de autopiedade!” (p. 78).
Como mais de um estudioso observou, politicamente isso não vai longe; a crítica ao imperialismo vira o drama psicológico cindido entre duas culturas, desajustado a ambas, desdourado pela frustração dos sonhos juvenis, manchado pelo destino, que se emblema por “uma horrível marca de nascença que se espalhava, na forma aproximada de uma meia-lua irregular, pela face esquerda, do olho ao canto da boca” (p. 24).[iii] Para piorar, como amiúde notado, chama a atenção a quase completa ausência de um ponto de vista nativo na obra.
A ação gira em torno do clube inglês, as paisagens, os acontecimentos, as atitudes, são-nos apresentados pelo prisma do colonizador; não existiria análise da psicologia dos birmaneses, praticamente inexistem menções aos movimentos de resistência à colonização que à época já eram vigorosos – um aspecto que ressalta tanto mais se cotejarmos Dias na Birmânia e Uma passagem para a Índia, obra de E. M. Forster publicada dez anos antes e centrada na tensão entre ingleses e indianos.
Quer parecer-nos que o problema geral de avaliações desse tipo e a identificação dos pretensos “defeitos” da obra dependem do pressuposto há pouco mencionado, segundo o qual, reiteremos, Dias na Birmânia destinava-se a constituir uma denúncia do imperialismo, um libelo anticolonial. Ora, é exatamente essa premissa que não nos convence.
A pretensão da narrativa não é compor o relato do sofrimento psíquico de um jovem anglo-indiano nem constitui um dossiê sobre as perversidades e mazelas do imperialismo; ainda que surja aqui e ali, isso não constitui a essência da obra; e arriscamos mesmo ajuizar que, se o fosse, o romance teria pouco interesse, não mais que o da chuva caída no molhado, hoje que a condenação in toto do imperialismo e do colonialismo tornou-se uma opinião mais ou menos consensual.
Frisemos bem o nosso entendimento: a intenção de Georges Orwell foi apresentar, em forma romanesca, a sua descoberta do despotismo colonial; no limite, elaborar literariamente a compreensão da natureza ou essência do imperialismo, seu funcionamento e seus efeitos. Esse aspecto cognitivo do romance emerge diretamente da capacidade orwelliana de refletir sobre a própria experiência, sem dúvida, mas trabalhando-a, desfiando-lhe os nós escondidos e elevando-se por fim à compreensão da natureza do sistema que a determinou.
É um aspecto bem indicado pelo escritor, ao relatar a sua estada na colônia: “o trabalho na Birmânia me dera um entendimento da natureza do imperialismo”; ou então, ao reconhecer a importância de “um incidente insignificante” que lhe dera “uma ideia melhor da verdadeira natureza do imperialismo – dos verdadeiros motivos pelos quais governos despóticos agem”.[iv] É por isso que não tem o menor cabimento psicologizar, fulanizar banalmente o relato; Flory sofre, mas o sofrimento vem de uma ferida aberta pelo aprendizado: “foi percebendo a verdade sobre os ingleses e seu Império”, compreendendo que “o Império Indiano era um regime despótico” (p. 85).
A verdade que se vai desvelando ao protagonista é irredutível à sua psiquê, pois “puxa” à tona toda uma estrutura de poder e com ela entronca, introduzindo-nos no universo do imperialismo. De um jeito que só a boa literatura (a que está longe de ser simplesmente mal resolvida) consegue fazer.
Nem drama psicológico de tintas autobiográficas nem libelo anticolonial, Dias na Birmânia funciona como uma espécie de estudo do que seja o imperialismo britânico, a saber, um sistema baseado na mentira. Nesse sentido, o afã naturalista – e reconhecemos a sua presença nas longas e detalhadas descrições da vegetação, da fauna, dos tipos humanos locais – deve ceder espaço ao esforço de desvendar o assunto, um pouco como num texto geométrico o distanciamento do dado ajuda a melhor entender as suas condições.
Com isso, descobrimos que o imperialismo britânico é um sistema da mentira porque esta o constitui; é o seu elemento universal (presente em todos os seus meandros) e único capaz de manter em bom funcionamento a máquina imperial, impondo-se sobre colonizadores e colonizados, a colônia e a metrópole, e dispensando inclusive o recurso à força bruta – o exército está lá como mera caução, o ideal é jamais usá-lo. A dominação é tanto mais eficaz quanto mais suave e adocicada,[v] por obra da mentira que agrada, entorpece e embriaga… como um, vários drinques. No plano literário, a figuração desse elemento que domina e mantem o domínio, constituindo a essência do imperialismo, é o álcool.
2.
“Apesar de todo o uísque que tomou no Clube, Flory dormiu pouco naquela noite.” (p. 77) Eis o revelador início do capítulo que reconstitui a trajetória de Flory, desde a chegada à Birmânia, aos 19 anos, passando pela esbórnia de bebedeiras e prostitutas, o envelhecimento precoce, o paulatino estrago no espírito causado pela insinceridade e solidão, o ódio dirigido aos compatriotas e ao Império. “É um mundo sem ar, estupidificante”, no qual “cada homem branco é mais um dente da engrenagem do despotismo”.
Ao final de algum tempo, o esforço para manter sua revolta em silêncio acaba por envenená-lo como uma doença secreta. Toda a sua vida se transforma numa vida de mentiras. Ano após ano você frequenta os pequenos Clubes assombrados por Kipling, copo de uísque à direita, o último número do Financial Times à sua esquerda. (p. 86)
Essa passagem capital nos remete ao centro de inteligibilidade de Dias na Birmânia: a tríade do imperialismo, que merece uma consideração detida.
O enredo do livro gira em torno do Clube Europeu e isso não é nem um pouco casual. Na Índias britânicas, cada vilarejo tem o seu clube; no conjunto, formam uma das instituições centrais da vida dos anglo-indianos, um dos poucos lugares onde podem realmente sentir-se em casa, ingleses entre ingleses, como sugerem, ler as últimas notícias e debater os grandes temas da metrópole. “Fortaleza inexpugnável”, “cidadela espiritual”, para usar palavras de Georges Orwell, o clube é uma instituição política única, pois faz as vezes de esfera pública nas colônias, o único espaço de convivência que não era nem criado nem administrado pelo Serviço Imperial ou pelo exército.[vi]
Esses clubes, frequentados por anos a fio, pelo menos assim nos é contado, são assombrados pela figura de Rudyard Kipling, o mais famoso autor inglês da virada do século XIX ao XX, vencedor do Nobel de literatura de 1907; maior expoente da “literatura colonial”, “o profeta do imperialismo britânico em sua fase expansionista”, na definição que Georges Orwell lhe dá alhures.[vii] Como nenhum outro, o excepcional criador dos Livros da selva e de Mowgli soube forjar com sua obra um ideário para o imperialismo, representando-o à guisa de empreendimento civilizatório em que os esforços filantrópicos dos “brancos” são testados nos limites da benfazeja abnegação.
Tomai o fardo do Homem Branco –
Envia teus melhores filhos
Vão, condenem seus filhos ao exílio
Para servirem aos seus cativos;
Para esperar, com arreios
Com agitadores e selváticos
Seus cativos, servos obstinados
Metade demônio, metade criança.[viii]
Lidos por olhos hodiernos, esses versos da primeira estrofe do mais famoso poema de Rudyard Kipling, já nem soam horripilantes, apenas exalam a mais ridícula desfaçatez. Acontece que o nosso atual desprezo não muda em nada o significado e a força de uma peça que, graças ao talento de seu autor (que o lobinho imperialista Mowgli ainda nos entretenha é índice seguro desse talento), desempenhou ao seu tempo papel fundamental na difusão de certa visão do imperialismo, conquistando para a causa uma legião de corações bem-intencionados.
Rudyard Kipling era cultuado nos altares dos clubes ingleses na Índia, ele que se confessava grande tributário dessas instituições,[ix] pela mesma razão que fazia as vezes de “deus lar (household god)” em cada casa de classe média, especialmente as anglo-indianas,[x] e conhecia um prestígio sem igual entre os militares britânicos nas colônias;[xi] cultor declarado das tradições e da ordem social, da hierarquia entre as raças e as classes sociais – meus “vícios imperialistas”, que adoram criticar a cada publicação minha, como jocosamente assumiu;[xii] esse campeão do status quo foi o “profeta” do expansionismo britânico pela boa razão de ter oferecido à empresa colonial aquilo sem o que, irremediavelmente, ela não passaria de roubo puro e simples.
Numa palavra, Rudyard Kipling deu ao imperialismo uma ideia.[xiii] Uma noção, uma compreensão que evite as dúvidas, compense os sacrifícios e guie com firmeza as ações, justificando-as, inclusive as mais brutais, pelos seus fins mais nobres, a saber, elevar à civilização as grandes faixas do planeta em que grassa a selvageria e a gente “metade demônio, metade criança” que vive, ou antes sobrevive à margem do progresso.
Rudyard Kipling é o genial elaborador do “imperialismo-ideia”, que de uma forma ou de outra precisa estar inculcado na cabeça de cada anglo-indiano e de cada nativo para que o sistema colonial funcione bem, com a devida suavidade e sem carecer de armas. É mais do que justo, pois, seu lugar de honra em cada clube inglês no Oriente, tal como descrito por Georges Orwell.
O segundo constituinte da tríade do imperialismo é o lucro, os negócios inequivocamente simbolizados pelo Financial Times, o “mensageiro” da City londrina, fundado em 1888, no auge do Império Britânico. Constatado isso, porém, uma questão é imediata: como conciliar o altruísmo, a ideia, e a pilhagem, o roubo, o lucro, os negócios coloniais, em suma? O problema não é pequeno nem pode ser deixado para lá.
A associação entre lucro e esforço filantrópico é uma exigência maior presente já no documento que se considera a certidão de nascença do imperialismo moderno: a ata da Conferência de Berlim de 1885, que reúne 14 países (além de europeus, EUA e Império Otomano) para negociar e oficializar a partilha da África subsaariana; sem os esforços conciliatórios, corria-se o risco de repetir, em pleno século XIX, o barbarismo criminoso dos romanos, aos quais justamente a ideia, o ideal que crava a diferença entre a mera pilhagem e o altruísmo civilizatório.[xiv]
Na capital alemã, o principal ponto em discussão é o Congo, que acaba cedido à Bélgica em troca da liberdade de navegação pelos rios e lagos da região, facilitando assim imensamente os negócios. Poderia, contudo, ser essa a justificativa única para o esforço colonial? De modo algum. Os signatários da referida ata afirmam se terem reunido “em nome de Deus todo-poderoso” no intuito de estabelecer “as condições mais favoráveis ao desenvolvimento do comércio e da civilização em certas regiões da África”, pois sinceramente “preocupados ao mesmo tempo com os meios de crescimentos do bem-estar moral e material das populações aborígines”.[xv]
Caso o leitor se sinta impelido ao riso, é bom conter-se. Apesar do que canta Tim Maia (“quando a gente ama / não pensa em dinheiro”), está longe de ser impossível a conciliação amorosa entre o livre-comércio e a filantropia no seu sentido etimológico mais alto de amor à humanidade. Os negócios existem e os ganhos são desejáveis, talvez inevitáveis, pois são eles que financiam o empreendimento humanitário.
Trata-se de uma lógica virtuosa cujos fundamentos são explicados candidamente pelo doutor Veraswami, indiano, a Flory, seu amigo inglês: “Enquanto os empresários ingleses desenvolvem os recursos do nosso país, os funcionários do governo britânico nos civilizam, nos elevam ao nível deles, por puro espírito público. É uma história magnífica de autossacrifício”. (p. 52)
O ideal encontra no material as suas condições de realização, ao passo que os negócios revestem-se da nobreza do altruísmo. É um perfeito ganha-ganha. Cada madeireiro na Alta Birmânia que põe abaixo uma árvore pode estar certo que o faz por excelentes razões; não fosse assim, as florestas restariam intocadas, sem proporcionar à população nativa os auspiciosos ganhos civilizatórios que só o interesse comercial possibilita – estradas, ferrovias, hospitais, cadeias, “a lei e a ordem”, “a inabalável Justiça Britânica, a Pax Britannica”, completa o doutor Veraswami (p. 53). Em suma, o imperialismo-ideia definitivamente redime o que podemos denominar “o imperialismo-lucro”.
Se aquele leitor a que há pouco pedimos conter o riso retrucar que tudo não passa de estória para boi dormir, só uma enfiada de mentiras, não o refutaremos; tendemos a concordar com o diagnóstico, até porque é o próprio protagonista de Dias da Birmânia que esbraveja várias vezes contra “a mentira de que só estamos aqui para melhorar a vida dos nossos pobres irmãozinhos negros, e não para roubar o que eles possuem” (p. 51).[xvi]
Sem embargo, melhor é desapressar o andor que porta julgamentos fáceis. Convenhamos que a união virtuosa entre o bem-estar humano e o comércio não é mais aberrante que Mowgli, e pelo sim pelo não ainda é moeda corrente: não se vê privatização ou concessão de patrimônio público, até de um bem comum como a água, que não se alegue vir em “benefício” das populações; no inferno do capital – e o imperialismo é um estágio do capitalismo, ensinou Lênin – nada se faz sem a vênia das boas intenções.
Quem desconsiderar a ideia, sentir-se-á pecando por venalidade; quem menosprezar o lucro, recairá no limbo do idealismo bobo. Atenção! Os problemas só surgem quando esquecemos uma das pontas. Pelo contrário, as coisas precisam andar juntas, absolutamente combinadas, para que o sistema funcione com perfeição, na medida em que se possa nele acreditar. Ora, a responsabilidade por não nos deixar incorrer nesse erro toca ao último elemento da tríade: o uísque, o genuíno azeite da máquina imperial.
Somente o imperialismo-uísque (certo que se bebe também cerveja, gim, conhaque; apenas tomamos pro toto a pars mais significativa) é capaz de cimentar a união, praticamente identificando – à guisa da “misteriosa identidade entre cinco e quatro”, para usar uma expressiva imagem de 1984[xvii] – o lucro e a ideia, a pilhagem e a civilização. Mal comparando, como Descartes disse certa vez que a união substancial, teoricamente inconcebível, torna-se razoável desde que não pensemos nela e somente a vivenciemos, pode-se dizer que basta bebermos para que o imperialismo esbanje coerência e altivez, surgindo à guisa de maravilhoso arranjo histórico-político-cultural.
Conviver, beber: “trata-se de uma “necessidade política”, explica Flory, pois é “claro que é o álcool que mantém essa máquina em funcionamento” (p. 50). E efetivamente, em Dias na Birmânia, bebe-se muito e a toda hora, antes do café da manhã, após o almoço, ao fim da jornada comercial, durante o jantar, antes de dormir; bebe-se para suportar o calor e a vida no exílio indiano, bebe-se sobretudo para acreditar.
É revelador que o copo de uísque, no quadro que nos dá a tríade do sistema, ocupe o nobre lado direito, simbolizando, muito cristãmente, a misteriosa extensão do poder de Deus-pai, num caso de quase substituição. “Que civilização a nossa, uma civilização sem Deus, baseada no uísque”! (p. 42). O álcool ocupa esse lugar de destaque porque remete ao problema central da crença na mentira que sustenta o sistema. Como modelo compreensivo, vale por seus efeitos: a percepção alterada, a mente turbada, o entorpecimento que fomenta a credulidade.
Daí a sua máxima importância, merecendo ser dito o “cimento” do Império. O imperialismo-uísque tem prioridade sobre os demais porque, sem este, aqueles são inócuos. O que seria uma mentira que não fosse acreditada por ninguém? Um artifício espúrio que não funciona, senão à base da coerção. Ora, o álcool docemente insufla a crença sincera no que é, literalmente, incrível; assenta-se desse modo na base de uma mentira sistêmica e anônima que, contas feitas, prescinde até de mentirosos ou pessoas deliberadamente mentirosas.
O bêbado não mente quando conta as suas lorotas nem falha nos gestos mais simples, pois ele acredita no que fala, acredita francamente no que vê, e quem acredita numa ilusão acredita verdadeiramente; logo, está longe de ser um mentiroso ou um ilusionista; ainda que a ilusão, a percepção deturpada, a mentira, se se quiser, realmente existam. Em Dias da Birmânia o imperialismo-uísque nos dá a figuração literária do modo de compreender um sistema da mentira peculiar, pois que aparentemente não carece de mentirosos, podendo ser ampla e sinceramente acreditado, tanto por colonizados quanto por colonizadores.
Um exemplo é suficiente para demonstrar esse aspecto. Em certa passagem, Ellis – um inglês troglodita que despreza e odeia visceralmente os nativos – é ou sente-se provocado por alguns estudantes birmaneses; ato contínuo, agride-os, e com um golpe de bengala cega um dos meninos; em revide, os jovens o atacam em bloco, até que ele salvo por seus empregados. Não é claro no texto do romance em que medida a hostilidade partiu dos estudantes ou Ellis é que assim imaginou, afinal era o que esperava, o que desejava para externar o seu ódio. O fato é que em seguida, na delegacia, a versão do inglês (ter sido gratuitamente atacado) será sustentada pelos criados que isentam o patrão e culpam os estudantes.
Nisso vem o cirúrgico comentário do narrador: “é provável que Ellis, justiça seja feita, acreditasse que essa era a versão verdadeira dos fatos” (p. 298). Eis o ponto: se Dias na Birmânia é mais que um mero dossiê de maldades imperialistas, é porque Orwell conseguiu compreender e figurar literariamente que ali interessavam bem menos os fatos nus que as coisas conforme percebidas e acreditadas por pessoas como Ellis; rigorosamente, ele não está mentindo, pois acredita de verdade na mentira, e isso basta para justificar os seus atos, todos eles.[xviii]
Uma mentira desacreditada de nada vale; por isso os meios de acreditação do falso são fundamentais para a consolidação de um sistema da mentira. No caso de Dias da Birmânia, a investigação desse aspecto passa, prioritariamente, pela análise das relações entre os principais personagens do romance e a substância etílica onipresente, ou seja, as entranhas mesmas do imperialismo-uísque e como ele azeita, enleva e acredita o imperialismo-ideia e o imperialismo-lucro. Daí surge variegado quadro das maneiras como, sob o imperialismo, vive-se, sofre-se e faz-se sofrer, colonizadores e colonizados. Sem pretender à exaustividade, esbocemos desse quadro apenas o necessário para compreender, despsicologizando na medida em que politizamos, a triste sina do protagonista.
Foi já observado que o clube europeu é o centro da narrativa; ora acrescentemos: também é, of course, o centro de recepção e consumo de bebidas, onde os sócios encontram o cobiçado gelo (o que pode representar melhor o brio, o engenho, a exclusividade do cidadão inglês, que o esforço sobre-humano de preservar-se “gelado” no calor birmanês!). Mais que espiritual, ou por isso mesmo, o clube é uma cidadela etílica ambiente em que o estado de constante embriaguez ecoa o ideário imperial, a ideia, ao mesmo tempo que todos se empenham quanto podem em lucrar. Os britânicos destarte vivem tranquilamente, tão entorpecidos quanto Ellis. A não ser quando o álcool deixa de gerar seu efeito lenitivo. É toda a desgraça de Flory.
Após a compreensão da “natureza do inferno reservado aos anglo-indianos” (p. 89), isto é, uma vida afundada na mentira sistêmica, o que resta a Flory é beber. Em grande quantidade e o tempo todo. Quando o criado lhe traz certo dia o café da manhã, ele é direto: “Não quero comer nada. Leve de volta essa porcaria e me traga um uísque.” (p. 65) É a maneira de sentir-se melhor e suportar os dias. Os problemas se intensificam conforme a bebida começa a mostrar limites. Retomemos o início do quinto capítulo de Dias na Birmânia, acima referido: apesar de todo o uísque, Flory não consegue dormir. Da mesma forma, após uma queda do cavalo, recolhe-se a casa e pede uma garrafa de uísque, a qual todavia “não lhe caiu bem” (p. 270).
Antes de comparecer ao clube na expectativa de enfrentar uma discussão difícil, “ele tomava gim o tempo todo, mas nem mesmo a bebida agora o distraía” (p. 276). Flory descrê do sistema, não consegue (embora o quisesse muito) crer na ideia, e assim a vida se lhe torna insuportável; a descrença, a covardia, a frustração dos planos de casamento; sem o alívio do álcool, o suicídio faz-se inevitável.[xix]
É o seu fado, é o destino de cada anglo-indiano que, em estado de forçada sobriedade, é obrigado a encarar a si mesmo e o sistema de que constitui uma peça. Na ausência dos efeitos amortecedores do álcool, o horror se irradia; a fonte desse horror é o império, mas a ponta mais próxima e concreta desse maldito império é si mesmo, tornando grande a tentação de dar cabo dela para aliviar o sofrimento, matar-se como Flory.[xx]
*Homero Santiago é professor no Departamento de Filosofia da USP.
Referência
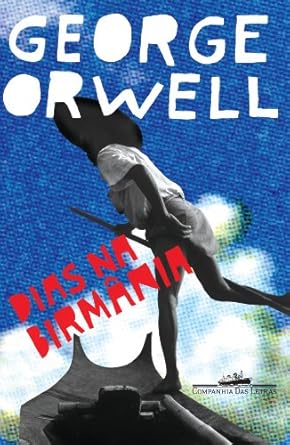
Georges Orwell, Dias na Birmânia. Tradução: Sergio Flaksman. São Paulo, Companhia das Letras, 2018, 360 págs. [https://amzn.to/4ijMaVI]
Notas
[i] Georges Orwell, Dias na Birmânia, São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 50. Todas as referências de página sem outra indicação remeterão a esse volume.
[ii] Convém esclarecer que o termo “anglo-indiano” refere-se aos ingleses (e britânicos em geral) que faziam a vida nas Índias britânicas, ou no Serviço Imperial ou em negócios privados. A fórmula, pois, nada tem a ver com mestiçagem; pelo contrário remete a uma cultura orgulhosa de servir à metrópole nas mais inóspitas condições preservando a sua pureza de sangue e de caráter; o lema anglo-indiano por excelência, como nos ensina Orwell pela boca de seu protagonista, tudo diz: “Na Índia, como os ingleses” (p. 181).
[iii] Para ficar num só exemplo desse tipo de leitura, um ótimo crítico de Orwell como Raymond Williams (Orwell, Londres, Flamingo, 1984, p. 9) lê a crise do protagonista de Dias da Birmânia como a do próprio autor do romance, anti-imperialista e oficial da polícia imperial: “Em teoria, diz, era totalmente a favor dos birmaneses e totalmente contra os seus opressores britânicos. Na prática, a um só tempo era contra o trabalho sujo do imperialismo e nele estava envolvido.”
[iv] Respectivamente, “Por que escrevo”, Dentro da Baleia, São Paulo, Companhia das Letras, p. 26; “O abate de um elefante”, no mesmo volume, p. 61.
[v] “Os nativos chamam o sistema britânico de Sakar ki Churi, a faca de açúcar. Isto é, não há opressão, é tudo suave e doce, mas é uma faca, ainda assim.” Essas palavras de Dadabhai Naoroji (1825-1917), o “grande ancião da Índia”, são citadas por Sandra Guardini Vasconcelos em seu prefácio ao livro de E. M. Forster, Uma passagem para a Índia, São Paulo, Globo, 2005, p. 9. Uma dominação que age, parece-nos, mediante o que o artista filipino Kidlat Tahimik chamou de “spams”, em sua formidável instalação na Bienal de Arte de São Paulo de 2023: Killing us softly… with their SPAMS… (Songs, Prayers, Alphabets, Movies, Superheroes…). Tomamos a liberdade de remeter a um texto nosso sobre a obra: “O apocalipse será instagramado?”, em: https://revistainspirec.com.br/o-apocalipse-sera-instagramado/
[vi] Em geral, cf. M. Sinha, “Britishness clubbability, and the colonial public sphere”, Journal of British Studies, 40/4, 2001.
[vii] “Rudyard Kipling”, em My country right of left, 1940-1943, Nova York, Harcourt, 1968, p. 168.
[viii] Kipling, O fardo do homem branco; disponível em: https://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/KIPLING%20O%20Fardo%20do%20Homem%20Branco.pdf
[ix] Recordando a sua juventude, pondera: o clube “constituía para mim a totalidade do mundo exterior”; “as circunstâncias de minha vida me tornaram fortemente tributário dos clubes com vista a meu bem-estar espiritual” (Kipling, “Quelques mots sur moi”, em Œuvres, IV, Paris, Gallimard, 2001, pp. 995, 1055).
[x] Orwell, “[On Kipling’s death]”, em An age like this, 1920-1940, Nova York, Harcourt, 1968, p. 159.
[xi] Cf. Kipling, “Quelques mots sur moi”, ob. cit., p. 1059.
[xii] Idem, p. 1099.
[xiii] Empregamos aqui o termo ideia com o sentido presente nesta passagem de Coração das trevas de Joseph Conrad: “A conquista da terra, que antes de mais nada significa tomá-la dos que têm a pele de outra cor ou o nariz um pouco mais chato que o nosso, nunca é uma coisa bonita quando a examinamos bem de perto. Só o que redime a conquista é a ideia. Uma ideia por trás de tudo; não uma impostura sentimental mas uma ideia; e uma crença altruísta na ideia – uma coisa que possamos pôr no alto, frente à qual possamos nos curvar e oferecer sacrifícios…” (São Paulo, Companhia das Letras, 2008, p. 15).
[xiv] Ainda Conrad (ob. cit., pp. 14-15): os romanos “não eram colonos […] Eles se apoderavam de tudo o que podiam, sempre que tinham a oportunidade. Era simples roubo, assalto à mão armada, latrocínio numa escala grandiosa, e esses homens o praticavam cegamente – como convém a quem investe contra as trevas.”
[xv] A ata do encontro berlinense está disponível em: https://mamapress.files.wordpress.com/2013/12/conf_berlim.pdf
[xvi] Novamente, vale a pena uma contextualização lexical: chamar um indiano de “negro” é um insulto descomunal, pois significa igualá-lo a um subsaariano; tanto que, por boa política, o Serviço Imperial proíbe o uso da expressão. Como explica o Sr. Macgregor, personagem que exprime a posição oficial do Império, “os birmaneses são mongóis, os indianos são arianos ou dravidianos, e todos eles são muitíssimo diferentes dos…” (p. 39). A palavra proibida fica suspensa no ar.
[xvii] Orwell, 1984, São Paulo, Companhia das Letras, 2021, p. 304.
[xviii] Esse aspecto de crença “sincera” na mentira, Orwell também o identifica ao tratar das falsificações que, na União Soviética stalinista, armaram-se contra Trótski. Quando levamos em conta a sofisticação desses expedientes, argumenta, “não dá para achar que os responsáveis estavam apenas mentindo. O mais provável é estarem convictos de que a versão deles efetivamente ocorreu aos olhos de Deus, justificando o rearranjo dos documentos nesse sentido.” (Sobre a verdade, São Paulo, Companhia das Letras, 2020, p.127)
[xix] É deveras interessante um cotejo entre a relação com álcool de Flory e a de Winston Smith em 1984. Este a certo momento deixa de beber gim porque “o processo de viver deixara de ser intolerável”; ao final, após a conversão forçada a que é submetido, volta a beber: “Era a sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o gim que todas as noites o fazia mergulhar no estupor, e era o gim que todas as manhãs o reanimava.” (1984, ob.cit., pp. 200, 347)
[xx] Ou então enlouquecer, como o Kurtz de Coração das trevas, o que também é uma maneira de responder ao horror produzido pelo sistema imperial tão logo despertemos para os aspectos recônditos de sua estrutura e de seu funcionamento.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA