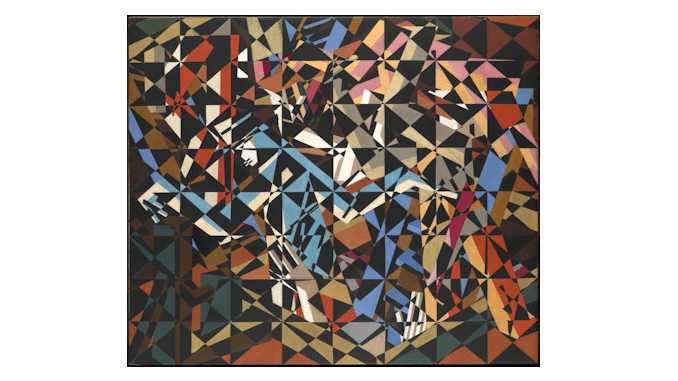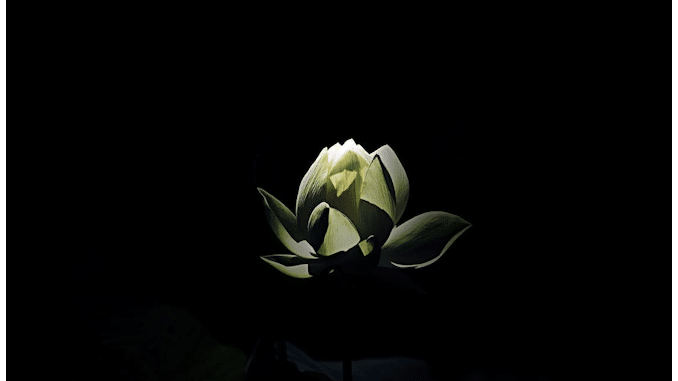Por ALEXANDRE JULIETE ROSA*
Considerações sobre o livro recém-lançado no Brasil de B. Traven
“Um navio da morte, yes, Sir! Há navios-caixões onde se morre lá dentro, e há navios-caixões onde se morre do lado de fora, e existem aqueles em que se morre em todos os lugares. O Yorikke era tudo isso, era um navio da morte notável” (B. Traven. O Navio da morte , p. 171).
1.
Há uma sombra de mistério que envolve a biografia daquele que assinava seus livros por B. Traven. No entanto, como o próprio Traven desabafou certa vez, cansado de ser incomodado por investigadores quase paparazziz, “a biografia do homem criativo carece por completo de importância. Não reconhecer o homem através de sua obra significa que ou ele ou sua obra não valem nada. Por isso, o homem criativo não deve ter outra biografia senão sua obra. É nela que expõe sua personalidade e sua vida à crítica dos demais”.[i]
Isso não impediu que grandes empreendimentos fossem criados para a elucidação daquele que foi considerado um dos maiores enigmas literários do século XX. A curiosidade quase insana em relação à biografia de B. Traven resultou em algumas linhas gerais acerca de sua vida.
B. Traven foi identificado como sendo o ator e jornalista anarquista Ret Marut. Tal hipótese surgiu em fins dos anos 1920, após a publicação, na Alemanha, de três obras assinadas por B. Traven: O navio da morte (1926), Os catadores de algodão (1926) e O tesouro de Sierra Madre (1927). Os livros foram publicados pela editora Büchergilde Gutemberg e logo despertaram a atenção do público leitor, principalmente dos intelectuais ligados às atividades revolucionárias, “que ao lerem Traven o identificaram como sendo o antigo camarada ácrata Ret Marut.”[ii]
Muitos pesquisadores seguiram essa pista na tentativa de elucidar o enigma, mas tal ligação sempre foi negada por Traven até o último dia de sua vida. No leito de morte ele teria confessado à sua esposa e tradutora, Rosa Elena Lujan, que era realmente Ret Murat, o anarquista bávaro.
O problema é que Ret Marut muito provavelmente também era um pseudônimo, ou até mesmo um nome falso. E o que se sabe sobre Marut é limitado, vago e misterioso: “Embora seja claro que ambos os nomes foram usados pelo mesmo homem, a identificação definitiva de Traven com Marut pouco fez para nos aproximarmos da verdade sobre Traven.”[iii]
O artigo de James Goldwasser reconstrói o período da vida de Ret Marut/B. Traven como artista de teatro, militante anarquista, diretor e articulista do jornal Der Ziegelbrenner (O Oleiro), participante do movimento revolucionário que instaurou a República dos Conselheiros da Baviera (1918-19) e, por fim, como fugitivo político e andarilho por vários países, até conseguir escapulir para o México, provavelmente entre 1923-24, onde adotaria o nome de B. Traven.[iv]
Sua vida no México, no entanto, não foi tão obscura. Ele apenas continuou exercendo sua obstinada reserva em relação à exposição pública e a negar suas pretensas identidades do passado: “o mistério em torno da sua vida literária e privada raramente nos afetou” – escreveu sua esposa e tradutora, Rosa Elena Lujan – “pois tínhamos o nosso próprio ‘mundo privado’. É claro que evitar repórteres de muitas partes do mundo foi uma tarefa e tanto. Fui eu quem tive que enfrentar os jornalistas e aprendi que eles não desistem facilmente e nem aceitam um simples ‘não’. Parece-me que Traven gostava de dar informações contraditórias e inconsistentes aos repórteres e editores; isso estava de acordo com seu sentimento, segundo o qual sua vida pessoal nada tinha de importante. Ele dizia: ‘Meu trabalho é importante, eu não’. Ele provavelmente não percebeu a dor de cabeça que estava causando aos estudiosos!”[v]
Todos os livros de Traven foram escritos no México, sendo a maioria deles ambientados naquele país. Há inclusive muitas adaptações ao cinema de várias de suas histórias, com destaque para o filme O tesouro de Sierra Madre, realizado em 1947 e dirigido por John Huston. De acordo com Otto Maria Carpeaux, Traven chegou a ser um dos autores mais lidos no mundo, publicou mais de uma dezena de romances e alguns livros de contos, “traduzidos para 22 línguas e divulgados em vários milhões de exemplares.”[vi]
2.
O navio da morte. Estamos diante de uma estória, narrada em primeira pessoa, mas com uma interface oculta, um misterioso interlocutor que quase nada interfere no texto. Algo que nos faz recordar da estrutura narrativa do Grande sertão: veredas ou das entrevistas do saudoso programa Ensaio, da tevê Cultura.
Entramos em contato com esse personagem misterioso através de pequenas interrupções, como se o personagem-narrador estivesse prestando um depoimento, talvez para alguma autoridade policial: “segundo-oficial, eu? No, Sir. Nessa banheira, eu não era segundo-oficial, mas um simples marujo, um trabalhador muito humilde.”
É a história de um trabalhador humilde, contada por ele mesmo, que vamos encontrar nas quase trezentas páginas desse livro fascinante. E logo de saída somos advertidos quanto à natureza do relato: não há nada de romantismo nisso, “o romantismo das histórias de marinheiros ficou no passado. Aliás, para mim, esse romantismo nunca existiu, era fruto da imaginação daqueles que escreveram sobre o mar. Capitães e timoneiros aparecem nas óperas, nos romances e nas baladas. Mas o hino à glória do herói que faz o trabalho duro nunca foi entoado. Esse hino seria duro demais para despertar a vontade de entoá-lo. Yes, Sir.”
O navio da morte é dividido em três partes, que fazem a história caminhar num continuum que vai de uma quase bem aventurança à desgraça total. O marinheiro americano, que ao longo do livro vai adotando alguns nomes, chega até a Europa – ao porto de Antuérpia – a bordo do S. S. Tuscaloosa, transportando um carregamento de algodão proveniente de New Orleans. Era um baita navio o Tuscaloosa: “alojamentos magníficos para a tripulação, banheiro e roupa limpa em abundância, tudo à prova de mosquitos; comida boa e farta, pratos limpos e facas, garfos e colheres polidos. A companhia finalmente tinha descoberto que é mais rentável manter o bom humor da tripulação do que desprezá-la.”
A ironia do narrador é uma das principais chaves para acessarmos o sentido da obra, mas não só ela. Todo o livro é composto pelo contraste entre o prosaísmo dos relatos mundanos e as críticas acérrimas do personagem-narrador. Assim, comentando acerca do salário ganho do Tuscaloosa, que não era exatamente alto, o narrador ironiza aquela situação ao dizer que depois de vinte e cinco anos de trabalho, poupando rigorosamente cada centavo recebido, “eu não conseguiria me aposentar, é verdade, mas, depois de vinte e cinco anos de trabalho e economia ininterruptos, conseguiria, com certo orgulho, integrar a camada mais baixa da classe média, a vangloriada classe que sustenta o Estado, então eu passaria a ser considerado um valoro membro da sociedade humana.”
O Tuscaloosa atracara para o descarregamento. O marinheiro, em busca de alguma diversão na cidade, acabou dormindo na companhia de uma moça e, quando regressou ao porto, já não estava mais lá o navio: “nada é mais triste do que um marinheiro em terra estrangeira, cujo navio acaba de partir sem levá-lo a bordo. O marinheiro que ficou para trás. O marinheiro que sobrou.”
Sem nenhum tipo de documento comprobatório de sua identidade, ele vai passando por interrogatórios, detenções, é jogado de um país para o outro, ninguém acredita que sua nacionalidade é norte-americana e então embarcamos, junto a esse marinheiro que perdeu o navio e os documentos, numa encalacrada burocrática daquelas armadas por Franz Kafka para enjaular seus personagens.
Mas, diferentemente dos personagens kafkianos, nosso marinheiro conserva um grande poder de entendimento acerca dos padecimentos que o sufocam e da realidade que o esmaga. O narrador de O navio da morte não deixa vaza, não está reificado. Vai interpretando os episódios quase surreais nos quais é enredado. São reflexões acuradíssimas sobre a condição de pária em que se encontra. Vou citar um trecho bastante representativo dessa estrutura que combina descrição prosaica e julgamento crítico.
O personagem, ainda não sabemos seu nome, se encontrava na Holanda – os Belgas deram um jeito de jogá-lo para o país vizinho – e conseguiu se acomodar por três dias num albergue. A polícia chega pela manhã o procurando:
“‘Abra. Polícia. Queremos falar contigo um instante.’
Eu começo a suspeitar muito seriamente que não há ninguém no mundo que não seja polícia. A polícia existe para garantir a tranquilidade, e ninguém perturba mais, ninguém molesta mais, ninguém enlouquece mais as pessoas do que a polícia. Com toda a certeza, ninguém disseminou mais a desgraça na Terra do que a polícia, já que os soldados são todos policiais.
‘O que vocês querem comigo?’
‘Só queremos falar com você.’
‘Vocês podem fazer isso através da porta.’
‘Queremos te ver pessoalmente. Abra, ou arrombamos.’
Que arrombem! E são eles que nos devem proteger dos ladrões…
Ok, eu vou abrir. Mas nem bem abro uma fresta, um deles já coloca o pé no meio. Aquele velho truque de que eles tanto se orgulham. Parece que é o primeiro que eles têm que aprender.
Eles entram. Dois homens à paisana. Eu me sento na beira da cama e começo a me vestir. Eu me viro bem em holandês. Já estive em navios holandeses e aprendi mais alguma coisa aqui. Mas os dois tipos falam um pouco de inglês.
‘Você é americano?’
‘Sim, eu acho.’
‘Sua caderneta de marinheiro, por favor?’
Parece que a caderneta de marinheiro é o centro do universo. Estou certo de que a guerra só aconteceu para que em cada país fossem solicitadas as cadernetas de marinheiro ou os passaportes. Antes da guerra, ninguém perguntava pela caderneta ou pelo passaporte, e as pessoas eram felizes. Mas as guerras em nome da liberdade, da democracia e dos direitos dos povos sempre são suspeitas. Quando se vence uma guerra pela liberdade, depois dela as pessoas serão privadas de sua liberdade, porque foi a guerra quem conquistou a liberdade, não as pessoas, Yes, Sir.”
Há um contexto histórico bem definido no livro – a Europa do pós Primeira Guerra. A eclosão dos nacionalismos, a questão das fronteiras, a xenofobia, a perseguição aos comunistas, socialistas e anarquistas. E há também uma tomada de posição bem definida por parte do narrador – a da liberdade individual contra o esmagamento promovido pelo Estado e pelas instituições.
Na avaliação desse humilde e perspicaz marinheiro, que nesta altura do livro já sabemos se chamar Gales, todas essas formas de coação da individualidade não passam de construções mentais, que seriam impossíveis de existir e até mesmo um sinal de loucura, caso não houvesse burocracia, fronteiras e passaportes: “As leis mais íntimas e originárias da natureza podem ser eliminadas e negadas, caso o Estado queira ampliar e aprofundar seu poder às custas daquele que é o fundamento do universo. Pois o universo é formado por indivíduos e não por rebanhos. Ele existe através da interação entre os indivíduos, e entra em colapso se a livre circulação de cada um é restringida. Os indivíduos são os átomos da raça humana.”
Passagens como esta podem nos indicar um entusiasta do liberalismo. Trata-se, porém, de um individualismo de inspiração anarquista. Como bem demonstrou o professor Alcir Pécora, que assina o posfácio do livro, “o anarquismo que surge nos livros de B. Traven certamente defende a ideia da vontade livre do trabalhador e do indivíduo como fonte subsidiária do direito, mas é difícil caracterizá-lo dentro de qualquer linha teórica programática. É um anarquismo intuitivo, rebelde, por vezes lírico, outras vezes cético, mas sobretudo uma afirmação da defesa da independência da vontade e da existência nômade e errática.”[vii]
Um dos episódios mais interessantes do Livro I é aquele que trata da chegada de Gales à Espanha. Depois de passar por uma verdadeira errância picaresca, perseguições, prisões, interrogatórios, audiências em consulados, de ter se amasiado num condado de camponeses quando fugia pela França, ele finalmente encontra um lugar em que consegue viver em paz.
Após ser capturado por guardas na fronteira entre França e Espanha, Gales acaba omitindo sua nacionalidade americana: “Oh, ensolarada Espanha! O primeiro país que encontrei em que ninguém perguntou sobre minha caderneta de marinheiro, onde ninguém quis saber meu nome, minha idade, minha altura, minhas impressões digitais. Onde ninguém revistou meus bolsos nem me arrastou durante a noite para uma fronteira, em me caçaram como um cão inválido…”
A recepção dos espanhóis foi tão intensa e calorosa que os próprios guardas levaram o marinheiro para suas casas. E as famílias disputavam umas com as outras e não queriam ceder a vez de hospedar o homem. Aquele excesso de cordialidade acaba por sufocar a liberdade de Gales, pois a competição que se instaurou para ver qual família cuidava melhor do marinheiro tornou a sua estadia por ali insuportável: “A morte por fuzilamento ou por enforcamento era uma comédia comparada à morte agonizante que me esperava naquele lugar, e da qual eu só poderia escapar fugindo durante a noite. O amor não se transforma apenas em ódio, mas no que é ainda pior, em escravidão. Ali, a escravidão era assassina. Eu não podia nem sair para o quintal sem que um membro da família corresse até mim e me perguntasse todo preocupado se eu tinha papel higiênico. Yes, Sir.”
Gales foge da opressão comunitária e passa a vagar pelas ruas de Barcelona, tenta pescar alguns peixes, reflete sobre a vida, até se dar conta de que já estava envolvido com a tripulação do Yorikke, um navio da morte. Ele aceita a oferta de trabalho, embarca naquela banheira completamente degradada, e daí pra frente o livro toma um aspecto tenebroso, sufocante, insuportável: “Quando eu estava no convés, o Yorikke começou a acelerar numa velocidade notável, e então tive a sensação de que eu tinha atravessado aquele enorme pórtico onde estão inscritas estas palavras fatídicas: Aquele que entra aqui, perde todo o seu ser. Desaparece com o vento.”
O Livro II se passa a bordo do Yorikke. As descrições e cenas que Traven constrói do interior da embarcação, dos alojamentos, do trabalho nas caldeiras, do sofrimento dos trabalhadores etc., é de um realismo impressionante. O trabalho nas caldeiras do navio se torna um verdadeiro suplício e ocupa boa parte da narração.
No Yorikke, Gales renuncia a seu nome e a sua nacionalidade e passa a se chamar Pippip. Seu objetivo se resume a sobreviver ao trabalho inumano nas caldeiras, onde acidentes terríveis acontecem a todo momento, e a conseguir um pouco de comida. A amizade que surge entre Pippip e um outro trabalhador das caldeiras, Stanislaw, é um dos pontos em que a narração ganha em humanidade. Aliás, é a própria noção de humanidade que vai se desfazendo à medida em que vamos compartilhando as agruras e sofrimentos daquela embarcação infernal.
Os comentários lacônicos do narrador, às vezes cínico, outras vezes irônico, vão pontuando com certa filosofia a descrição cruel da vida dos trabalhadores: “Por mais que houvesse motivos para se falar mal do Yorikke, pelo menos num ponto ele merecia uma coroa de louros: era uma excelente fonte de aprendizagem. Meio ano no Yorikke, e não veneramos mais nenhum deus.”
Aos poucos vamos aprendendo que existia uma diferença substancial entre um navio da morte, como o Yorikke e outras centenas de embarcações como ele, e os demais navios comerciais. Trata-se de uma embarcação cuja razão de ser é naufragar para que a companhia receba o seguro: “Aonde ele vai parar? E eu? E aonde vão parar um dia todos os mortos desse navio? Num recife. Mais cedo ou mais tarde. Acaba chegando o dia. Não dá pra navegar eternamente com um navio desses. Um dia, a gente tem que pagar a viagem, se tiver sorte. Não há outra saída quando se está a bordo de um navio da morte.”
Dentre as tantas histórias que nos vão sendo contadas, estão as negociatas que acontecem durante as viagens. Sempre descritas com uma forte dose de ironia, os encontros cabulosos entre o comandante do navio e os tripulantes de pequenas embarcações se dão em alto mar, longe da costa.
Algumas pequenas embarcações se aproximaram do Yorikke, com alguns marroquinos a bordo que sobem ao navio como se fossem gatos. Caixas começam a passar do navio para as falucas, onde são alocadas sob cargas de peixes e frutas: “Uma vez carregada, a faluca levantava âncora e se afastava. Imediatamente uma outra se aproximava remando, atracava, e se abastecia com sua carga. Depois de uns quinze minutos, o capitão apareceu no convés e gritou para a ponte:
‘Onde estamos?’.
‘A seis milhas da costa.’
‘Bravo. Então já saímos?’
‘Yes, Sir!
‘Venham tomar café da manhã. Vamos brindar. Indique o curso pro leme e venha.’
E assim terminou aquele episódio fantasmagórico.”
3.
O navio da morte, conforme o narrador deixou evidente nas páginas iniciais do livro, não é uma história de aventuras em alto mar, embora exista uma curva aventuresca na parte final do livro, com tempestades, ondas gigantescas, naufrágios etc., além da própria peregrinação desse herói-proletário.
Existe uma intenção política que emoldura o livro. Alcir Pécora explora muito bem essa questão no posfácio, ao sugerir que “no limite da alegoria capitalista, o navio é representação de um sistema econômico macabro cujo melhor rendimento ocorre com a capitalização da morte dos trabalhadores. Esse modelo de negócios, por assim dizer, atinge o seu apogeu quando o assassinato do trabalhador é lucro certo para o empresário.”[viii]
Contrariando as expectativas, Pippip e Stanislaw conseguem deixar o Yorikke quando chegam a um porto no Dakar, o que significa que conseguiram escapulir da morte. Se livraram de um navio da morte e caíram noutro, ou pior, foram sequestrados para o Empress of Magagascar, um navio inglês de nove mil toneladas, dentro do qual vai se desenrolar todo o Livro III.
Deixo aqui uma nota de suspense, no melhor estilo folhetinesco. Convido vocês a lerem esse Germinal dos mares, um livro escrito há mais de um século, atualíssimo no conteúdo e na forma.
*Alexandre Juliete Rosa é mestre em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP).
Referência
B. Traven. O navio da morte. Tradução: Érica Gonçalves Ignacio de Castro. Rio de Janeiro. Imprimatur / Quimera, 2024, 320 págs. [https://amzn.to/3JQPJ5t]

Notas
[i] Citado em Jorge Munguía Espítia. Uma vuelta de tuerca sobre B. Traven. Revista Veredas (México), N. 6, 2003, p. 42. Link para acessar o artigo: https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/issue/view/5
[ii] Idem, p. 43.
[iii] James Goldwasser. Marut, Ret: The Early B. Traven. Artigo do site libcom.org. Link para acessar: https://libcom.org/article/marut-ret-early-b-traven-james-goldwasser
[iv] Para um resumo sobre o período revolucionário em que Marut/Traven teria participado, vocês podem acessar esse link: https://alexandre-j-rosa.medium.com/marut-traven-na-alemanha-1916-1922-70d48e312a5a
E através do link a seguir vocês podem acessar o artigo escrito por Marut – In the Freest State in the World (No Estado mais livre do mundo) – em que faz um balanço, cheio de ironia e indignação, acerca da repressão que se abateu sobre os revolucionários, logo após a queda da República dos Conselheiros da Baviera. https://libcom.org/article/freest-state-world-ret-marut-b-traven
[v] Rosa Elena Lujan. “Remembering Traven”. In: The Kidnapped Saint & Other Stories. Edited by Rosa Elena Lujan, Mina C. and H. Arthur Klein. Lawrence Hill Books, Brooklyn, New York, 1991, p. xv.
Através do link abaixo vocês têm acesso ao texto completo de Rosa Elena, que narra um pouco da vida de Traven no México. https://alexandre-j-rosa.medium.com/traven-na-intimidade-9b961eedc5e9
[vi] Otto Maria Carpeaux. Anonimato de Traven. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 16 de março de 1963, p. 8. Agradeço à amiga Ieda Lebensztayn pela indicação dos textos de Carpeaux. Link para acessar o atrigo:
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=089842_07&pagfis=37874
[vii] Alcir Pécora. “Estamos todos navegando num navio da morte”. In: B. Traven. O Navio da morte, p. 312.
[viii] Alcir Pécora, Idem, p. 308.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA