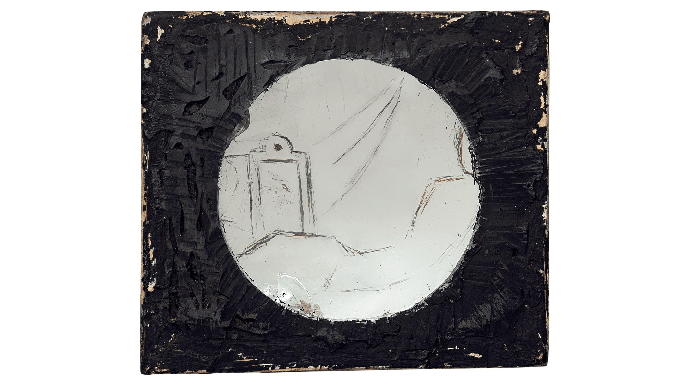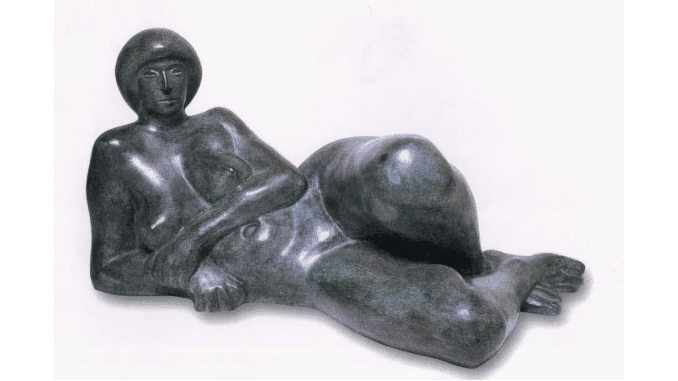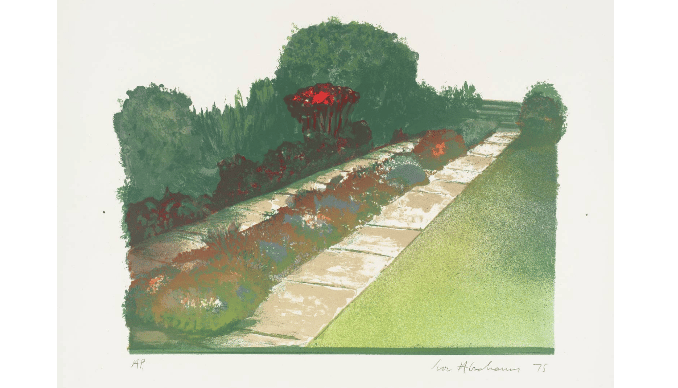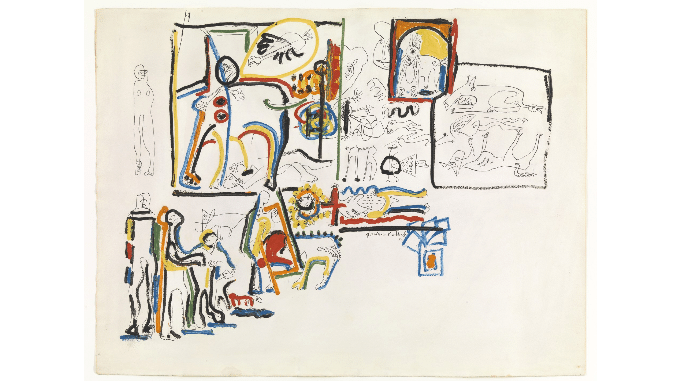Por RAFAEL SOUZA SIQUEIRA*
A crítica decolonial, ao essencializar raça e território, acaba por negar as bases materiais do colonialismo, tornando-se uma importação acadêmica que silencia tradições locais de luta
“A população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída” (Karl Marx).
Acabo de reler os textos de Vladimir Safatle “O Grande FMI Universitário”, e de Douglas Barros, “Contra Nego Bispo” – que foram o estopim do debate da semana nos círculos intelectuais de esquerda. Mais uma vez, a controvérsia gira em torno das diferentes correntes de interpretação da condição dos países oriundos de processos coloniais. Mas desta vez, a ruidosa recepção dos textos indica que algo se movimentou nas placas tectônicas das ciências humanas brasileiras. Neste ensaio faço uma exposição crítica e interpretativa dos dois textos em questão e apresento algumas considerações metodológicas referentes às primeiras recepções e ao futuro desse debate.
1.
O texto de Vladimir Safatle, publicado na edição de janeiro da revista Piauí, reconhece, não sem certo desconforto, que o paradigma decolonial se impôs como corrente dominante nos círculos acadêmicos e culturais e, não obstante seus acertos e contribuições, ela pode ser alvo da própria crítica que desfere às demais teorias. Em outras palavras, o próprio modelo de crítica decolonial se estabeleceu a partir das mesmas relações coloniais de hegemonia cultural dos países centrais que as perspectivas por ela criticadas. Assim como o FMI – que aplica o mesmo receituário neoliberal em todos os países, a teoria decolonial acabou por importar um modelo crítico para toda a periferia com forte sotaque norte-americano.
A meu ver, o principal mérito do texto de Vladimir Safatle é relembrar que as críticas ao colonialismo e sua forma de moldar sociedade e subjetividades não é novidade nem exclusividade da teoria decolonial. De Montaigne a Marx, mesmo dentro na própria Europa, desenvolve-se um pensamento crítico não apenas capaz de reconhecer que a cultura europeia não era superior as demais, mas chegando ao ponto de explicar as causas do colonialismo e sua centralidade para o surgimento do capitalismo por meio de guerras, pilhagens, escravidão e extermínio. A partir da formulação de Marx surge todo um debate em torno do conceito de imperialismo (uma atualização da crítica ao colonialismo) que será marcante durante todo o século XX.
O nome de Marx sempre reaparece neste debate porque ele nos relembra que é possível articular uma crítica radical ao colonialismo sem ser decolonial. Antes da teoria decolonial houveram outras tradições críticas que se desenvolveram intimamente ligadas com as lutas concretas de seu tempo. No campo marxista, a partir da teoria do imperialismo de Vladímir Lênin e Rosa Luxemburgo, diversos pensadores e revolucionários espalhados por todos os cantos do então chamado terceiro mundo, formularam sobre as diversas facetas do capitalismo nas formações coloniais, semicoloniais e dependentes – sempre relacionando colonialidade e capitalismo (o exemplo mais eloquente é Franz Fanon) e tendo em vista a luta por sua superação. Esta tradição do marxismo revolucionário anticolonial não escrevia para a academia universitária, mas para os trabalhadores e lutadores que estavam engajados em lutas e guerras de libertação.
2.
A partir dos anos 1960 começa a surgir uma outra tradição de interpretação da colonialidade ligada aos estudos pós-coloniais e aos estudos da subalternidade. Nesta tradição há um deslocamento das lutas de libertação para as condições de produção do conhecimento, de teorias destinadas aos povos em luta para teorias surgidas no ambiente universitário, especialmente dos EUA. Não se trata mais de acentuar as relações materiais da espoliação colonial, mas de sua permanência no plano das ideias, dos discursos, dos saberes.
Neste ponto, é inegável as contribuições desta nova perspectiva, tanto do ponto de vista da autocrítica das universidades metropolitanas, quanto do ponto de vista da compreensão de como a imposição da visão de mundo dos povos colonizadores continua a moldar ideias e discursos.
Os estudos decoloniais surgem propriamente no final do século XX a partir dos estudos sobre a América Latina conduzidas em estrita colaboração com universidades estadunidenses. Sua intenção é redefinir os conceitos pelos quais é pensada a condição latino-americana em um contexto de arrefecimento das lutas de libertação. Assim como os estudos pós-coloniais e subalternos, a reflexão da teoria decolonial é voltada para o mundo acadêmico e para o campo da produção das ideias – que curiosamente é nomeada em grego e no plural: “epistemes”. No entanto, ela vai muito além ao tentar refundar o pensamento crítico latino-americano sobre o colonialismo se colocando contra a tradição que se forjou a partir do referencial categorial do marxismo, que passa a ser visto como eurocêntrico, economista, determinista e etc.
Uma vez que a própria racionalidade científica moderna é vista como empreendimento colonial e eurocêntrico e, portanto, incapaz de servir como fundamento para o pensamento crítico, então as tradições de críticas ao colonialismo anteriores devem ser rejeitadas por ainda estarem fundadas em uma racionalidade colonial. Disso se segue que as explicações que giram em torno de conceitos como imperialismo, exploração, luta de classes, capitalismo, revolução e etc. são progressivamente substituídas pela centralidade da raça e do território.
Com variados incentivos financeiros, as premissas decoloniais muito rapidamente se tornaram hegemônicas em nossas universidades, nas artes, na política e na cultura. Iniciamos o século XXI acreditando que não era possível ser crítico sem ser decolonial e que não havia outra forma de se opor ao colonialismo que não fosse decolonial.
3.
É justamente aí que reside a ambiguidade, ou melhor, a contradição: no momento em que o pensamento decolonial se torna tão radical que denuncia o eurocentrismo de toda a racionalidade moderna (incluindo aí a própria crítica dialética e o marxismo), é exatamente aí que ela revela seu núcleo colonial.
Vladimir Safatle nos mostra como a ideia central de que a racionalidade europeia é ela mesma colonial paradoxalmente coloca em xeque não apenas as lutas contra o colonialismo e o capitalismo dentro da Europa, como também diversas tradições intelectuais e de lutas anticoloniais dos próprios povos colonizados ao redor do mundo que se desenvolveram durante o século XX a partir da integração de teorias surgidas nas metrópoles, em especial o marxismo. A teoria decolonial, portanto, mira no colonialismo metropolitano e acerta nas tradições críticas da periferia.
Além disso, Vladimir Safatle alega que embora pareça muito radical, o pensamento decolonial também padece de um erro idealista, pois ao centrar-se na colonialidade dos discursos e dos saberes, ignora conceitualmente as causas materiais da produção dos saberes e dos discursos, bem como os conflitos de classe implicados nessas produções. As contradições e conflitos internos desaparecem em favor da validação identitária.
Sendo assim, ao abdicar de uma compreensão dos conflitos entre os diferentes projetos de modernidade e reduzir sua crítica a uma modernidade homogênea e monolítica, o pensamento decolonial perde o sentido conflituoso da história. Do mesmo modo, descartar toda teoria produzida na metrópole como colonial implode a possibilidade de compreensão do capitalismo como um sistema de opressão e espoliação único e totalizante, inviabilizando um horizonte comum de luta.
O que está em jogo é se a opressão colonial e suas variadas formas de permanência (como o racismo, a destruição ambiental e etc.) serão associadas ou dissociadas do capitalismo. No caso da teoria decolonial a partir do momento em que o colonialismo é compreendido de modo idealista, isto é, sem conexão com um sistema de causalidades materiais, em última instância econômicas, ela perde seu poder explicativo e transformador. Nas palavras de Vladimir Safatle, ela se assemelha a “uma bomba que só produz barulho”.
A conclusão de Vladimir Safatle, portanto, é que a crítica decolonial não é suficientemente descolonizadora pois desconecta o pensamento de suas bases materiais e as tradições críticas de seus fundamentos mais importantes, enquanto gasta seus esforços em lutas contra entidades imaginárias.
O texto de Vladimir Safatle termina de modo bastante propositivo ao enunciar que a teoria decolonial pode galgar um grande acúmulo se superar seu desvio idealista e sua visão imprecisa das estruturas materiais e recolocar no centro da discussão sobre a colonialidade uma teoria do monopólio, do “cartão de crédito”, caso queira estar à altura da complexidade de seu objeto, uma vez que o sistema capitalista, hoje mais do que nunca, se organiza como sistema global.
4.
No dia 21 de janeiro, vem à luz o ensaio de Douglas Barros, publicado no Blog da Boitempo e intitulado “Contra Nego Bispo”. Ao invés de contextualizar o pensamento decolonial no interior das críticas ao colonialismo, acentuando seu caráter acadêmico estadunidense, como fez Vladimir Safatle, Douglas Barros envereda pelo caminho mais perigoso e também o mais corajoso: submete a uma reconstrução crítica as ideias de um dos autores mais celebrados pelos adeptos do pensamento decolonial.
Justamente por ser a oposição radical ao intelectual acadêmico, Nego Bispo representa a voz do próprio subalterno, o pensamento ancestral, aquele que em todos os sentidos foi a vítima do epistemicídio e da exclusão. Sendo assim, por mais que o próprio Bispo fosse avesso a ser considerado teórico, Douglas Barros o toma como o interlocutor privilegiado do debate acerca da colonialidade, aquele que sintetiza em suas ideias todo o acúmulo do pensamento decolonial, mas agora encarnado no próprio subalterno, segundo suas palavras, no pensamento “contracolonial”.
Douglas Barros inicia seu ensaio com uma exposição dos traços fundamentais do romantismo alemão que será usada para fins de comparação com o pensamento de Nego Bispo: embora representasse genuinamente uma negação do mundo burguês, essa negação muitas vezes trazia consigo uma resignação passiva e um refúgio numa pureza ancestral que ainda se encontravam na língua, no território e nas crenças.
Aliado a isso, este romantismo se voltou contra a racionalidade e a razão, na medida em que se apoiava em seu sentimento e sua “intuição de mundo”. A decorrência conhecida é certa fuga do mundo objetivo e concreto para idealizar um mundo imaginado de contrastes homogêneos e de contornos claros e, portanto, identitário.
Douglas Barros percebe um certo retorno destes discursos de “busca pelas raizes” no século XXI. Em um contexto de refluxo de lutas revolucionárias e consolidação de um espírito antirracional produzido pelas transformações tecnológicas informacionais, o perigo é que o critério de validação objetiva de uma formulação seja privatizada em favor de critérios subjetivos tais como uma vivência territorial ou um sentimento íntimo. Nesse caso, a desconfiança contra a racionalidade corre o risco de produzir formulações míticas sobre a realidade. Seria este o caso de Nego Bispo?
Antônio Bispo dos Santos foi uma conhecida liderança comunitária e sindical do Piauí vinculado ao PT. Segundo Douglas Barros, ao aprofundar-se no debate racial, Bispo teria progressivamente se afastado de uma interpretação classista que o levaria a se distanciar da crítica ao capitalismo em nome de uma crítica ao colonialismo. Ao separar o colonialismo de sua base material (o capitalismo), ele adquire, segundo Douglas Barros, contornos de um determinismo cultural na forma de uma “epistemologia” territorialmente situada. Esta “cosmovisão” equivale, segundo Barros, àquilo que os românticos chamavam “intuição de mundo”.
5.
Douglas Barros aponta três teses críticas contra as ideias centrais que, segundo ele, organizam as formulações mais influentes de Nego Bispo.
A primeira crítica é contra a explicação do fenômeno do colonialismo em termos de uma luta entre diferentes cosmologias. Se o saber é formado pela ancestralidade e pelo pertencimento imediato a um território e uma raça, então essas determinações culturais singulares implicam em uma “episteme” singular, uma cosmologia acessível intuitivamente apenas aqueles que participam da comunidade. O conhecimento ancestral é adquirido por meio da vivência.
Deste modo, a raça deixa de ser entendida como uma construção histórica própria do modo de produção escravista colonial e passa a ser vista como um dado essencial de uma espécie de luta de raças a-histórica. A intuição desta cosmovisão seria um saber orgânico justamente porque foi gerado no seio da comunidade.
Neste quadro, o fenômeno do colonialismo é entendido por Nego Bispo como um processo centrado na etnia que, em última instância, consiste na substituição de uma cultura por outra. A luta contracolonial seria, portanto, uma querela entre cosmovisões, uma resistência epistêmica em nome dos saberes comunitários ancestrais. Para Douglas Barros, essa forma de conceituar o colonialismo, além de subjetivista, representa uma renúncia à compreensão das determinações históricas e concretas do fenômeno do colonialismo.
A segunda crítica é contra a essencialização da raça e a homogeneização das experiências coloniais. Todos os povos colonizados, independentemente de suas especificidades, são considerados por Bispo como “contra-colonizadores” e todos os povos da Europa, independentemente de serem senhores ou “colonos” (trabalhadores) são considerados “colonizadores”. Nessa cosmologia as contradições internas e de classe são apagadas em função da essencialização da identidade.
Como o colonialismo é visto como uma relação epistemológica – e não como uma forma histórica determinada de exploração – o sentido histórico do colonialismo é esvaziado em nome de uma fórmula dual e maniqueista. Douglas Barros acentua que, mais que uma análise das contradições de classe, também falta em Nego Bispo uma problematização da origem histórica da racialização. Para Douglas Barros, portanto, a teoria do conhecimento (epistemologia) de Nego Bispo é uma espécie de empirismo que reduz a verdade à vivência subjetiva comunitária. A complexidade dos conflitos sociais é substituída por um “guerra de denominações” entre as diferentes cosmovisões.
A terceira crítica é contra as implicações mítico-religiosas contidas na interpretação do colonialismo em termos de uma luta entre cosmologias e na valorização da oralidade. Se o colonialismo é entendido como uma cosmovisão essencialmente monoteísta (cristã), então ela só pode ser combatida por uma cosmovisão politeísta.
O fundamento do colonialismo seria religioso na medida em que foi motivado não por necessidades materiais, mas determinado pela necessidade de dominação inscrita na cosmovisão monoteísta. O maniqueísmo toma a forma de um conflito entre a cosmovisão orgânica e politeísta contra a cosmovisão sintética e monoteísta. A proposta contracolonial de Nego Bispo resulta em uma abstração fechada na identidade e no abandono da análise histórica do capitalismo como fundamento do colonialismo.
Para Douglas Barros, as consequências práticas e políticas do pensamento contracolonial de Nego Bispo são preocupantes e perigosas. Quando o que define se o sujeito é colonizador ou contracolonizador são tão somente a raça, o território e a religiosidade, então este sujeito está determinado essencialmente por essas identidades, não sobrando espaço para a liberdade, para a ação e para os conflitos propriamente políticos.
6.
A recepção imediata dos textos de Vladimir Safatle e Douglas Barros foi bastante ruidosa. As primeiras reações nas redes sociais, como de costume, foram uma tentativa de desqualificar os autores com insultos identitários (homens, brancos, acadêmicos, sudestinos, colonizados, eurocêntricos, racistas, epistemicidas!). A essas se seguiram variadas tentativas um pouco mais educadas de se esquivar das críticas.
A primeira delas é esquecer as teses centrais do texto e se apegar apenas ao estilo, nesse caso, a crítica é reduzida a um desrespeito. Como assim, esses intelectuais brancos ousam desrespeitar um pensador negro e quilombola? Se horrorizam com o “contra” presente no título. Zombaram dos termos em alemão e se doeram das aspas. Fingiram que não entendem a metonímia, como se os textos fossem contra a pessoa de Nego Bispo.
A outra tentativa de esquiva consistiu em negar que houvesse um conflito real sobre o assunto. Neste caso, tudo não passaria de picuinha, numa tentativa eclética de conciliar o que a esta altura já era irreconciliável. Pois, ao mesmo tempo, outros, mais conscientes dos lados em conflito, já se posicionavam abertamente contra o marxismo, voltando os insultos não apenas contra o autor, mas contra todo o campo teórico do marxismo.
Acredito que, passada essa ruidosa recepção imediata, já é hora de tirar as crianças da sala e tratar essa questão com a seriedade e a tranquilidade que merece aquele que, sem dúvida, é um dos temas centrais da epistemologia das ciências humanas de nosso tempo. Trata-se de um disputa de paradigmas científicos clássica: um conflito entre duas correntes das ciências humanas disputando qual fornece a melhor explicação para um fenômeno histórico e social continuado denominado colonialismo.
Durante quase todo o século XX o pensamento marxista, especialmente sua teoria do imperialismo, serviu como fundamento para as lutas de libertação em toda a periferia do mundo. No final do século, com a crise do movimento comunista, a teoria marxista caiu em descrédito e “outras epistemologias” surgiram para lhe complementar ou mesmo lhe substituir. Neste momento, que teorias como o pensamento decolonial passaram a concorrer com o marxismo na explicação dos conflitos sociais e na elaboração do programa a ser aplicado.
Nas últimas três ou quatro décadas, o espaço deixado pela crise do marxismo foi ocupado por uma miríade de perspectivas mais ou menos teóricas que já foram genericamente chamadas de “pós-estruturalistas” ou “pós-modernas”. Arrisco afirmar que os textos de Vladimir Safatle e Douglas Barros indicam que o campo marxista busca agora se reposicionar no debate e disputar a interpretação do colonialismo, que neste século XXI havia sido hegemonizado pelo campo decolonial.
De minha parte, penso que esta querela tem raízes muito mais profundas do que apenas diferentes teses sobre a colonialidade. Insistiria que se trata de um legítimo conflito entre dois diferentes métodos científicos sobre a interpretação do colonialismo. Penso que o jovem György Lukács estava certo quando enfatizava que a ortodoxia no marxismo se refere única e exclusivamente ao método.
Sendo assim, não se trata de uma primazia de motivos econômicos na explicação dos fenômenos sociais, mas na perspectiva metodológica orientada para a totalidade, para o sistema capitalista. Em resumo: cada uma das teorias em disputa possui um diferente método, diferentes categorias e uma diferente compreensão de como essas categorias se relacionam com a realidade e com o próprio método.
Se já estávamos a muito acostumados com às críticas ao marxismo de que este teria deixado de lado em suas análises as questões relativas a opressões de grupos excluídos, como questões raciais e territoriais, doravante teremos que lidar também com a réplica do campo marxistas, segundo a qual, o campo decolonial tende a deixar de lado a estrutura material, as classes sociais e o sistema econômico.
O fato é que certo consenso em torno da obsolescência da teoria do imperialismo e da hegemonia do pensamento decolonial foi fraturado. Para além de todo barulho e esperneio, ficam as perguntas importantes: Qual desses campos tem o método mais adequado ao objeto e os conceitos mais acurados, capazes de explicar melhor a complexidade da realidade do que foi e é o colonialismo? Qual deles consegue determinar de modo mais preciso suas causas e tendências? Qual destes dois campos oferece melhores perspectivas de futuro para os movimentos sociais e para as lutas políticas de nosso tempo?
*Rafael Sousa Siqueira é professor do Instituto Federal de Brasília (IFB) e do Programa de mestrado profissional em filosofia da UnB.