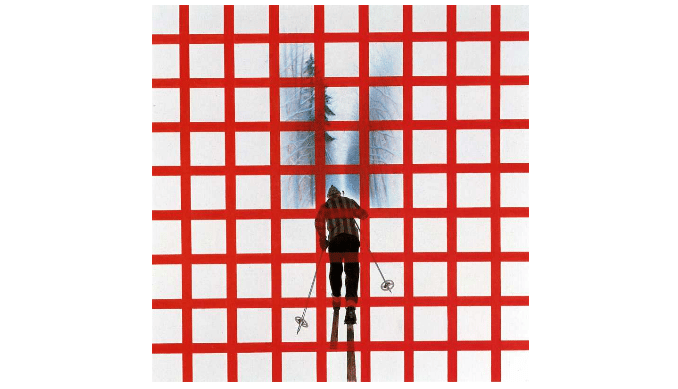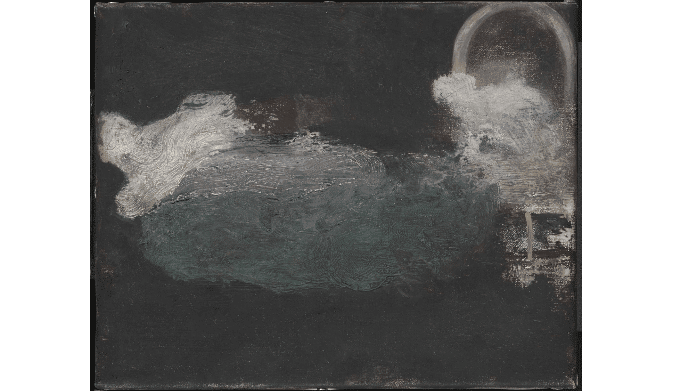Por MARTIN MAGNUS PETIZ*
Um paralelo com a violenta operação policial no Guarujá e as reflexões motivadas pelo filme Oppenheimer
Entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, foi deflagrada a Operação Escudo no município de Guarujá, Estado de São Paulo. Cerca de 600 policiais civis e militares foram mobilizados com o objetivo de capturar os suspeitos de envolvimento com a morte do policial Patrick Bastos Reis, atingido por um tiro no peito na noite do dia 27 de julho. Até o momento, há registro de 16 mortes e 58 prisões.
Moradores do Guarujá acusaram policiais de torturar e matar um homem inocente na região, ameaçando mais mortes inocentes nas comunidades locais para obter a localização dos suspeitos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou o resultado, chamando de “efeito colateral” as mortes em confrontos entre policiais e suspeitos.[i]
Em face da continuidade da Operação e da celebração dos seus resultados até aqui obtidos com alto número de mortes – a Operação já é a segunda mais letal da história da PM paulista, atrás apenas do massacre do Carandiru, com 111 vítimas[ii] –, cabem duas considerações sobre a relação entre o uso da força estatal e a morte.
Primeiro: o valor da segurança só faz sentido se integrado ao valor da justiça, ou seja: os meios empregados pelas intervenções policiais devem ser justos tanto quanto os fins para a garantia da segurança. Segundo: quando autoridades públicas matam de modo injustificado perante as exigências da justiça em nome de um “bem maior”, o que poderia ser considerado o exercício do poder legítimo do Estado para a garantia de segurança se torna “homicídio”; o que antes era uma “operação policial” se torna “chacina.” E nisso se incluem mortes derivadas do uso desproporcional da força. O Brasil sequer admite a pena de morte como pena, de modo que, mesmo se essas pessoas possuíssem condenação prévia, tal medida seria inadmissível sem o risco iminente de vida pelos policiais.
1.
A segurança é um bem básico para a realização da vida boa. Todos precisamos de segurança para sermos autônomos, e não há dúvidas de que o direito penal é uma instituição fundamental para a garantia desse valor.
A punição tende a misturar elementos de dissuasão e retribuição, embora Aristóteles visse na aplicação da lei não só a retribuição de um dano, como também o restabelecimento da amizade cívica que garante a união da comunidade política. Mas fato é que o papel primordial da pena é retribuir um ilícito e dissuadir potenciais ofensores de cometer o mesmo ilícito no futuro.[iii] A aplicação proporcional da pena é questão de justiça.
A despeito das inconveniências que possa gerar para a realização do valor da segurança, a justiça é o valor que lhe é superior e lhe confere inteligibilidade. Como não vivemos em uma sociedade de anjos, temos de conviver com a injustiça pela ação alheia: estamos sujeitos a danos físicos, a roubos e furtos, a enganos e fraudes, pela imprudência ou pela malícia de terceiros. Por isso, o direito penal continua sendo necessário, enquanto a natureza errática do ser humano não se transformar em perfeição divina.
Contudo, se aplicássemos apenas o critério da dissuasão para justificar o direito penal, a injustiça gerada pelo Estado seria injustificável para qualquer agente racional. John Rawls propôs um exemplo imaginário para entendermos a importância da justiça penal: se o sistema penal fosse baseado na instituição do “telishment” – que poderíamos traduzir para a língua portuguesa no sentido de algo como “dedo-durismo” –, poderíamos conceber a prática de punir um inocente sempre que as autoridades pensassem que fazê-lo seria bom para os interesses da sociedade. A instituição maximizaria o princípio do “in dubio pro societate” que circulou no meio jurídico brasileiro recentemente.
Além do pânico que cada um sentiria de “ser o próximo a ser levado” pelos “dedo-duros” mesmo sem ter feito nada de errado, a implementação do dedo-durismo simplesmente acabaria com a lógica da punição. Ninguém saberia se quem foi punido o foi por ter feito algo de errado, ou apenas porque era vontade das autoridades puni-lo. A ideia de ação e responsabilidade se perderia. “Agir licitamente” seria uma afirmação esvaziada de sentido, pois não faria diferença para o julgamento do agente pelo direito.[iv]
Portanto, a dissuasão se submete a princípios de imparcialidade na aplicação da justiça. Daí surge o princípio da legalidade na sua versão penal, o brocardo nulla poena sin lege. Não há como dissuadir um agente de uma ação que ele ainda não sabe ser ilícita. Por isso, uma ação só pode ser avaliada como lícita ou ilícita perante regras pré-estabelecidas. A dissuasão pelo direito penal pressupõe a legalidade e a retribuição como princípios básicos da punição.[v]
Diante disso, quaisquer mortes realizadas pelas forças policiais do Estado sem uma boa justificativa – a ameaça direta de morte pelo policial – devem ser consideradas como ato de homicídio. Se forem confirmadas ocorrências de mortes sem ameaça justificada na Operação como relatou a cidadã Cláudia*[vi], só caberá chamarmos a operação pelo nome que lhe cabe: chacina, massacre ou ato de vingança privada por parte de agentes do Estado. Nada disso é tolerável em um Estado de direito. A obrigatoriedade do uso de câmeras nas fardas dos policiais colaboraria para afastar tais relatos, se realmente fossem infundados. A “fé pública” dos agentes da polícia não pode servir para encobrir violações de direitos humanos com presunção absoluta de veracidade. Diante das constantes denúncias aos atos policiais em tais operações, a presunção de legalidade da operação deveria ser invertida na Justiça Penal como forma de afastar o “dedo-durismo” do nosso direito.
2.
No filme Oppenheimer (2023), o diretor Christopher Nolan mostra uma tragédia em dois atos. No primeiro ato, ele mostra como o grande físico J. Robert Oppenheimer (1904-1967) coordena a construção da bomba atômica pelos EUA em circunstâncias desfavoráveis – os nazistas estavam dezoito meses à frente nas pesquisas, diz ele quando se inicia o Projeto Manhattan –, com o objetivo de impedir que o nazismo alcançasse tamanho poderio antes dos Aliados. O físico acreditava que, uma vez obtida a bomba pelos Aliados, os nazistas não usariam a bomba mesmo se conseguissem produzi-la, e teriam assim o seu poderio contido.
No segundo ato, Christopher Nolan mostra a grande angústia gerada no físico diante do uso da bomba no Japão, que gerou cerca de 110 mil mortes, somando Hiroshima e Nagasaki – civis, em sua grande maioria. O filme retrata como os conselheiros do Presidente Henry Truman (1884-1972) escolheram as cidades tendo conhecimento do alcance absurdo da bomba. O risco de se causar a morte em massa de civis é ponderado com considerações práticas sobre o custo de se manter a guerra. Uma invasão ao Japão provavelmente seria muito custosa em número de baixas estadunidenses, as quais poderiam ser evitadas com o uso da bomba. Oppenheimer estava nesse conselho, e deu aval ao seu lançamento.
O filme se encerra com a constatação de Oppenheimer de que teria contribuído para um possível fim do mundo via guerra nuclear – afinal, começava a Guerra Fria. Em certo momento, Truman recebe Oppenheimer na Casa Branca, e tenta o aliviar da culpa pela catástrofe atômica; ou melhor, Truman confessa a sua culpa: “ninguém se lembrará de quem fez a bomba; eu lancei a bomba [sobre os civis japoneses]”.
A confissão de Truman não apaga a culpa de Oppenheimer, que marca o filme até o seu belo diálogo com Einstein na cena final sobre o poder destrutivo que colaborou para construir por meio da física; mas faz justiça a Elizabeth Anscombe (ou G.E.M. Anscombe) (1919-2001), filósofa de Oxford e professora de filosofia em Cambridge (1970-1986) que marcou o cenário da filosofia analítica de língua inglesa na década de 1950. A sua fascinante biografia – pessoal e intelectual, dado que Anscombe era também uma das herdeiras intelectuais de Ludwig Wittgenstein (1889-1951), talvez o maior filósofo do século XX, tendo colaborado para publicar o seu testamento literário – foi retomada em livro recente do historiador da filosofia Benjamin J.B. Lipscomb.[vii]
No livro, o autor narra o protesto de Anscombe contra a concessão do título de Doutor Honoris Causa a Truman pela Universidade de Oxford em 1956. O título foi concedido contra pouquíssima oposição – apenas Anscombe e as filósofas Iris Murdoch (1919-1999) e Philippa Foot (1920-2010) (junto do seu marido), co-protagonistas do livro, votaram contra. Anscombe ficou furiosa: seus colegas estariam admitindo que a morte intencional e deliberada de civis pelo Estado se justifica de acordo com a finalidade que se almejar com tal ação.[viii]
Anscombe foi uma grande crítica do que chamou de “consequencialismo”: a teoria segundo a qual toda ação é boa desde que suas consequências sejam boas. Segundo Anscombe, tal posição era perniciosa por justificar literalmente qualquer coisa. Não faria sentido, assim, sequer afirmar que “matar inocentes é um ato injusto” em si mesmo.[ix] Se matar inocentes implicasse no fim de uma guerra justa e cara, então a ação de lançar uma bomba atômica sob centenas de milhares de civis se justificaria.
Anscombe era uma católica ferrenha, mas não era uma pacifista. O seu texto teórico de reação à nomeação de Truman foi “War and murder”, de 1957. Nele, Anscombe afirmava considerar óbvio que a sociedade moderna ocidental é menos selvagem com o uso da força pelo Estado do que seria sem tal uso. A sociedade sempre conta com agentes recalcitrantes que não respeitam o direito de modo algum e demandam a intervenção do direito penal. E nem sempre é possível parar os recalcitrantes antes de se chegar ao ponto do uso da violência. Há casos em que a guerra e o estado de necessidade justificam a morte do outro. A grande questão é saber quem e quando se está justificado o uso da força nesse nível. Na guerra, o poder de matar é justificado ao extremo, e o risco de se matar inocentes também se maximiza.[x]
Outra doutrina que Anscombe atacou no campo da filosofia da prática era a “doutrina do duplo efeito”, que era uma implicação da teoria moral do consequencialismo. Ela dita que apenas as consequências previstas pelo agente poderiam lhe ser imputadas para fins de responsabilidade e descrição de uma ação. Para Anscombe, essa doutrina seria absurda: ninguém pode empurrar alguém de um penhasco sem a intenção de matar a pessoa apenas porque “o pensamento não lhe ocorreu.” No ato de homicídio, Anscombe defendia que se incluísse na esfera de aplicação do conceito todo caso de morte causada a inocentes sob circunstâncias que poderiam ser previstas por um agente racional naquelas condições[xi], o que lembra o nosso instituto de direito penal do dolo eventual.
Com base na rejeição dessas teses consideradas por Anscombe como “corruptoras”[xii], ela rechaçou completamente a ação dos Aliados de “obliterar cidades” inteiras para vencer a 2ª Guerra.[xiii] As pessoas cuja mera existência e atividade se dá no interior de um Estado considerado “não-inocente” em uma guerra não justifica a sua morte indiscriminada, mesmo se a guerra for justa. Essas pessoas são inocentes e seria assassinato matá-las, e não um exercício justo da guerra.
3.
Anscombe afirmava ter conhecido um “garoto católico” que ficou estarrecido com a afirmação de que civis inocentes foram mortos em Hiroshima e Nagasaki pela bomba por “um acidente.”[xiv] No Brasil, temos a constante sensação de que as populações marginalizadas continuam sofrendo “acidentes” análogos em operações policiais nos grandes centros. A morte de civis por uma bomba atômica é um “efeito colateral” de uma guerra tanto quanto a tortura e o assassinato premeditado de inocentes o são.
Sob o pretexto da “guerra ao tráfico de drogas”, operações policiais homéricas como a Operação Escudo são levadas a cabo todos os meses no país, com alto custo de vidas – para a polícia e para as comunidades. As constantes mortes de pessoas pobres e negras nessas operações deveriam ser abarcadas sob a presunção de que o Estado é responsável por homicídio sempre que não puder justificar a ameaça iminente total de morte do policial sem o uso da violência, sobretudo agora que há disponível a tecnologia das câmeras nas fardas.
Obliterar uma cidade inteira com a arma mais destrutiva construída até 1945 pelo ser humano era definitivamente um caso de homicídio – ou de guerra injusta. Operações policiais têm de ser analisadas caso a caso, mas o princípio geral a ser aplicado na sua avaliação (pressupondo que o combate ao tráfico é uma “guerra justa”) deve ser o mesmo que Anscombe delimitou para julgar as ações dos EUA na 2ª Guerra Mundial, por uma questão de justiça: mesmo se for possível legitimar o uso da força com um fim legítimo de garantia da segurança pública, esse fim não justifica qualquer ação policial, e as circunstâncias razoavelmente previsíveis pelo Estado têm de ser levadas em conta na responsabilização dos agentes policiais.
Afinal, a presunção de inocência e o princípio penal da legalidade são questões de justiça, cujo respeito confere racionalidade à aplicação do direito. Sem isso, a autoridade jurídica degenera na imposição da mera força bruta, conduta típica de Estados policialescos e totalitários. [xv]
*Martin Magnus Petiz é mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo (USP).
Notas
[i] 16 mortos em 6 dias: o que aconteceu na operação policial no Guarujá. BBC News Brasil, 2023. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2x54ynjzx4o
[ii] MONCAU, Gabriela. Chacina no Guarujá reforça papel da polícia no genocídio negro, afirmam pesquisadores. Brasil de Fato, 2023. Disponível em: < https://www.brasildefato.com.br/2023/08/03/chacina-no-guaruja-reforca-papel-da-policia-no-genocidio-negro-afirmam-pesquisadores
[iii] Ver HART, H.L.A. Prolegomenon to the principles of punishment. In: HART, H.L.A. Punishment and responsibility: essays in the philosophy of law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 4 e ss.
[iv] RAWLS, John. Two concepts of rules. The Philosophical Review, v. 64, n. 1, p. 3-32, 1955, p. 11-12.
[v] Ibid., p. 6-7.
[vi] “Cláudia* chegou ao protesto [contra as mortes na Operação no Guarujá] poucas horas depois de enterrar seu tio, morto pela PM na última sexta (28). Evandro da Silva Belém, conhecido na quebrada como ‘Meu bom’, tinha 35 anos. Segundo sua sobrinha, ele estava recolhendo entulho quando policiais chegaram. Alguns saíram correndo. Ele não. ‘Ele não correu porque não devia nada. Arrastaram para um beco e mataram. Ele deixou duas filhas’, contou Cláudia, mostrando o braço arrepiado ao falar do tio. ‘Quer dizer que porque a gente é pobre, tem que ser tratado desse jeito?’, se indigna. ‘Não é operação, é opressão’, resume.” MONCAU, Gabriela. ‘É vingança’: moradores do Guarujá e movimentos sociais denunciam execuções e pedem saída de policiais. Brasil de Fato, 2023. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2023/08/02/e-vinganca-moradores-do-guaruja-e-movimentos-sociais-denunciam-execucoes-e-pedem-saida-de-policiais.
[vii] LIPSCOMB, Benjamin J. B. The women are up to something: how Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley, and Iris Murdoch revolutionized ethics. Oxford: Oxford University Press, 2022.
[viii] Ibid., p. 156-157.
[ix] ANSCOMBE, G. E. M. Modern moral philosophy. In: ANSCOMBE, G. E. M. (Ed.). The collected philosophical papers of G. E. M. Anscombe. Vol. 3: Ethics, religion and politics. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1981, p. 31-33.
[x] ANSCOMBE, G. E. M. War and murder. In: ANSCOMBE, G. E. M. (Ed.). The collected philosophical papers of G. E. M. Anscombe. Vol. 3: Ethics, religion and politics. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1981, p. 52-53.
[xi] Ibid., p. 54.
[xii] LIPSCOMB, Benjamin J. B. The women are up to something: how Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley, and Iris Murdoch revolutionized ethics. Oxford: Oxford University Press, 2022, p. 158-159.
[xiii] ANSCOMBE, G. E. M. War and murder. In: ANSCOMBE, G. E. M. (Ed.). The collected philosophical papers of G. E. M. Anscombe. Vol. 3: Ethics, religion and politics. Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1981, p. 58.
[xiv] Ibid., p. 59.
[xv] Agradeço aos comentários críticos de Caio Tolentino e Gilberto Morbach a uma versão provisória desse texto.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA