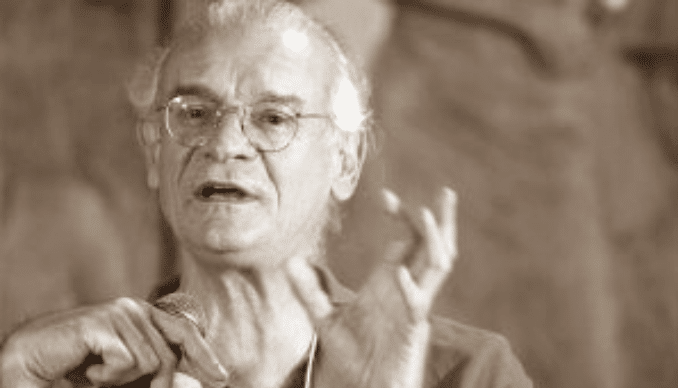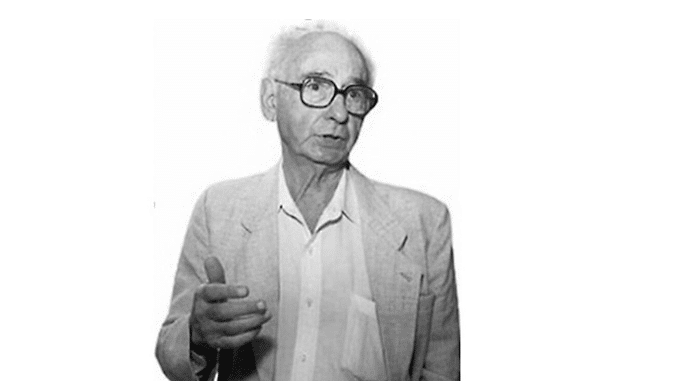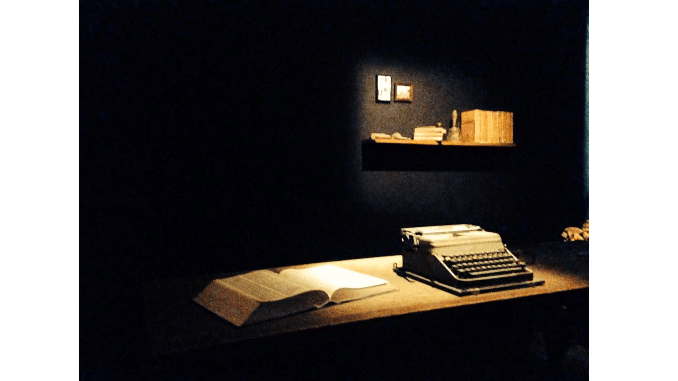Por FLÁVIO R. KOTHE*
O discurso da história existe para que não se ouçam os gemidos dos vencidos
Ao se estudar o cânone de uma arte nacional, busca-se, por meio da releitura de determinados pontos sintomáticos, nevrálgicos, indiciar a estrutura, desnudando a ilusão de totalidade e mostrando qual o estratégico movimento ideológico perpetrado pela consagração de um texto. Ainda que o hipotético levantamento dos textos olvidados e suprimidos pelo discurso oficial pudesse ser um caminho alternativo para chegar ao avesso fundante dos fatos, também é possível, pela releitura de textos sintomáticos do cânone, entender as forças que movem essa história. Propor outro cânone só poderá ser feito se houver poder para tanto. Sem poder, é melhor calar quanto ao alter e buscar transcender o limitado horizonte vigente.
O arrolamento dos textos olvidados é uma impossibilidade documental, pois nem os mortos escapam ao gesto dos vencedores de selecionar, manipular e interpretar os fatos conforme as conveniências de sua autolegitimação. O processo de seleção histórica é cruel e restritivo: faz com que os mortos sejam jogados sob a pirâmide do tempo, sem resguardá-los dentro dela. Seus ossos raramente afloram; os raros pergaminhos resguardados dentro do templo são apenas o afloramento do topo de um iceberg destinado a ornamentar a paisagem e acompanhar a elite dominante, consagrando perenemente a sua política. O cinismo inconfesso é a verdade dessa auratização legitimadora.
O discurso da história existe para que não se ouçam os gemidos dos vencidos. Se algum gemido se ouve na história literária, é para anunciar a vingança e a vitória próxima e já advinda de quem se apresenta como justiceiro a resgatar dívidas acumuladas. Há uma hipocrisia inconfessa em todo o sublime consagrado no cânone.
A “verdade” do cânone da arte nacional pode ser lida na lógica interna do seu sistema, ainda que sua historiografia não a perceba por ser incapaz de questionar os seus pressupostos. Ele como que se “comprova” pela lógica de sua coerência, “demonstra-se” ao se mostrar. A verdade não está na lógica interna do método, pois aí só se tem coerência de um sistema, uma “correção”: ela é o “objeto” aparecendo, desde que o “objeto” não seja reduzido a uma projeção do sujeito, que diz que o descobre enquanto o constitui. Não só se trata de obras de ficção, mas, assim como o conceito de obra é uma ficção, o próprio sistema que as institui como canônicas é uma ficção, ainda que tenha sido transformado em realidade nas escolas de todo o país.
O que se pode hoje fazer é o esboço de um novo percurso, prolegômenos de uma perspectiva que, embora pareça unilateral e sacrílega, é uma sacudidela necessária ao emperramento do canonizado, prenunciando o surgimento de uma literatura que reflita o encontro e desencontro de culturas no país. Todo texto contém em si outro texto, que o nega, mas não existe sem ele. É a sua alternativa interiorizada. Esta sombra, que o acompanha às costas e não é vista por quem marcha à frente, é a verdade secreta do sistema, tendendo inclusive a ser o avesso de seu discurso manifesto.
É como o conteúdo latente do sonho ou do ato falho, uma fala segunda aflorando pela falha, um fiapo de luz em meio às trevas (trevas que se apresentam, porém, como certeza e luz). Este outro texto está presente no texto, mas somente se chega a ele por meio da interpretação. É um antissistema do sistema, que a dominante do texto e de sua interpretação não quer que se perceba, pois a nega e sugere caminhos de superação. Todo sistema gera seu antissistema, ainda que não queira.
Não se trata de inventar um texto arbitrário que o escritor deveria – segundo o hermeneuta – ter escrito, mas não escreveu por causa das cadeias impostas pelo sistema. Esse outro texto, esse texto alternativo está inscrito no texto manifesto, e é, mais que o seu outro lado, uma possibilidade em aberto que ele não ousou percorrer: é o horizonte do seu questionamento, de onde o seu percurso se mostra como limitação e errância. A história inscreve esse outro texto no próprio texto, sem que o autor saiba que o fez. É como se o autor desse outro texto não fosse um autor, mas a evolução das contradições sociais.
Trata-se de tornar produtiva a contradição entre conteúdo manifesto e conteúdo latente do texto, como se fossem dois textos disfarçados em um só. O novo texto, gerado a partir da auscultação do texto latente – seja em forma de crítica, seja em forma de novo texto literário –, pode tornar-se mais que a explicitação do reprimido: pode escutá-lo em sua liberdade, como um novo ente, um outro ser.
Esse outro está, no entanto, presente. É uma tendência da identidade não aceitar o outro como outro nela mesma, como alternativa constitutiva de si própria. Sua identidade só é, no entanto, identidade enquanto diferença. Não dando espaço à diferença enquanto diferença dentro de si, a identidade, pretendendo ser a totalidade, tende a tornar-se totalizante, sem que ela própria se encare como totalitária. Consegue tornar-se danação do alter, encarando-o como “demoníaco”. Diante da força do inevitável, tende a haver a submissão à vontade dominante. Esta não se reconhece como prepotente, nem a vítima pensa que é vítima.
As “escolas” que se formam no meio acadêmico endeusam figuras cujas limitações não são percebidas e reprimem o espaço para quem possa constituir alternativas válidas. Em nome da virtude se praticam crimes intelectuais. Há um cinismo que permeia o sistema e impede que ele progrida. O bom é inimigo do melhor, pois este poderia mostrar que ele é mediano, incapaz de ultrapassar seus limitados horizontes.
Todo gesto que procura desvendar o poder e desvelar a repressão tende a parecer “arrogante, desafiador, impatriótico, sacrílego”, ou seja, nele se projetam exatamente os traços do que ele pretende superar: assim é tratado em nome do nacional e do popular, dos nomes consagrados e princípios indubitáveis, para ser condenado, para ser-lhe negado apoio e voz. Continua, destarte, onde sempre esteve: no fundo do poço. Têm razão esses que acusam, embora se rejeite também a sua “razão”, a sua “moral”, a sua “arte”.
Pascal achou que a verdade pode ajudar a quem a ouve, porém não ajuda a quem a diz. Não se pode mais, hoje, encher a boca com a palavra “verdade”, como se houvesse apenas um caminho, uma luz, “justamente” o que é imposto a ferro e fogo. Um texto alternativo precisa ser articulado no olvido e na sombra, à beira da sua impossibilidade, na quase certeza de ser natimorto, marginal. Ele é, porém, exatamente o contrário do que parece: não desafia nada, sabe que não será “discurso” e pode ver de antemão perdida a sua contribuição: não quer mais salvar nada, a não ser a própria gana de pensar. Nem por isso deixa de elaborar uma alternativa.
A diferença é que se estabelece a possibilidade e até a necessidade de um diálogo, que não é, de fato, reconhecido pela dominante do sistema, pois esta quer continuar falando sozinha, em nome do todo, como se fosse a totalidade. O Brasil, enquanto país ainda parcialmente atrasado, tem dificuldades em articular algo que seja reconhecido como ciência no plano internacional – e isso não só por certa arrogância ou falta de boa vontade de países industrializados em reconhecer a qualidade da produção da periferia ou por sua tendência de somente aceitar aquilo que esteja de acordo com suas próprias expectativas, mas também por uma frequente falta de densidade dos estudos oriundos de meios intelectualmente pobres.
Por isso, não só o esforço precisa ser dobrado e redobrado, como também é preciso perceber que, em países “democráticos”, como a Alemanha e os Estados Unidos, também foram perseguidos e difamados muitos intelectuais que propuseram a revisão de pressupostos considerados intangíveis pela direita reacionária.
A carência de disponibilidade da dominante em ouvir o outro em sua alteridade impede que essa diferença se torne parte da contradição inerente à identidade. Essa negação determinada significa exclusão; ela tende a acarretar um auto enfraquecimento do sistema pelo temor de enfraquecimento da dominante demasiado restritiva. Ilusão da proposta alternativa seria, no entanto, ela querer postular-se como redenção, como parceria, como alternativa: ao postular um assento à mesa, coloca-se como igual ao que ela nega; assim, nega a si mesma. Ilusão também seria propor-se como dona da verdade, dentro de um conjunto de regras ditadas por quem ela questiona (por exemplo, restringindo o seu horizonte de conhecimento às obras do cânone). Ao questionar a verdade do cânone e a verdade da interpretação canonizada, ela não deve apenas propor outra verdade, mas questionar o próprio conceito vigente de verdade.
A mentalidade colonial acha que só imitando modelos da metrópole se pode fazer arte ou ciência; a ruptura se daria quando o ponto de partida e primeira chegada passasse a se dar dentro da sociedade brasileira. Essa postura, ainda que pareça redenção da história, pode ser, por sua vez, uma mentalidade estreita, prisioneira daquilo que imagina ser o ideal da nacionalidade, incapaz de produzir algo que, indo além do exótico, possa constituir arte ou ciência capaz de transcender o horizonte interno do já produzido no país. Ainda que pareçam antitéticas, são posturas complementares, um empobrecimento e uma abdicação ante horizontes mais amplos.
Ainda que haja exploração e espoliação, é insustentável culpar os países ricos por toda a miséria do continente. A nudez índia era sinal de pobreza e atraso antes de qualquer presença “colonialista”, mas tem sido romanticamente sublimada. Já Colombo registrava a miséria dos índios, que tem sido camuflada sob a ideologia do natural, do ecológico, da igualdade das culturas etc. Essa pobreza, não apenas material, torna-se uma herança que, com o reforço do escravagismo, se reproduz e se multiplica, como se fosse trágico destino, tornando como que irredimível a sociedade toda. Não basta alegar que todas as culturas são válidas, umas não podendo ser mensuradas pelas outras, sendo preciso, por exemplo, valorizar o caráter ecológico do tribalismo indígena.
A tradição de atraso econômico e científico brasileiro, o não favorecimento do pensar diferenciado das minorias, o sistemático estrangulamento do pensamento crítico, a pobreza material e mental do país e outros fatores fazem com que haja um emperramento, uma falta de atualização do cânone literário e de sua interpretação: a modificação destes faz parte da superação daqueles. Não se trata de adotar alguma teoria em moda, preferencialmente de Paris, para aplicá-la em autores brasileiros.
Poderia tratar-se de estabelecer um diálogo interno, já que toda produção conceitual em língua portuguesa tende a ser ignorada no plano científico mundial. Seria ilusão, porém, esperar que o discurso vigente esteja disposto a aplaudir a fala divergente, ainda que esta seja provocada pela unilateralidade do estatuído e instituído. Somente a crítica permite o avanço da ciência, mas, sozinha, como questionamento da opinião institucionalizada, não basta; precisa dizer a que veio, se quiser alcançar novo nível de positividade.
A tradição brasileira é autoritária, racista e oligárquica. A mentalidade esclarecida não é sua dominante histórica. Alterar o esquema do cânone demanda uma alteração mais ampla. Cabe perguntar, se entre pessoas “cultas” se tem um perfil de caráter melhor ou se elas têm apenas mais aparelhagem para ampliar e disfarçar maldades e egoísmos. Supõe-se que pessoas mais cultas sejam mais livres, mas isso não significa que estejam abertas a conviver com o que as supera.
A tese da necessidade de substituir o complexo de vira-lata, de inferioridade do subdesenvolvido, por uma pretensa superioridade – com a suposição de que o pensamento latino-americano é superior ao europeu porque, além de contar com a herança europeia, contaria também com a contribuição das culturas nativas e o desenvolvimento autóctone da mestiçagem cultural – não consegue sustentar-se na prática, pois raramente houve herança integral da melhor cultura europeia e, por outro lado, as culturas nativas não conseguiram constituir efetiva antítese. Somadas ao legado da escravidão, barram o progresso. Quanto mais estreita a mente, mais dogmática ela tende a ser.
Quanto maior o sufoco, menos ele aparece publicamente. Quem tenta ir aos fundamentos é execrado. A ditadura militar perseguiu as cabeças mais brilhantes, mas teve para isso apoio interno nas universidades. O aluno brasileiro não é em geral capaz de argumentar nem de pensar por si. A mediocridade atrai a mediocridade na proporção direta das massas e se alia contra o talento. Há patriotismos que celebram a mediania e se tornam perniciosos ao que dizem defender.
Supor que os portugueses tenham sido mais tolerantes com as culturas autóctones que o colonialismo espanhol, francês ou inglês não só escamoteia massacres e barbáries: faz parte da metamorfose da história em “conto de fadas” inerente à perspectiva dos vencedores, em que a crueldade (dos outros) aparece para melhor ser superada, para ser vencida pelos “melhores” (“melhores” porque vencedores). Criminosos aparecem como heróis, enquanto heróis são esquecidos ou criminalizados.
Ainda que durante o período colonial Portugal fosse atrasado em relação à Inglaterra e à França, representou o horizonte do “progresso” para o Brasil, não tanto, porém, por sua ação administrativa, e sim porque a colônia se tornou um refúgio de portugueses perseguidos, discriminados e insatisfeitos, assim como se tomou também o refúgio de outros povos depois da independência.
A história do Brasil não está tanto em episódios da administração colonial quanto na migração e na evolução social constituídas à margem da política oficial. Os escritores brasileiros não restringiram o seu horizonte de referência à literatura portuguesa: pelo contrário, quanto mais preocupados com a brasilidade, tanto mais buscaram outras fontes. A literatura brasileira não descende da portuguesa, ainda que somente a de língua portuguesa seja reconhecida como parte dela. Isso irrita ao espírito colonial lusitano.
Embora na Europa prepondere ainda hoje uma visão romântica do índio, as culturas tribais precisaram decidir entre suas tradições e absorver produtos da indústria. O moderno surgiu da vivência da grande metrópole decorrente da industrialização: o modernismo paulista auratizou a antropofagia, para combater a industrialização. Se, na era da execução dos prisioneiros, a escravidão parecia progresso humanista, ela própria era barbárie. Tais estruturas fazem parte do inconsciente coletivo e filosófico, continuam existindo sob novas formas.
O progresso acumula ruínas e cadáveres, alegando que são o preço a ser pago. A pretensão mexicana (Leopoldo Zea, Octavio Paz) de uma síntese superior da cultura nativa com a europeia parte da ingênua crença em uma superação dialética, mas que por si não garante algo superior. É melhor deixar de lado pretensões de superioridade (que exaltam o status quo) para reconhecer limitações objetivas a superar. É constitutivo do poder o gesto de reescrever de tal modo o pretérito que, no fim, se auratiza o status quo como a melhor sociedade possível, ou ao menos caminho para ela.
Certa inclinação à autossuficiência dos “centros de excelência” nos países industrializados – com a consequente redução da produção intelectual dos países menos desenvolvidos ao olvido ou, no máximo, ao exótico ocasional, sem serem considerados parceiros de um diálogo internacional igualitário contém, no entanto, uma falácia, à medida que quer fazer de sua visão parcial a única dimensão científica da realidade, e, de sua perspectiva, a única que conduz ao conhecimento.
Sem levar em conta o que fica do outro lado e o que pode ter sido pensado da perspectiva do outro, inclusive desse “mestiço do Terceiro Mundo”, não é possível indiciar a totalidade. Embora esta seja uma ficção epistemológica, inclusive uma categoria enganosa, não se chega à ciência sem buscar um máximo das determinações do objeto. A verdade absoluta é uma utopia. O totalitário impõe visões parciais e estreitas como se fossem absolutas: falácias da sinédoque.
Mesmo não se considerando imprescindível a categoria da totalidade para o conceito de verdade, já se tornou evidente, para os “provincianos”, a limitação do pensamento eurocêntrico (que não abrange toda a Europa nem se reduz a ela) ao supor que a história e a cultura de uma região é a de toda a humanidade, como se as suas leis fossem as únicas que contam. A arrogância de intelectuais das metrópoles, ao considerarem o seu horizonte como absoluto, só perdurará enquanto a “periferia” permanecer periferia, local de eco, não fonte geradora de ciência e de arte de ponta.
Rediscutir isso, sem autossuficiência nativista nem arrogância metropolitana, com um diálogo internacional deficitário, mais o aprendizado da diferença, da “contradicção”, da tolerância do diversificado, poderiam criar espaço para a formulação de um pensamento que, se não beira a “totalidade”, “logra” verdades escamoteadas. Estas, gestos de um anãozinho pequeno e feio, escondido sob a maquinaria do cânone, procuram, dentro dos lances de um jogo infindo, indiciar as paredes da prisão mental, com grades que permitem ver além do seu limitado espaço.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática).
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como