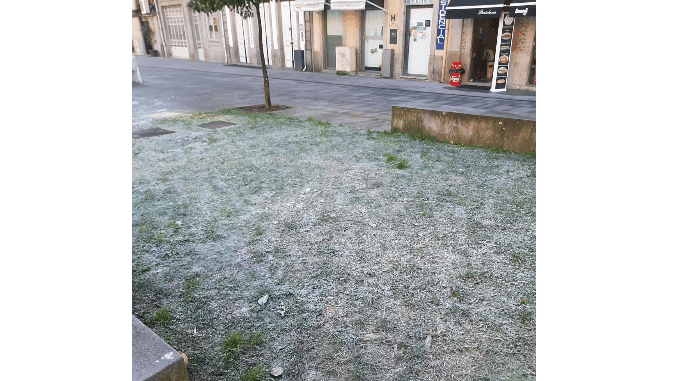Por ALEXANDRE DE OLIVEIRA TORRES CARRASCO*
Comentário sobre o livro recém-lançado de Hernandez Vivan Eichenberger
“Duas coisas admiro: a dura lei – cobrindo-me – o estrelado céu – dentro de mim” [Orides Fontela Kant (relido)].
O trabalho em questão – notável sob vários aspectos, e objeto dessa modesta apresentação – Pobreza e Plebe em Hegel, de Hernandez Vivan Eichenberger, põe várias questões e não questões menores, a se confirmarem no leitor as suspeitas dessas mal sapecadas linhas. Essas questões se orientam a partir de um núcleo organizador, cuja singularidade latente perpassa todo o texto, e do qual pretendemos tomar de empréstimo seus efeitos, tal como uma analogia, uma analogia em miniatura, se nos permitem a imagem, do movimento próprio do texto de Eichenberger.
Sem suspense, e notamos, ademais, a filosofia hegeliana não guarda o suspense nem para o começo, nem para seu fim, mas sobretudo para o “meio” em que se dá; e sem suspense, reiteramos, há um propósito metodológico que orienta o texto – que o perpassa de ponta a ponta, e fica entre o pressuposto e o latente, arriscamos –, e, mais que propósito, é algo como uma proposta metodológica, cuja boa leitura dar-nos-ia uma chave não só de compreensão do “moto próprio” do texto, mas do problema chave que ele toca na Filosofia do Direito, de Hegel, texto-objeto da investigação de Eichenberger.
O problema, que organiza a exposição de Eichenberger, gira em torno da sintaxe especulativa dos objetos centrais da Filosofia do Direito, a saber, o Estado, a vontade e a liberdade, e seus limites, isto é, do modo como seu processo de efetivação, de realização, diga-se, produziria ou se desdobraria em um elemento heteróclito, a plebe – não propriamente imprevisto, mas residual e necessário. Logo, no centro do texto, localiza-se um descentramento, um tipo de incômodo especulativo, incômodo que reaparece em outros textos de Hegel, com maior ou menor ênfase, como perscruta Eichenberger.
Não surpreenda daí que para tantos comentadores da fortuna crítica que Eichenberger diligentemente repertoria, será a Filosofia do Direito o texto dos mais comprometedores de Hegel e de sua herança, sobretudo se notarmos que em tempos recentes, esse nosso, testemunhamos o retorno de várias matizes de “contratualismo”, sob as mais variadas roupagens – o que não por acaso reaviva “os instintos mais primitivos” de algum leitor mais inconformado com os ares do tempo. A poderosa ofensiva hegeliana aos contratualismos fundados em uma “vontade” chamada livre, mas que é tão somente “abstrata”, põe muita água crítica ao sentido comum de “vontade” e “liberdade”, e não apenas nesses elementos como cabe destacar.
Com soe acontecer em movimentos impregnados de hegelianismos, dirão à direita e à esquerda, corre-se aqui sério risco de perder o fio, às vezes, a meada.
Não percamos nem um nem outro. Veja a seguinte passagem: “Nosso objetivo consiste em mostrar como o exame da plebe na Filosofia do Direito é aporético. Isso decorre porque a aparição conceitual da plebe não recebe tratamento adequado às contradições ali delineadas. Isto é, a plebe aparece, a essa altura, como um resto incontornável produzido pelas contradições das sociedades de mercado. Há, dito de modo sumário, duas saídas homólogas aqui: a recusa em aceitar a aporia, pois simplesmente “Hegel não queria em sua exposição esgotar o tema”; ou então aceitar a aporia por razões históricas, eventualmente conectando forçadamente o conceito de plebe ao de proletariado, por exemplo. Gostaríamos de nos afastar de ambas as resoluções, embora, é válido sublinhar, sejam soluções influentes que estão presentes em muitos comentadores que foram vitais para a realização desse trabalho. A aporia que pensamos ter notado exige que ampliemos o ponto de vista de análise a fim de que abarque outros trabalhos de Hegel a fim de reunir pistas que possam renovar o tratamento da questão”.[i]
Adiante, Hernandez não se furta a especificar a natureza do tratamento (metodológico, por óbvio) que dá ao texto de Hegel: “não iremos nos ater a uma estrutura linear nesse trabalho. O ponto de partida é a Filosofia do Direito e tudo o mais se ilumina a partir da problemática nela encontrada. Nesse sentido, o movimento que conduz esse trabalho será progressivo e regressivo, além e aquém da Filosofia do Direito”.[ii]
Aqui, o nosso ponto de partida, e o nosso ponto mal se resume a isso (o espírito dialético obriga: o começo é o fim, o fim é o começo): o modo como dá Hernandez tratamento formal à matéria de seu trabalho, acaba por revelar o seu conteúdo. Expliquemos: o sentido aporético que descreve Hernandez, não é fim, é o começo do problema, e de um problema com mais de uma entrada. Ele traduz aquilo que melhor caracteriza a filosofia hegeliana: o momento em que ela não se deixa entender pela sintaxe do entendimento. Melhor: será no limite da boa (da melhor) história da filosofia que se apresenta o núcleo propriamente especulativo da Filosofia do Direito.
Por meio da descrição desse núcleo especulativo, que Eichenberger visa à plebe, como que dando a volta astutamente em seu objeto, tal o conceito se apresenta nos parágrafos que vão do 243 ao 248. Nesse pequeno intervalo do texto, começo e fim de seu esforço, ele localiza o modo como se estrutura, de maneira aporética, o problema da plebe. A plebe é o que, do avesso da prosa do mundo – do mundo da prosa – deformação que lhe impõe a história da filosofia, resta como espécie de franja inassimilável de um processo de que lhe é tributária e que lhe produz como resíduo. A questão passa a ser: de que prosa se trata, qual filosofia?
Seja resíduo, seja resto, a plebe estará na borda do processo moderno de realização da liberdade e que constitui o sentido propriamente moderno dessa mesma liberdade – nem livre arbítrio, nem “vontade livre” tomada como particularidade abstrata, ainda que essas figuras carreguem nelas mesmas o anúncio do sentido moderno da experiência, a consciência (de si) da separação, por oposição à não cisão do ser humano, no mundo antigo. Aqui está, entre os modernos, sem espírito, sem negatividade no sentido próprio, a plebe como aquilo que escapa da realização ética do espírito, ainda que seja efeito do último, à seu modo deformado, digamos assim, resultado necessário de um processo que, ao por demandas de reconhecimento, lhe interdita esse mesmo reconhecimento.
Antes que nos acusem de algum tipo de prestidigitação (a famigerada dialética como vida animal dos paralogismos da razão), explico melhor, ainda uma vez: Hernandez, deliberadamente – logo, consciente dos limites, materiais e formais, que isso lhe impõem– reduz o seu problema a um gênero crítico, toma como aceito, portanto, o imperativo metodológico da disciplina. Nisso não encerra a questão: abre-a por meio dos limites que se lhe impões esses outros limites. Por meio dos limites negativos do gênero – a nossa boa e velha história da filosofia – é que ele tangencia os limites especulativos que a plebe impõe à fúria de totalização tão moderna, demasiado moderna, em Hegel.
Aqui reencontra e reencontramos o problema hegeliano, em sentido substantivo, a saber, o destino da dialética, o que, como deve, permanece pressuposto em seu trabalho. Ou por outra: o negativo que mobiliza lhe dá o avesso da dialética: seria o que a história da filosofia não pode apresentar, apenas descrever, aquilo que Hegel não representa, mas necessariamente apresenta (Darstellung: exposição em sentido especulativo)? Logo: o avesso da dialética na disciplina do entendimento? Reforço: o abstratamente negativo da história da filosofia dá-nos a verdade da imagem de um telescópio: a força, a potência de uma luz que já brilhou. E se ela ainda brilha? Logo, seu esforço “regressivo e progressivo”, penteando a pelo e a contrapelo o texto hegeliano, obedece a uma máxima negativa: como se a prosa do mundo (notável expressão hegeliana, cuja enunciação, emergindo e submergindo na história do pensamento, desde o século XIX até alhures, remete-me quase imediatamente a Balzac e suas Ilusões Perdidas) fosse o mero mundo da prosa. Ora, esse é o efeito crítico e abstrato que esse recorte produz (sabidamente): ele transforma a prosa hegeliana em uma prosa de si, para bem e para mal. O próximo passo é dar à dialética os ares de retórica, e voltar contra ela os golpes tão conhecidos do discurso crítico.
Daí o efeito aporético, palavra na qual insistimos, cujo sentido metodológico enunciado por Eichenberger já nas primeiras páginas do livro, desdobra-se no elemento mais substantivo do percurso: a marca “negativa” da plebe (melhor seria, em linguagem especulativa, dar-lhe o positivo como etiqueta), flutuante – uma maneira especulativa de visar ao aporético, mas em um sentido específico, o das “significações flutuantes”[iii] – é o sentido chave na compreensão de Eichenberger do problema, e, permita-nos, leitor, na contribuição que dá ao estado do problema, e que pode ser entendido como um limite lógico-especulativo, a fronteira que o texto hegeliano tangencia quando lido com a lente abstrata da história da filosofia. O importante: nisso não há nenhum demérito, contra qualquer aparência sensível, é simplesmente nosso modo específico de superpor o gênero “filosofia” ao gênero “história da filosofia”.
Faço uma pausa, e explico. A história da filosofia como disciplina – entre nós, antecipemos – constitui-se por meio de um amálgama de motivos kantianos (cartesianos no espírito, diríamos) e hegelianos. Como tal, é uma disciplina moderna e traz consigo, formalmente, aquilo que Hegel chamaria de a consciência da separação, dada na experiência moderna a partir do desenho em bico de pena que faz o cogito cartesiano do que passa a ser entendido com subjetividade: o ponto de vista unilateral do fundamento constituindo a experiência original de si – o fundamento do si é o si separado tal como o fundamento passa a ser o que se separa do fundado, nesse alvorecer da filosofia moderna. Ocorre que, para efeito prático, para efeito de constituição de uma disciplina e, sobretudo, de uma prática universitária – longínquo ideal do século XIX, pós Revolução Francesa, ideal em relação ao qual Hegel não se sentia nem afastado nem estranho – fez-se necessário incorporar pelo menos dois elemento heterogêneos: a ideia de uma história da filosofia, por um lado; a condição dessa história da filosofia ser especificamente negativa, por outro lado.
O elemento negativo kantiano – o transcendental e seus mistérios – deveria neutralizar os elementos positivos do hegelianismo triunfante, a totalização por meio do espírito absoluto. Se, por um lado, Hegel teria sido o primeiro a por claramente o problema de uma história da filosofia, no momento em que o sentido ocidental de história se descobre em sua máxima evidencia, após a Revolução Francesa, será igualmente ele que dará status inédito a tópica “história da filosofia” (convenhamos, recorrente desde Aristóteles). Será com essa desenvoltura que ele constitui os elementos da constelação de sua filosofia da filosofia da história. Ao fazer isso, e fiel a certo espírito moderno, entretanto, ele o faz positivamente, pois cada filosofia ao se manter como verdade relativa negada por um outro filosófico – uma outra filosofia –, totaliza-se em relação ao espírito absoluto, positivo que decorre do acúmulo de negatividade dessa história. Esse arranjo nos colocaria, diria os kantianos, abertamente capturados ao que eles considerariam como um retorno à metafísica sem crítica, ao dogmatismo, novamente na região aquosa da metafísica sem crítica, que é igualmente a região do conflito das filosofias, fazendo com que, inesperadamente, a depender da crítica, que a dialética convirja enfim à retórica – passaríamos inadvertidamente, o que é mais grave, de Heráclito à Protágoras.
Qual providência tomar em relação a isso, perguntaria a internacional dos universitários? Uma história da filosofia que sendo, abstratamente negativa (no sentido hegeliano de abstrato) não se impregnaria por um positivo a se acumular, não totalizaria (em linguagem especulativa) pois não acumula negatividade (não totaliza as filosofia em uma certa filosofia ou na filosofia), antes, dissipa negatividade – o que nos remeteria a mais de um motivo cético para reenquadrar o problema,logo, a uma história da filosofia que apenas se repete como negação indeterminada de si. Hegel, não sem razão, veria nisso o esgotamento do gênero (sua incapacidade de totalizar em uma época). Eis nossa tradição a passeio: o turismo em história da filosofia é trabalho sério (e negativo), a ossatura da abordagem científica que nos restou, e sem resignação, reconheçamos a parte que nos cabe.
Antes, porém, que as tintas da melancolia (melancolia de uma história que acabou mal, a depender da versão) nos tome de roldão, passemos ao outro lado do mistério, à Filosofia do Direito.
Texto final de Hegel, A Filosofia do Direito (o Projeto de reforma inglês só foi publicado integramente de maneira póstuma), fruto e efeito de sua vetusta madureza, revela-se de uma agudeza a toda prova. Não tanto porque testemunha, e disso é testemunha empírica e transcendental, um extraordinário ciclo histórico que caracteriza a experiência moderna por excelência, da Revolução Francesa à Restauração, da divisão do trabalho à ascensão do Império Britânico e com ele do capitalismo moderno. Mas porque pode dar trato teórico e especulativo a esse testemunho a partir do ponto de vista especulativo que paulatinamente (o trabalho do negativo) se constitui dede a Fenomenologia do Espírito.
Nisso, tudo indica que Hegel tenha sido fiel ao espírito de sistema (não saberia precisar o quanto, e toda questão também passa por aí), ainda que poucos se deem conta do sentido específico do famigerado espírito de sistema em Hegel e o reduzam simplesmente ao dogmático. Aqui, a preguiça do entendimento.
O objeto privilegiado da Filosofia do Direito, a vontade livre (liberdade e estado correlacionados àquela), à primeira vista, parece-se com tudo, menos com “vontade livre”. A chave da boa leitura repousa exatamente nesse “à primeira vista”. O óbvio a dizer é que próprio da experiência moderna, sucedâneo da consciência da separação, é justamente sua não adesão ao imediato. O corolário dessa não adesão, fundamento da subjetividade, nos termos da Filosofia do Direito, é que a vontade livre, em correlação com a liberdade, só se põe mediatamente, só se dá institucionalmente.[iv] A liberdade, para não ser meramente abstrata, negação indeterminada, e aqui toda a polêmica que também atravessa a Filosofia do Direito, acerca do juízo de Hegel em relação à Primeira República Francesa e ao jacobinismo, repousa igualmente nessa operação especulativa.
A liberdade em sentido próprio deve se dar como determinidade, não com indeterminação abstrata: o ardor jacobino, por exemplo. Como momento determinado do conceito, logo, a liberdade de que fala Hegel é o sentido moderno de estado que emerge da Revolução Francesa. Daí o busílis da critica hegeliana a Rousseau: a vontade geral, objeto e efeito do contrato legítimo, não passa de uma vontade particular, do ponto de vista hegeliano, ou de uma vontade comum, que congrega os particulares enquanto tais, não permite que a constituição do estado ultrapasse os limites da particularidade (e do entendimento, vale dizer).
Nos termos da Filosofia do Direito, essa vontade é uma vontade hipostasiada, cuja radicalidade – de fundamento e de efeito, a fundamentação irrestrita e necessária da legitimidade do contrato social por meio de uma adesão particular – é resultado direto de sua falta de substância (falta de substância é ausência de trabalho do negativo), em mais uma operação típica da ilustração francesa, cuja marca específica decorre do fato muito específico de que nela o conteúdo moderno se conjuga com uma forma arcaica ou pré-moderna (diagnóstico agudo da Fenomenolgia do Espírito, a propósito de um Sobrinho devasso e suas peripécias, e que reaparece, com outra roupagem, na crítica tardia à ideologia francesa, tarefa excêntrica de certos círculos hegelianos de esquerda).
Ora, vontade e liberdade só se realizam no momento em que o Estado se dá como pressuposto de sua efetivação. O que significa que não há como pensar o estado moderno como efeito de uma vontade livre que lhe seja anterior (inclusive logicamente), cuja forma fictícia de um contrato passou a ser a configuração canônica, mas justamente o contrário: é a posição do estado, momento do espírito, que torna possível, como condição de possibilidade, a vontade livre, já que ela só se efetiva “institucionalmente”, e, por extensão, a própria liberdade se se efetiva como negatividade no interior da mediação.
A negatividade – a liberdade, nesse caso – deve dar-se na mediação, e por meio dela. Essa é a “forma institucional da negação” de que fala Vladimir Safatle, e que identificamos (cremos que com ele) como o núcleo especulativo da Filosofia do Direito. Será esse núcleo que opera a tensão entre o negativo inscrito em uma institucionalidade que deve dar conta, apesar dela mesma, das demandas de liberdade e reconhecimento que esse negativo lhe impõe. Nesse rearranjo, o particular realiza-se nessa inscrição a lei, e não contra a lei e a instituição, o conservadorismo moderado de Hegel está todo aí, e pelas melhores razões especulativas. A posição contra-intuitiva de Hegel se dá à medida que tomamos o contratualismo (e suas relações, aliás sofisticadas, a depender do ponto de partida, com o direito natural) como a gramática comum da experiência política moderna na passagem do XVIII ao XIX.
Abusando, diríamos: é a filosofia política do Antigo Regime em que a vontade particular podia intuitivamente ser substantivada na vontade do soberano e assim servir de fundamento ao Estado e ao poder. Hegel retoma esse vocabulário político mais ou menos consagrado (desde Hobbes, pelo menos, mas podemos recuar um tanto mais e reencontrá-lo em Machiavel, por exemplo) e o subverte (o nome disso, lembremos, é dialética): eis a “segunda natureza” (o mundo do espírito como segunda natureza que realiza a liberdade), tão presente na Filosofia do Direito, e que é uma das entradas para compreensão da reordenação do problema a que Hegel impõe. A eticidade (Sittlichkeit) dá-se essa segunda natureza: a liberdade não pode ser sucedâneo senão dessa segunda natureza (e não do mal afamado estado de natureza, como diz o direito natural) que se realiza na medida da realização moderna e atual do espírito.
“A realidade não se apresenta mais como dado bruto refratário à liberdade, mas como “o mundo do espírito produzido a partir dele mesmo, enquanto uma segunda natureza”.[v] Portanto, trata-se aqui de compreender o processo de objetivação da liberdade cristalizado nas instituições em geral que a expressam: “O ‘sistema’ da eticidade não é uma massa de regras ligadas umas com outras, mas sim uma autocompreensão comum em desenvolvimento (‘Espírito’) que pode ‘tomar corpo’ em instituições e pessoas”.[vi]
O fenômeno que descreve Hegel tem concretude inesperada se nos damos conta de que ele assiste como testemunha o vigoroso processo de divisão técnica do trabalho que acaba por liberar energias produtiva antes não imaginadas, e que tem como corolário teórico a economia política, da qual ele é leitor atentíssimo. Portanto, a liberdade aqui é a que está em curso nesses processos concorrentes de divisão técnica do trabalho e de revolução política, cujo efeito visível, naquela alvorecer do século XIX é um sem igual processo de racionalização do mundo.
Ocorre que esse processo produz o seu avesso e a notícia que temos dele é eivada de ruídos: eia a plebe. Ruídos aqui significam o tratamento de viés que pretende dar Hegel ao problema, que ele reconhece como próprio da modernidade.
Em passagem quase profética (como se a pobreza e a miséria não fossem da idade do capitalismo) é dito algo como: as sociedades modernas são ricas, mas não ricas o suficiente para acabar com a pobreza.
Com todo cuidado que toma Eichenberger para separar pobreza de plebe – cujo sentido e alcance moral diverge da mera pobreza –, o fato inegável é que há um processo que se dá entre a sociedade civil, cuja natureza burguesa leva a um desenvolvimento infinito da particularidade e o Estado, detentor do universal porque justamente institucionaliza a negatividade do particular, que produz um subproduto sem espírito, uma espécie de resto necessário do processo, a plebe.
A terapêutica que propõe Hegel – seja a colonização para mitigar o excedente populacional, seja a caridade, seja mesmo a guerra ou a pior das soluções, as revoluções – parecem, como soluções exteriores, realmente terapêuticas para um problema crônico, infenso à totalização do espírito, ainda mais se se leva em conta que há uma “plebe rica”.
Sobre isso, vale essa passagem exemplar, em que Eichenberger, ao investigar a fortuna crítica acerca do problema da plebe, apresenta as posições de Frank Ruda, sem propriamente aderir a elas.
A plebe, indignada e insatisfeita, acusa a sociedade, o governo etc. e declara que o estado da sociedade civil e a ordem do Estado são um estado sem direito”.[vii] Esse viés “positivo” da plebe escapa inteiramente a Hegel. Todavia, essa indignação da plebe resulta em uma contradição. Isso porque ela retira o padrão de sua crítica do próprio direito que denuncia como particular: “Porque, de um lado, sua falta não é reconhecida como uma injustiça pelo direito existente e, por outro, ele mesmo julga ser um insulto ao direito, uma injustiça; ele, ao mesmo tempo, julga que o Estado de direito dado não é um Estado de direito. Como o direito não apoia seu julgamento sobre a injustiça, ele experimenta a perda para ele de estar em seu direito, isto é, a legalidade como tal. Essa é a razão de sua indignação”.[viii]
Esse “direito sem direito”, isto é, a reivindicação de que a sociedade deve sustentar a manutenção de sua existência mesmo sem trabalho, é, contudo, uma reivindicação particular, a qual não avança à universalidade. Nisso consiste aquilo que Ruda chama de ressentimento, a saber, a pretensão do estabelecimento de uma norma que valha para si sem valer para os demais: “Sustentar um direito que fundamentalmente não complete as condições de possibilidade de ser um direito – por ser meramente particular – por ser um direito sem direito é a estrutura básica daquilo que se pode chamar de ressentimento em Hegel.[ix]
Fica claro que Ruda dá um passo adiante, que aqui não nos cabe avaliar. O que não é de menor importância é o quanto o tratamento aporético, por meio do qual Eichenberger constrói o problema, se ilumina por contraste, ao tratamento que lhe dá Ruda. Seria algo como o seguinte: há um passo especulativo que Hegel não deu e sem o qual a plebe perde sue possibilidade de inteligibilidade. Esse passo que nosso autor, por vezes, encontra em outros comentadores, ilumina o seu próprio, e no contraste, nós, leitores, variamos a nossa própria passada: ora a plebe está no centro da dialética – podendo inclusive ser o meio de retomar a tarefa de crítica da dialética que a própria tradição dialética acabou por exigir de seus legatários –, ora a plebe é a sua franja e a crítica se dá pela via do entendimento, algo nada estranho ao projeto adorniano de uma dialética negativa.
O que mostra Eichenberger a partir desse quadro não são as meras hesitações de Hegel e as propostas mais ou menos exteriores que ele elenca para dar conta da plebe. São as variações do próprio objeto, efeito mais objetivo dos processos disruptivos que constituem a própria modernidade, a nossa época, uma época em que a liberdade nos levou à perda dos vínculos substanciais com formas partilhadas de vida. A plebe não deixa de ser uma radicalização desse processo (e a palavra calha). O corolário do que chamávamos de terapêutica, e indicamos um pouco acima, não deixa de ser sugestivo: talvez daí se imagine o tracejado de uma linha que vai dos populismos contemporâneos, em que o “universal” precisa “encantar” todas as particularidades, às tarefas, exigências da universalidade, que o Estado deve dar conta – o que o deslocamento de populações na forma clássica do neocolonialismo do XIX, coisa de não pequena monta, representa como índice.
Encaminhemo-nos para o fim.
Assim, os momentos da realidade social mais importantes, isto é, mais ameaçadores e por isso recalcados, penetram na psicologia, no inconsciente subjetivo, mas transformados em imagines coletivas, tal como Freud demonstrou nas conferências no Zeppelin. Ele o coloca naquela série de imagens arcaicas, cuja descoberta Jung tomou-lhe de empréstimo, a fim de destacá-las totalmente da dinâmica psicológica e empregá-las normativamente. Tal imagerie é a forma atual do mito que exprime de forma cifrada o social: a concepção de Benjamin das imagens dialéticas pretendeu discerni-las teoricamente. Os mitos são tais imagens em sentido estrito, pois a metamorfose do social em um interno [ein Inwendiges] e aparentemente atemporal torna-o falso. A imagerie, literalmente compreendida e aceita, é falsa consciência necessária. Os choques da arte, afeitos a tal imagerie, gostariam especialmente de fazer explodir aquela inverdade. Por outro lado, os mitos da modernidade são a verdade, na medida em que o próprio mundo ainda é o mito, o contexto de ofuscamento arcaico. Este momento de verdade pode ser lido em muitos sonhos: mesmo nos mais intrincados, algumas vezes descobre-se sobre nossos conhecidos algo verdadeiro, ou seja, algo negativo, isento de ideologia, como o que está sob o controle do estado de vigília. As pessoas são como nos sonhos, e assim é o mundo.[x]
A imagem de uma filosofia, a rigor, deve funcionar como um redutor, não como um amplificador, encerra-lhe numa forma finita e pobre, sua sombra, por oposição às próprias coisas, a própria filosofia de que deriva. Nem sempre é assim. Talvez, por esses dias, ainda mais que antes. À boa história da filosofia, exige-se que se perca “a” filosofia: vão os dedos, ficam os anéis. Logo, dá-nos a sua melhor imagem, a da filosofia, e dependendo da qualidade da direção, dá-nos sob o seu melhor ângulo. A imagem da filosofia é aquilo que de não substantivo o tempo permite reter, o que se descola como “mito” do seu próprio tempo histórico. Alguém já disse, não sem razão: algum pequeno retângulo de acetado e nitrato de prata, às vezes, tem o condão de salvar a honra de todo real.
Post festum. Adorno ao recompor os sentidos da dialética e dar-lhe notável amplitude, fornece-nos a derradeira pista: a imagem como o negativo do real pode dar-nos a rara experiência da verdade livre da ideologia, a qual ele assimila às funções do eu e da vigília, na passagem profunda que tomamos de empréstimo. Entre a não-identidade e suas determinidades, e a bela imagem que nos dá o trabalho de Eichenberger, ficamos com ambos, pois, curiosamente, convergem. Aqui o trabalho do conceito só começa quando se encerra o voo da coruja de Minerva. Mesmo o vôo sendo circunflexo, em outro céu estrelado.
*Alexandre de Oliveira Torres Carrasco é professor de filosofia na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Referência
Hernandez Vivan Eichenberger. Pobreza e plebe em Hegel. São Paulo, Editora UFABC, 2021, 298 págs.
Notas
[i] EICHENBERGER, Hernandez Vivan. Plebe e Pobreza em Hegel, Tese de Doutorado, mimeo, p. 8.
[ii] Idem, ibidem, p. 9.
[iii] Ver FAUSTO, Ruy. Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris. L’Harmattan, 1996.
[iv] Veja SAFATLE, Vladimir, “A forma institucional da negação: Hegel, a liberdade e os fundamentos do estado moderno”. Revista Kriterion, vol. 53, no. 125, junho de 2012. O argumento do próximo parágrafo tomamos de empréstimos essencialmente desse artigo.
[v] Filosofia do Direito, §4, p. 56; W7, p. 46.
[vi] SIEP, Ludwig, “¿Qué significa: «superación de la moralidad en eticidad» en la ‘Filosofía del Derecho’ de Hegel?”, in: COLL, Gabriel Amengual (Org.), Estudios sobre la ‘Filosofia del Derecho’ de Hegel. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 189. Apud EICHENBERGER, Hernandez Vivan. Plebe e Pobreza em Hegel, Tese de Doutorado, mimeo, p. 15.
[vii] RUDA, Frank. Hegel’s Rabble – A investigation into Hegel’s Philosophy of Right. Great Britain: Continuum, 2011, p. 60.
[viii] RUDA, Frank. Hegel’s Rabble – A investigation into Hegel’s Philosophy of Right. Great Britain: Continuum, 2011, p. 61.
[ix] RUDA, Frank. Hegel’s Rabble – A investigation into Hegel’s Philosophy of Right. Great Britain: Continuum, 2011, p. 61.
[x] ADORNO, Theodor. “Sobre a relação entre psicologia e sociologia”, p. 135. In: Ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Trad. Verlaine Freitas. Editora Unesp. São Paulo. 2015.