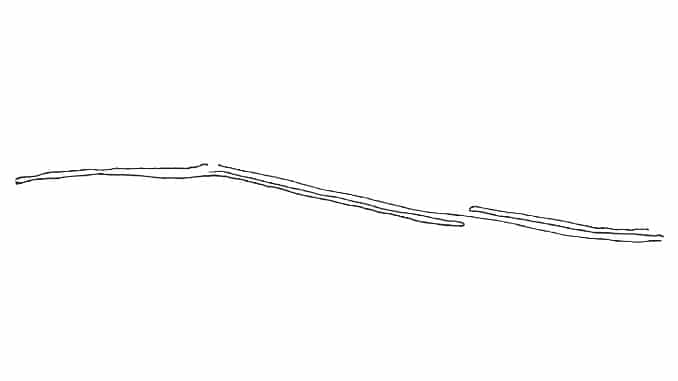Por OSVALDO FONTES FILHO*
Como introduzir em nossas imagéticas cotidianas da pandemia um desejo e uma dor que vão além de qualquer significado óbvio?
No cenário atual da pandemia, importaria talvez interrogar a eficácia (ética e política) das imagens que ocupam nossas telas e, por conseguinte, nosso imaginário. Parece inevitável procurar compreender as atitudes ligadas à situação atual a partir do apelo ao páthos (à emoção) proporcionado por uma involuntária encenação corporal que ocupa a cada dia o palco midiático. Isto porque a atualidade brasileira tem orquestrado uma violenta antítese visual dos corpos: aqueles que, vestidos das cores nacionais, aglomeram-se em manifestações extemporâneas a favor do poder executivo, contrapõem-se àqueles que, adoecidos, simplesmente se amontoam nos espaços hospitalares. Entre corpos em agitação e corpos em padecimento, o momento é propício para que se observe, junto às imagens, esses verdadeiros olhos da história, onde se situam nossas intolerâncias tácitas, nossos desejos inconscientes, nossos medos latentes.
Valeria aqui, de imediato, lembrar a lição de Jacques Rancière: ao analisarmos o sistema oficial de informação, devemos atacar as regras do jogo mais que impor o roteiro que pressupõe estarmos inertes diante das imagens. “Nós não estamos diante das imagens, estamos entre elas, assim como elas estão entre nós”. A questão não é, pois, a de esbravejar uma vez mais contra a torrente de imagens que nos submerge a cada dia, mas a de saber “como nos movemos entre elas, como as fazemos circular”[i].
Em tempos de asfixia em todos os sentidos, é possível evocar imagens do fotojornalismo que nos indicam como o olhar possui, ele também, um regime particular de respiração. Algo como um esforço dialético constantemente animado por um ritmo compassado ou por um batimento alternado.
Nesse sentido, duas fotografias publicadas recentemente pela Folha de São Paulo constituem testemunhos de uma rítmica de avanço e de recuo do olhar.
Em 28 de março, o jornal paulista publica uma imagem do presidente Bolsonaro em uma de suas aparições públicas diante do Palácio da Alvorada. Uma legenda a acompanhava: “Ao falar à frente do Alvorada, Jair Bolsonaro solta perdigotos, razão primordial para o distanciamento social”. Perdigoto, palavra incomum, tornada de circunstância, sinônimo de um prosaico salpico de saliva, retinha então a atenção do fotógrafo e ganhava os 2/3 da superfície da fotografia.
A imagem dos perdigotos presidenciais, assim focalizados em ampliação fotográfica, possui extraordinária eficácia metonímica. Se a parte vale pelo todo, ali está o registro visual preciso de nossos temores: a impropriedade verbal do mandatário, sua nocividade mesma (feita de destempero e de inconveniência), em gloriosas manchas esbranquiçadas a varrer o espaço, sobre fundo de um rosto desfocado, perfeito representante, pois, do anônimo sobre o qual os respingos salivares virão seguramente se depositar nas variadas formas da verborragia contraproducente e indecorosa em tempos de tragédia coletiva nacional.
Tem-se ali uma imagem com extraordinário poder designativo. Ela faz ver sem necessitar das palavras para fazer ver. Em seu mutismo, ela se substitui à torrente informacional que nos assalta. Nesse sentido, ela talvez se particularize por emblematizar as tensões ideológicas que se vive. E ela o faz ao convidar o olhar a afinar sua apreensão do real, a se depositar sobre minúsculas gotículas pestilentas em suspensão no ar.
Uma segunda imagem, publicada com variações em diferentes veículos informativos, opta por tomar distância. Trata-se de uma vista aérea das covas abertas em alinhamento quase geométrico no imenso cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Os volumes ostensivamente à espera de seus conteúdos, sequencialidade que a vista aérea intensifica, transfiguram de algum modo os corpos singulares. A imagem, desejosa de alinhar o coletivo diante da catástrofe, talvez desmotive um olhar individualizado. O cemitério, de dimensões proporcionais à miséria urbana a que serve, não é objeto casual para o registro fotográfico dos fatos. A imagem buscaria demonstrar que existe uma grande comunidade perante o destino, e o singular vê-se subsumido na universalidade da morte que invade o cotidiano. O distanciamento parece predispor ao inquietante imaginário.
Lembraria, aqui, a lição de Georges Didi-Huberman: uma imagem, por mais inócua ou neutra que seja, torna-se inelutável “quando uma perda a suporta”[ii]. É quando, então, essa imagem passa a nos olhar, nos concernir, nos perseguir. É o que faz de um simples plano ótico “uma potência visual que nos olha”. Potencialidade de inquietação, de somatização, de imaginação, dotada de endiabrada, e irredutível, rítmica de fluxo e de refluxo, de avanço e de recuo, de aparecimento e de desaparecimento.
Nesse sentido, as duas fotografias evocadas parecem responder precisamente a essa dupla dimensão da imagem, a seu ritmo em perpétuo vaivém: sístole ou contração do ver (registro indagativo e focalizado do ver), diástole ou dilatação da vidência (regime disperso, imaginativo, do olhar).
Esse caráter dinâmico das imagens corresponde, ainda, a uma dupla implicação do saber. Nem uma imersão pura, no “em si” de um fato, no terreno do “perto demais”. Nem uma abstração pura, uma transcendência altiva, no céu do “longe demais”, como assinala Didi-Huberman[iii]. Para o historiador e filósofo das imagens, é preciso tomar posição para saber, assumir a responsabilidade de um mover-se. “Esse movimento tanto é ‘aproximação’ quanto ‘afastamento’, aproximação com reserva, afastamento com desejo”. Razão porque Didi-Huberman tanto aprecia as montagens imaginativas que verifica no álbum de imagens de guerra de Bertold Brecht. Ele ali observa, em particular, uma aproximação, paradoxal, entre a “guerra dos micróbios invisíveis” e a vista aérea do solo desventrado de Hamburgo após bombardeios aéreos[iv]. Maneira de mostrar que, para Brecht, é possível compor com a embriaguez das imagens, verificar o mais próximo e o mais longínquo, “e nunca um sem o outro”, o saber sem a imaginação; enfim, as relações íntimas e secretas das coisas. É notável observar como a mesma sístole do ver e a mesma diástole da imaginação parecem agora relançadas em imagens de nosso fotojornalismo de atualidade. Como uma reedição da mesma exigência de um saber por imagens, um saber afeito ao páthos, à empatia (necessariamente imaginativa) do trágico.
Ocorre que à empatia do trágico deveria se seguir, segundo Brecht, o distanciamento da visão crítica, uma aferição desmistificadora do comportamento representado pelos personagens (do teatro e da vida) e da maneira pela qual se representa esse comportamento. É de se perguntar, pois, se o espectador contemporâneo das imagéticas da pandemia é convidado a uma tomada de posição crítica, a uma acuidade da visão.
Ocorre que há em nossa mídia um predomínio de signos visuais que almejam uma perfeita legibilidade, a veiculação de uma obviedade irredutível, daquilo que, numa imagem, pode nos alcançar, nos comover e entregar, por fim, uma verdade. É o caso exemplar de uma foto do premiado fotógrafo Lalo de Almeida publicada na Folha de São Paulo no dia 5 de abril. Em um interior depauperado, na semipenumbra, uma mulher com o filho ao colo deixa-se fotografar ao lado da geladeira aberta, parcamente guarnecida. Essa imagem entrega-nos ao registro inapelável da plena indicialidade: uma mera ilustração de matéria, a imagem como obviedade. Tanto mais que ela ilustra reportagem com o seguinte título: “Quarentena em SP reduz dieta de crianças na periferia a arroz”. O leitor é instado a conferir na imagem o fidedigno da reportagem. A imagem escancara, à semelhança da geladeira, o que solicita de seu espectador: um sentimento de indignação premeditado para as “boas almas”. A imagem “deseja”, por assim dizer, que os olhares identifiquem inequivocamente aquilo para o qual ela aponta. Lei mercantil da equivalência dos sentidos e dos sentimentos.
Exemplos dessa obviedade indicial proliferam atualmente na mídia diária. Na edição de 28 de maio da Folha de São Paulo, uma fotografia registra com êxito uma incongruência social: em pé, em meio à sujeira, uma criança de periferia posa para o fotógrafo usando uma máscara para proteção contra o coronavírus. A imagem alimenta a indignação, é certo. Mas ela persiste na tácita confirmação de um dispositivo de visibilidade que aponta para a vítima, regula o estatuto de seu corpo representado e confirma para o espectador avisado o estado de uma sociedade.
Mas haveria como garantir para a imagem da catástrofe alguma resistência à mera função de transitividade? Haveria como propor imagens do horror sem recair no escândalo da literalidade? “A fotografia literal”, lembra-nos Barthes, “apresenta-nos o escândalo do horror, não o horror propriamente dito”[v]. Afinal, é possível identificar em nossas imagéticas da pandemia um poder de afetar que se subtraia aos cálculos do momento, seja da mídia, seja da política?
Sabe-se como a crítica de Roland Barthes às “mitologias” contemporâneas ajudou no reconhecimento de registros ideológicos investidos por imagens. Barthes rejeitou o mito como um engodo que impede o efetivo entendimento da práxis histórica. Contudo, e da mesma maneira, rejeitou o páthos como um engodo estético pertencente aos efeitos de “choque”. Sua crítica, é certo, introduziu uma suspeita legítima em relação às imagens midiáticas da dor, à extorsão de sentimentos por parte de imagens jornalísticas. Mitologias, lembremos, é livro que parte de um “sentimento de impaciência frente ao ‘natural’ com que a imprensa, […], o senso comum mascaram continuamente uma realidade que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser por isso perfeitamente histórica”[vi]. Barthes oferece-nos assim um modelo de desmontagem das manifestações formais da ideologia no uso instrumental da língua e da imagem.
Nessa operação de desmontagem, o semiólogo investe contra o mitógrafo – o fotógrafo – entregue a uma representação da dor para efeito de choque. “Perante [essas fotos]”, estima Barthes, “ficamos despossuídos da nossa capacidade de julgamento: alguém tremeu por nós, refletiu por nós, julgou por nós, o fotógrafo não nos deixou nada – a não ser a possibilidade de uma aprovação intelectual […]”[vii]. Em sua perspectiva, o trágico da imagem apenas incita a uma “purgação emotiva”, diferentemente da construção épica da história, aquela que tornaria possível uma “catarse crítica”.
A expressão, em referência a Brecht, é capciosa: uma “catarse crítica” permanece da ordem de uma experiência emocional. Ora, como dar valor positivo, político, ao páthos, à emoção, comumente associados à passividade? Diante do horror fotografado ou filmado, somente nos resta a exclusiva situação do espectador confortavelmente diante da imagem? A lembrar: “o horror vem do fato de estarmos olhando de dentro de nossa liberdade”, para retermos uma vez mais as palavras de Barthes.
Importaria, pois, repensar em termos políticos a questão do valor pático de toda imagem traumática.
Há poucos dias, o enterro de João Pedro, o garoto morto dentro de casa durante investida da polícia no Morro do Salgueiro no Rio de Janeiro, fez ressurgir o ancestral ícone da mater dolorosa. O páthos da pietà se reapresentava ao espectador brasileiro. A mãe do garoto, em padecimento, é amparada, aos pés do túmulo do filho sacrificado em nome de uma ordem que nunca se realiza. Imagem semelhante surgiu na Folha de São Paulo, em fotografia de Amanda Perobelli, da agência Reuters, publicada em 23 maio, quando do enterro de Raimunda Conceição Souza, mais uma vítima da pandemia. “Verdade enfática do gesto nos momentos importantes da vida”, nas palavras de Baudelaire citadas por Barthes. É de se perguntar se essas imagens têm força para postular que a história não é pura transcendência (ainda que palaciana), e que nossas imanências afetivas possuem algum efeito sobre a marcha da verdade e dos fatos.
Qual, afinal, o papel constitutivo do páthos na consideração da atual gestão da dor? Quando a fé nas palavras do político míngua, talvez devêssemos solicitar a compaixão como resposta a toda narrativa da atualidade que envolva os efetivos agentes numa sociedade paralisada. O que pode parecer paradoxal, um alento junto à passividade. Mas importaria refletir sobre isso no momento em que a política deixa de designar o domínio da ação legítima[viii]. E quando se assiste à irrupção midiática das formas mais tradicionais de gestos funerários, da sobrevivência nas senhoras enlutadas da periferia dos gestos tradicionais de lamentação – gestos cristãos, gestos de devoção popular, “expressões coletivas das emoções que atravessam os tempos”, como assinala Didi-Huberman[ix]– , gestos e expressões que o cidadão instruído aprende a apreciar apenas nas paredes adequadamente roteirizadas de seus museus.
Há algumas semanas, o Jornal Nacional da Rede Globo substituiu o ícone do vírus da Covid-19 pelos retratos das vítimas da pandemia. Uma vez mais, o efeito procurado era o de um páthos – Giorgio Agamben diria, a evidenciação de uma pertença de cada qual à espécie, à aparência/visibilidade própria à humanidade[x], na incapacidade (ou desinteresse) de singularizar cada indivíduo. Mas basta os retratos dos ausentes para presentificar a dor? Em dado momento, a TV comercial se mostrou sensível à exigência de fazê-los falar em suas singularidades. Passou, então, a veicular curtas vinhetas em que a personalidade da vítima era teatralizada por atores profissionais. Tentativa, quiçá, de contornar a imagem como “simples ilustração redundante de sua significação”. Os termos são de Rancière, que aponta para a necessidade de uma “política da metonímia” regenerada, capaz de reconstruir a figura da vítima como elemento de uma redistribuição do visível pela qual não haja, de um lado os que detêm o poder da palavra e, de outro, aqueles a quem só resta o olhar[xi].
Afinal, na galeria televisiva dos vitimados, não há a palavra de um lado e a imagem de outro. Há uma dor trabalhando no corpo, que busca dizer, que busca entender e que também nos obriga a responder à interpelação. Na imperícia com que os lamentos se expressam no popular não há que se ver uma presença diminuída. Não estamos diante, como apreciadores legitimados de uma representação. “Estamos sempre entre”, ressalta Rancière. O retrato não transmite o imediatismo de uma presença, ele deve projetá-la em uma história, isto é, em certo conjunto de ações/atitudes singularizadas. Inversamente, a história não dá o fato (no caso, a morte) tal qual, ela é vista somente através dos corpos que falam sobre ela, padecem com ela. O filósofo talvez tenha razão: em nossas telas, não há nada senão corpos que trabalham com a sua experiência do infortúnio ou com aquela que os outros corpos lhes transmitem.
Por outro lado, é notável observar imagens que evitam estampar diretamente uma catástrofe. Comunicam-nas por um flagrante de rosto, algum indício mínimo da exaustão de indivíduos ou cidades. Ou então por imagens estáticas e isoladas dos enlutados que deixam de lado, em suas aparições ritmadas, as imagens de lamentação e dor “clássicas”. Há nessas imagens a capacidade, pouco ou nada representativa, de fazer ver, em escala íntima e tangível, o inquietante, o horror, mesmo o intolerável. Talvez elas constituam sutil maneira de refletir sobre o trauma do que não se pode expressar com nitidez. Lembremos aqui como para Walter Benjamin a relação entre trauma e história é “sem palavras”. Assim, ocorre por vezes de a mídia propor a imagem do que cala as palavras. São ali mostrados tão somente vestígios, traços de algo que se passa, transversal a qualquer “eu”, grande demais para qualquer “eu” – Gilles Deleuze não afirma que “a emoção não diz ‘eu’” […]; que “a emoção não é da ordem do eu, mas do acontecimento”[xii]? Ocorre, então, de traços mínimos do “eu” carregarem por vezes questões de macropolítica, questões relativas ao modo de organização da sociedade. Rostos que acumulam a potência imaginativa do que não quer dizer nada e a “força massacrante do testemunho que prescinde das palavras”, para retomar os termos que Rancière endereçou a algumas vítimas do Holocausto[xiii]. Eles mostram, ainda, como certa contemporaneidade do olhar (digamos, menos midiaticamente motivado) trabalha imageticamente com o trauma, com a dimensão humana da catástrofe político-social e/ou natural.
Evacuar nossas imagens dos signos evidentes de um acontecimento presta-se a questionar, com a devida eficácia política, os discursos oficiais, invariavelmente compromissados com os sentidos fechados de um evento e com suas consequências equacionáveis. A catástrofe de Brumadinho, por exemplo. Ela mostrou um registro muito particular das imagens documentais na atualidade: quando não compromissadas com a transitividade das reações, com o consenso dos sentidos, elas procuram quebrar com o efeito ético da mobilização das energias ( da opinião pública, diga-se), buscam suspender toda relação direta entre a produção da forma, seu efeito sobre um público e um estado geral da comunidade. Contrárias a tal lógica representacional, essas imagens (que, a bem da verdade, fazem-se raras na grande imprensa) podem bem ser ditas paradoxalmente políticas, mesmo que expurguem de seus enquadramentos o agente político que, invariavelmente, sempre “rouba a cena”.
Há poucas semanas, Rancière expressou na mídia sua dificuldade em entender aqueles que denunciam ritualmente o peso das imagens sobre os espíritos fracos. “Somos governados pelas palavras”, afirma o filósofo, por uma retórica que alimenta uma “realidade patológica permanente” que o poder crescente do Estado e dos detentores das “ciências” não faz senão ratificar. Rancière recrimina, ainda, a ansiedade por responder à “solicitação jornalística de ‘decifrar’ as notícias em um curto espaço de tempo, de banalizar o inesperado, envolvendo-o em uma cadeia causal que o torna retrospectivamente previsível, e de fornecer as fórmulas pelas quais o gerenciamento diário das informações é elevado à altura de uma visão da história do mundo.”[xiv]
De fato, tem-se a impressão de uma proliferação verborrágica propensa a compor um presente e presenças por assim dizer homologados. A consensualidade prolifera mesmo quando a opinião pública se polariza, como ocorre atualmente no Brasil. Razão a mais para se procurar por imagens que guardem alguma capacidade de resistência, por uma cultura da imagem não restrita a servir de acompanhamento ou de consolação.
Resta, pois, uma derradeira interrogação: como introduzir em nossas imagéticas cotidianas da pandemia um desejo e uma dor que vão além de qualquer significado óbvio? Imagens que recusem as relações previsíveis entre uma visibilidade e o efeito de páthos por ela produzido. Ou melhor, modos menos fechados de compreender as modificações corporais dos indivíduos afetados pela história e as modificações históricas impostas por indivíduos politizados. Afinal, o curso das coisas parece se modificar somente pela ação daqueles que fazem viver cotidianamente nossa sociedade, que respondem a suas exigências mais vitais; daqueles que, de tempos em tempos, invadem nossas telas com seu luto, sua indignação e sua perplexidade.
Imagens de páthos não são necessariamente desconectadas da história política e da práxis. Os tempos modernos, quando a história passou a ser registrada em papel fotográfico e em fita celuloide, estão repletos de alterações do corpo individual e coletivo, do luto à cólera, da cólera aos discursos políticos e aos gritos de revolta. Nesse sentido, a expressão “política patética”, empregada por Didi-Huberman a respeito da obra emocionalmente engajada de Pier Paolo Pasolini e de Glauber Rocha[xv], ganha conotação menos trivial que aquela que muitos brasileiros comumente empregam para sua cena política cotidiana.
*Osvaldo Fontes Filho é professor no Departamento de História da Arte da UNIFESP.
Referências:
[i]Rancière, Jacques. Trabalho sobre a imagem. Trad. Cláudia Sachs. Revista Urdimento, nº 15, outubro 2010, p. 94.
[ii] Didi-Huberman, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998, p.33.
[iii]Em Quando as imagens tomam posição. Trad. Cleonice Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017, p.16.
[iv] Ibidem, p. 230.
[v] Barthes, Roland. Mitologias. Trad. Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer.Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p.11.
Idem, ibidem, p.109.
[vi] Idem, ibidem, p.11.
[vii] Idem, ibidem, p.107.
[viii]Acselrad,Henri. A linguagem da antipolítica. A terra é redonda , 30/05/2020.
[ix]Didi-Huberman, Georges. Quelle émotion! Quelle émotion?Paris: Bayard Éditions, 2013, p. 43.
[x]Agamben, Giorgio. Profanações. Trad. SelvinoAssmann. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 52.
[xi]Rancière, Jacques. O espectador emancipado. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 94.
[xii] Citado porDidi-Huberman, Georges. Quelle émotion! Quelle émotion? Ed. cit. , p. 36.
[xiii]Rancière, Jacques. Trabalho sobre a imagem. Trad. Cláudia Sachs. Revista Urdimento, nº 15, outubro 2010, p.95.
[xiv] Em francês e em italiano, no site https://www.institutfrancais.it/italie/2-jacques-ranciere-andrea-inzerillo.
[xv]Didi-Huberman, Pathos et Praxis : Eisenstein contre Barthes. 1895 Revue d’histoire du cinéma, nº 67, 2012, p.20.