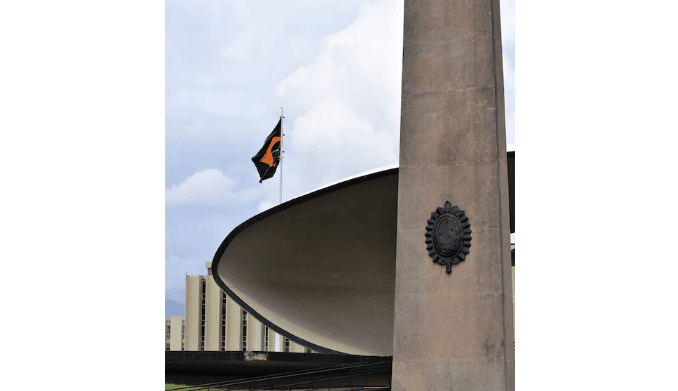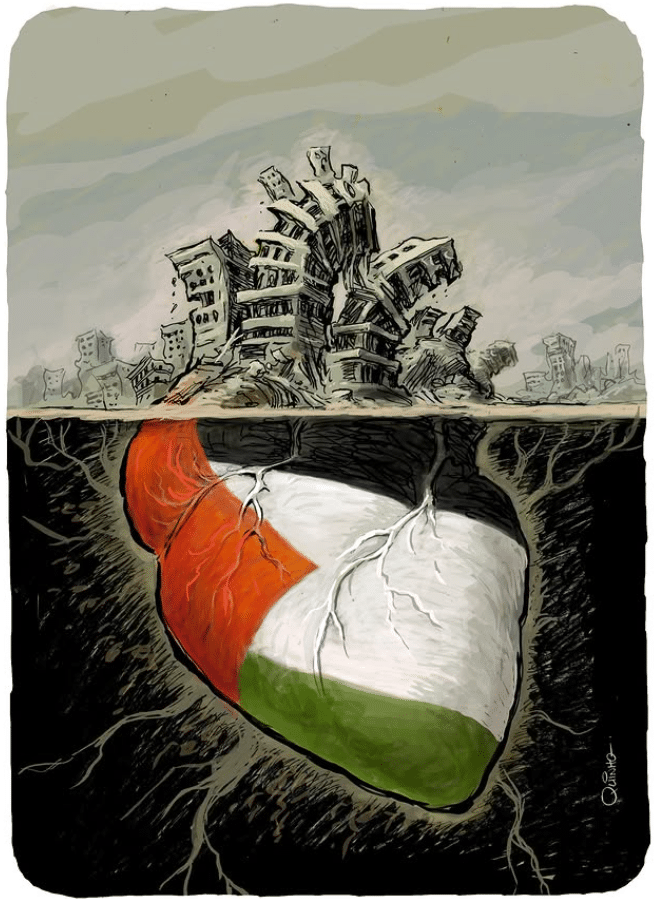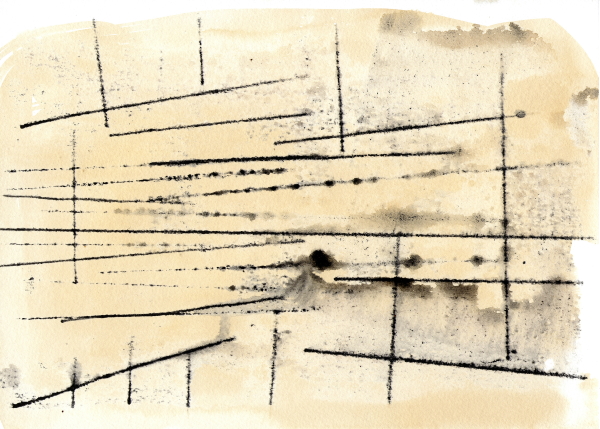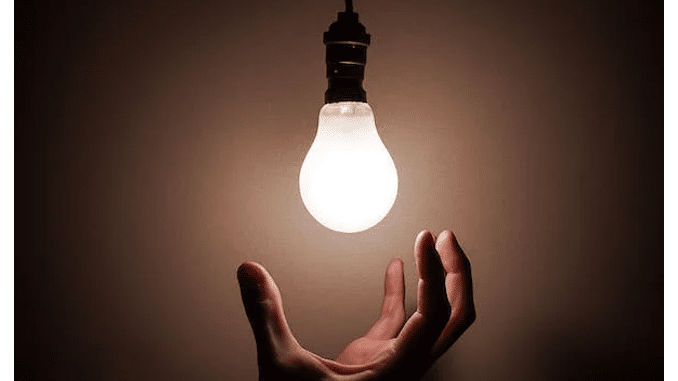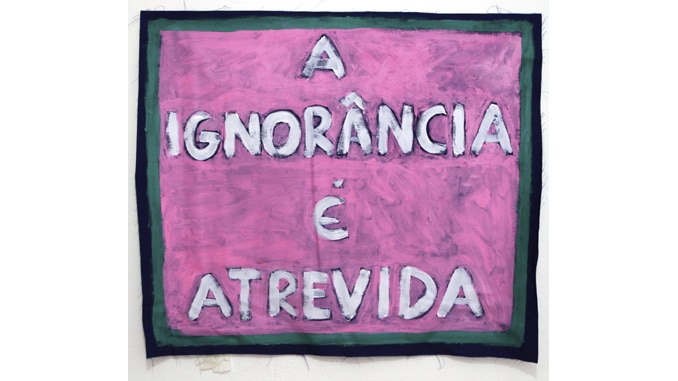Por MANUEL DOMINGOS NETO*
Nos Estados de direito, as políticas de defesa, como quaisquer políticas públicas, devem respeitar princípios constitucionais
Os horrores das guerras da primeira metade do século XX, com destaque para as explosões atômicas, embalaram o termo “defesa”, que não embute promessa de agressão. Os ministérios da guerra passaram a ser crescentemente a serem designados como “ministérios da defesa”.
O Brasil está entre os derradeiros países a criar um Ministério da Defesa (1999), que reuniu as antigas pastas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Para criá-lo, Fernando Henrique Cardoso reuniu habilidade e coragem.
A “Defesa Nacional” deve ser entendida como o conjunto de orientações, dispositivos e iniciativas do Estado visando proteger-se contra ofensas externas ou reagir ao cerceamento de sua soberania.
Os ministérios da Defesa, formalmente, devem preparar instituições e cidadãos para dissuadir ou enfrentar estrangeiros hostis. Assim como a guerra, evento da mais alta concentração política, a Defesa transcende a alçada militar.
Nos Estados de direito, as políticas de defesa, como quaisquer políticas públicas, devem respeitar princípios constitucionais. Suas formulações exigem largueza de vista e profundidade na análise de processos e tendências históricas. Demandam o acompanhamento das configurações da ordem internacional, ou seja, percepção geopolítica e sensibilidade estratégica.
As políticas de Defesa Nacional requerem sincronia entre braços estatais e sociedade; pedem arranjos sistêmicos e iniciativas multissetoriais de grande alcance, sempre combinadas e complementares; incluem vasto repertório de providências escalonadas e não comportam improvisações; demandam planejamento especializado e compreendem a eliminação ou atenuação de vulnerabilidades do Estado e da sociedade.
A defesa nacional não deve ser entregue a amadores nem a servidores públicos treinados para comandar tropas e manusear armas; precisa ser formulada e administrada por um corpo estável de servidores especializados capaz de assistir à chefia de Estado, aos parlamentos e ao poder judiciário. Servidores da defesa devem mostrar capacidade de diálogo com os responsáveis pela formulação e condução das diversas políticas públicas, com os meios de comunicação, a sociedade e as fileiras.
Sujeita à determinação de militares, a política de defesa tende a ser insatisfatória devido ao viés corporativo. Corporações militares não podem deliberar sobre a defesa; não podem pontificar em sua formulação nem gerenciá-las. Isso representaria a militarização, aberta ou sub-reptícia, do aparelho estatal e da sociedade. As corporações devem ser organizadas segundo as diretrizes da defesa.
O setor industrial de armas e equipamentos militares, assim como os setores empresariais que lidam com tecnologias duais sensíveis (de uso civil e militar), integram o sistema de defesa. Porém, caso interfiram em decisões políticas, estará configurada a promiscuidade entre os interesses público e privado.
A produção de armas e equipamentos, estando em mãos particulares, deve ser objeto de acompanhamento rigoroso do Estado. Desde o século XIX, quando se consolidaram os grandes empreendimentos da indústria bélica, muito sangue foi derramado em benefício deste setor industrial.
Intimidades entre empresários e militares constituem um dos mais delicados problemas da defesa. As relações são inevitáveis, mas perigosas. Militar da reserva empregado na indústria de defesa pode ser tão ou mais nocivo ao interesse público do que ex-diretores do Banco Central contratados por bancos privados. Isso ficou visível com as guerras mundiais, mas é problema muito antigo.
Fabricantes de armas veem a guerra como chance de negócios lucrativos. A expressão “complexo industrial-militar”, cunhada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower, em 1961, exprimiu os dilemas morais suscitados pela indústria de guerra, um dos ramos mais lucrativos do setor industrial, hoje conduzido pela especulação financeira, que ignora entraves éticos.
Cada Estado organiza sua defesa conforme condições singulares. Comparações entre sistemas nacionais-estatais são inevitáveis, porém, ensejam enganos. A mensuração de capacidades militares é sempre relativa e imprecisa, tal o número de variáveis a ser levado em conta. Listagens do tipo “exércitos mais poderosos” servem mais para alimentar equívocos do que para embasar análises consistentes. Estabelecer relações entre efetivos militares e dimensões territoriais, demográficas ou econômicas, por exemplo, não faz sentido. Por estas relações, a Rússia seria uma das mais inexpressivas potências militares do mundo.
Estados com pretensões imperiais podem deter grande capacidade bélica, mas nunca estão seguros: despertam desconfianças e inimizades. Expõem-se às mais variadas e difusas ameaças. São obrigados a manter gigantescos serviços de inteligência no limite da esquizofrenia.
Estados com pequenos territórios, limitados recursos naturais, modesta capacidade produtiva, legitimados por cidadãos coesos, irmanados pela percepção de um destino comum e dispondo de sólidas alianças, podem ser imbatíveis. Sem tais condições, sobreviveriam como protetorados.
Em termos de defesa, cada Estado tem suas peculiaridades geográficas, históricas, demográficas e culturais. Não há, portanto, fórmulas de defesa nacional replicáveis. Neste domínio, o Brasil não tem exemplos a seguir.
*Manuel Domingos Neto é professor aposentado da UFC, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED) e ex-vice-presidente do CNPq.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como