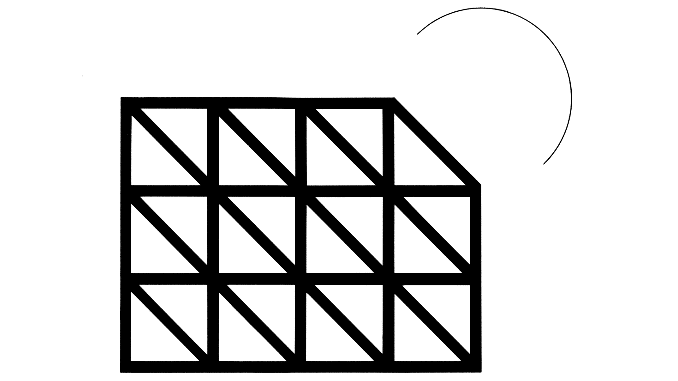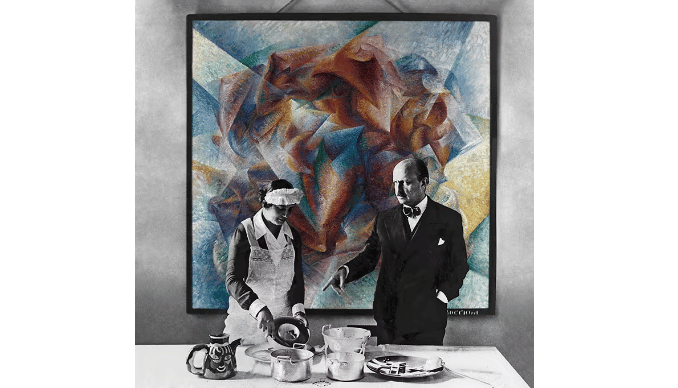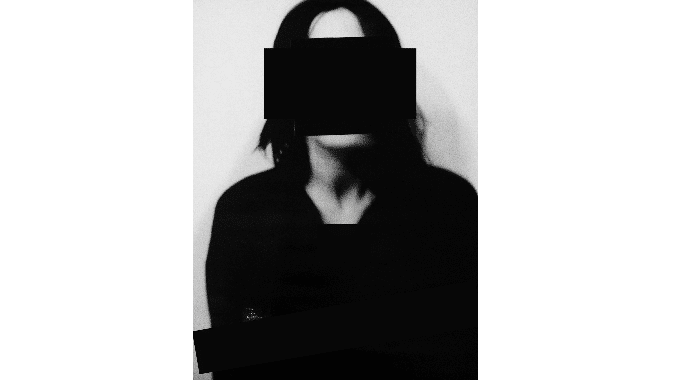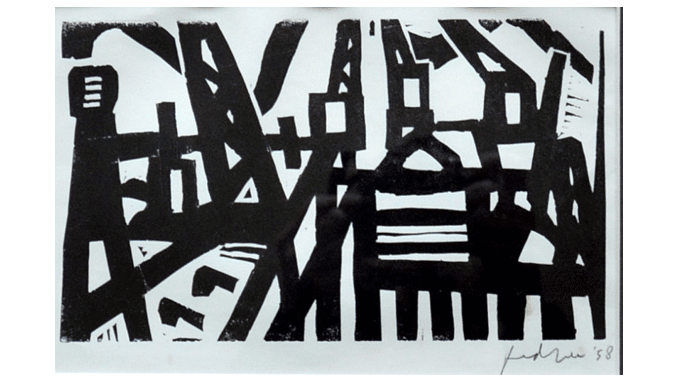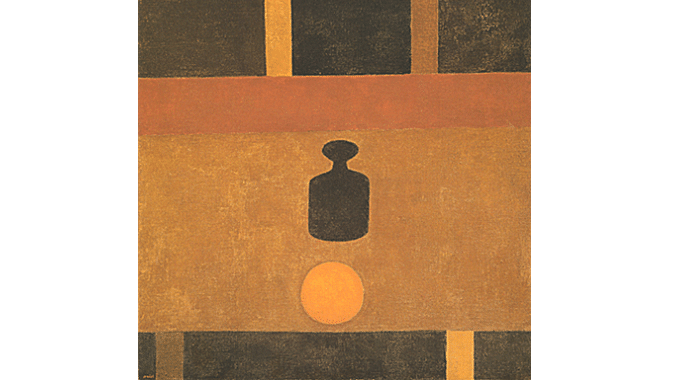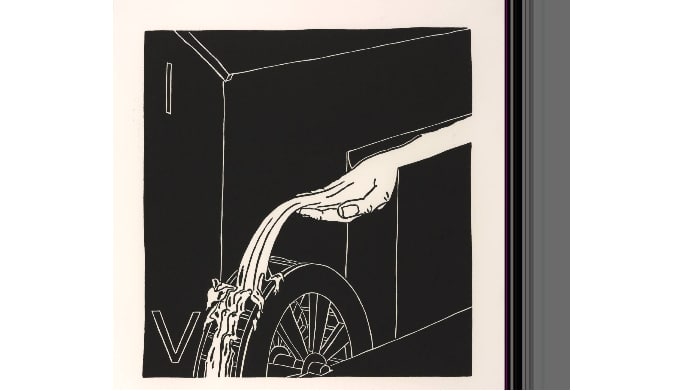Por FLÁVIO R. KOTHE*
O ser humano só poderia ser uma cópia ao contrário da divindade
A mímese foi fundante na tradição judaico-cristã por causa da crença de que Jeová teria feito o homem “à sua imagem e semelhança”. Isso poderia ter sido entendido que o homem teria sido feito semelhante a si mesmo, mas ele preferiu acreditar que era parecido com Deus. Não entendeu que a divindade poderia ser parecida com ele, uma projeção cósmica. Descartes observou que Deus e homem seriam antitéticos: um seria eterno, o outro finito; um onisciente, outro de parco saber; um todo poderoso, outro de poucas forças; um onipresente, outro estando em um só lugar. A vaidade se sobrepõe à racionalidade.
A concepção de que “arte é mímese” serve, no ensino brasileiro, para fazer de conta que a história foi aquilo que o cânone conta e que a realidade é conforme ele a manifesta. Diz-se que assim é, no entanto, porque não é. O cânone faz parte de uma sacralização textual que serve para inventar uma visão do passado e do presente como se fosse a própria realidade, com uma inversão radical de todos os valores e de todos os acontecimentos, mas fazendo de conta que se tem uma reprodução fiel e exata de todos eles. É uma ideologia que finge ser ciência. Só quer ainda “análise” porque teme que se explicite a problemática “teoria” que lhe é subjacente.
A doutrina de que a arte seria mimética tem sido atribuída a Aristóteles, na Poética, mas ela já estava em Platão, bem como a superação dela na medida em que Sócrates duvida da existência de um mundo das ideias, do qual as coisas seriam cópias, mimetizações. A concepção mimética também já está no Gênesis, quando diz que o homem teria sido criado à imagem e semelhança de Jeová. Ora, o ser humano só poderia ser uma cópia ao contrário da divindade. No primeiro mandamento de Moisés, há um interdito ao mimético, ao se proibir que se façam esculturas e imagens de qualquer ente que esteja sobre a terra, dentro da água ou no ar.
A Poética de Aristóteles dizia que tragédia e epopeia eram próprias da aristocracia, enquanto a comédia era das camadas mais baixas. Lutero rompeu com isso: dizia que a vida dos ricos é uma comédia, enquanto a dos pobres é uma tragédia. Faz a inversão. Em Homero a aristocracia grega se apresentava como gostaria de ser vista: a determinar o curso da história, a lutar contra supostos inimigos, a confabular com deuses e deusas, a vivenciar conflitos e amores exemplares. A tragédia é um gênero como que posterior, em que ela queria ser admirada até mesmo na desgraça. Não há uma ruptura com esse padrão na literatura grega.
Quando Eurípides e Aristófanes acenaram um passo adiante, acabou-se a tradição. Embora tenha fama de democrática, a cultura grega era excludente e repressiva, não permitia críticas aos deuses, pois serviam para afirmar o domínio da oligarquia, nem valorizava pessoas oriundas das camadas mais baixas da sociedade. O “estudo de caso” na Grécia mostra como o parâmetro de uma estrutura de classes, sustentado pela crença religiosa e literária, pelo sistema de cultos e de poder, do modo de pensar e propor discursos se preserva e se repete durante séculos, sem que se encontre uma alternativa que possa se expor ao que é transmitido aos pósteros.
A Grécia antiga como referência passou por quatro paradigmas: a visão romana, que a reverenciou e tratou de imitar nas ciências e nas artes; a visão cristã do ano 100 d.C., em que era preciso destruir e depois ignorar aquele mundo de estátuas desnudas, paganismo e escravidão; a visão apolínea, que se afirma com o renascimento italiano e prossegue no helenismo europeu, em que tudo é claro, ideal, bem ordenado; a visão dionisíaca, proposta por Nietzsche, que descobre na antiguidade a paixão, o sentimento, a violência, o irracional. O que Nietzsche não fez foi colocar Cristo no Olimpo, ou seja, se perguntar por que um pobre marceneiro não teria espaço em meio às divindades, o que mostraria o caráter escravagista, racista e belicista da oligarquia grega sacramentada por elas. Ele apenas criticou o Sermão da Montanha, em que se tinha uma contrapartida à ética do patriciado romano, com a sua preferência aos pobres de espírito, aos desvalidos, aos marginais, mas não reconhecia valor nos gênios científicos, literários e artístico, não dava importância aos grandes atletas nem aos que mudam os caminhos da história.
Hoje há variações supostamente esquerdistas, em que “bons cristãos”, até de origem judaica (Marx, Chomsky), criticam a acumulação crescente de capital nas mãos de poucos poderosos e o descaso com as políticas democráticas de um Estado que zele pela educação, saúde e emprego de todos. Como contrapartida tem-se no século XXI, novo crescimento do discurso e da prática neofascista. Há alguns que pregam zelar pela natureza, pois ela é o abrigo do homem, sendo que a destruição dela acarreta o encurtamento da existência dele. Mais radical desponta a retomada de outro topos da literatura sacra antiga, persa, grega ou judaica: a espécie humana como um erro, a necessidade de sua extinção.
O “case study” da Grécia permite que se vejam alternativas ao mundo vigente. Hölderlin parece ter inaugurado algo assim, mas seu impulso maior era recriar os deuses gregos e lamentar que o mundo tivesse sido abandonado por eles. Sob a aparência de crítica ao século XIX, havia um profundo reacionarismo, um desejo de voltar para trás. Era, porém, a volta para um mundo idealizado, em que a escravidão da maioria seria algo natural. Nietzsche provocou o problema ao dizer que o assalariado seria a forma moderna do escravo.
Lessing passou a revisar, na Dramaturgia de Hamburgo, as versões correntes de conceitos básicos de Aristóteles sobre o trágico, como o de catarse, compaixão, terror. A Escola de Jena passou a enfatizar, nos Fragmentos do Ateneu e nas Ideias, a figura da ironia, como uma inversão do mimético, pois nela o sentido é o contrário do significado literal das palavras. Tem-se uma aparência de mímese, para acabar não tendo mímese nenhuma ou, no melhor dos favorecimentos, uma mímese pelo avesso.
Kierkegaard retomou essa questão e mostrou como a ironia é central nas falas de Sócrates. Não foi bem capaz de ver como isso propiciaria uma leitura completamente nova de Platão, destinada a superar a tradição do platonismo como uma leitura idealista do filósofo. Por outro lado, a tradução de Shakespeare por Tieck e Schlegel propiciou a reflexão sobre o conceito de ironia trágica, o esforço do indivíduo no sentido de alcançar um máximo de acerto em suas decisões existenciais para acabar, por isso mesmo, conseguindo ter por resultado exatamente o contrário do que ele havia intencionado.
Em meados do século XIX, Baudelaire insistiu na figura da alegoria, não só como a representação concreta de uma ideia abstrata e sim como um procedimento em que a coisa tomada como signo não significa aquilo que à primeira vista eladeveria significar: há uma convenção social do sentido na alegoria tradicional e, na alegoria moderna, uma liberdade para o artista explorar níveis de significação em cenas, personagens e coisas que normalmente não seriam vistas nelas. Benjamin fez uma teorização incompleta sobre isso.
Vítor Chklóvski postulou, em 1925, no ensaio Teoria da prosa, a importância da figura do oxímoron na estruturação de narrativas: no Macbeth de Shakespeare, enquanto no começo Lady Macbeth é dura, exigindo que o marido mate o rei, Lord Macbeth não está disposto a fazer isso, mas, ao longo da história, ela não aguenta os gritos da consciência, enlouquecendo, enquanto ele se torna cada vez mais duro. De modo similar, Dom Quijote, uma figura alta e magra, montada num cavalo, representa a sabedoria livresca e a fantasia, enquanto Sancho Pança, baixo e gordo, montada num jumento, representa a sabedoria popular e a sensatez. Esse tipo de estrutura pode ser visto em vários tipos de narrativa, desde Tom e Jerry, em que o rato consegue sempre bater no gato, até no action movie, em que o mocinho consegue ser mais forte do que quem é mais feroz do que ele.
Do mesmo modo, outras figuras retóricas, como a sinédoque, poderiam ser exploradas como sendo mais importantes do que apenas a mímese para entender a estrutura e o funcionamento de obras de ficção. Nenhuma delas conseguiria, por si e sozinho, ser toda a explicação, e todas elas não eliminariam a presença de elementos miméticos na constituição das obras. Nenhuma é uma explicação necessária e suficiente da arte. Precisa-se partir do destronamento, portanto, da figura da mímese e entender que ela faz parte da tradição metafísica e de processos diversos de dominação ideológica, desde o sistema colonial até a dominação de classe.
*Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universidade de Brasília. Autor, entre outros livros, de Ensaios de semiótica da cultura (UnB).