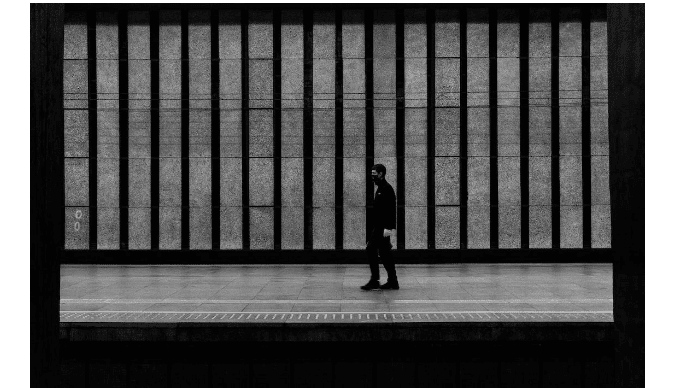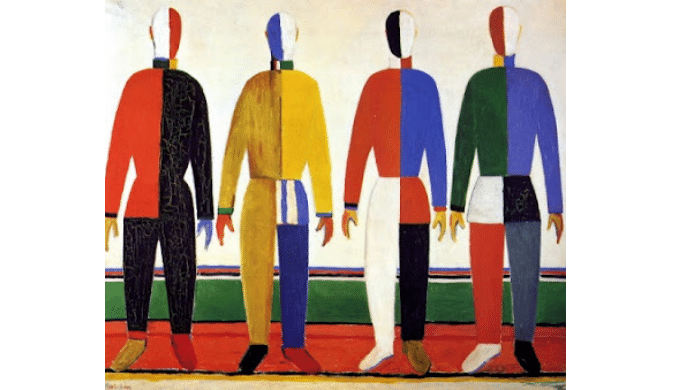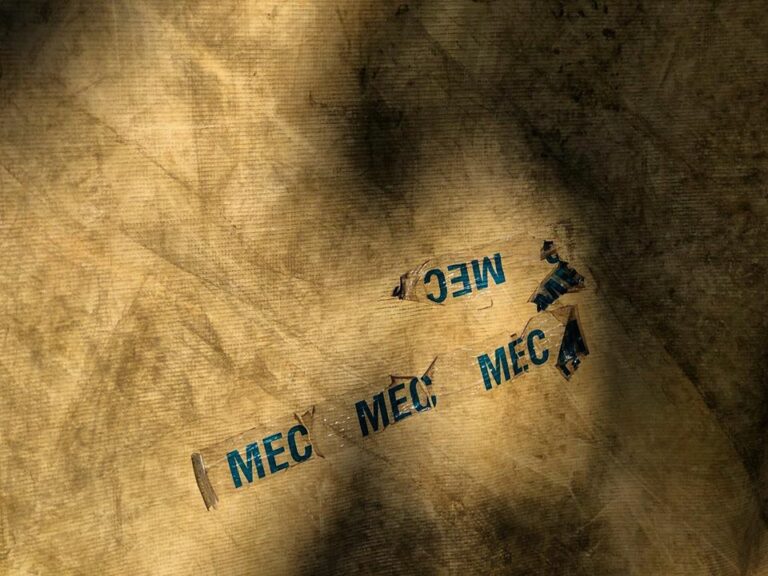Por VALERIO ARCARY*
O que prevaleceu no Brasil, ao longo de muitas gerações, foram as transições pelo alto, ou concertações entre frações burguesas
“Devagar é que não se vai longe” (Chico Buarque).
1.
Todas as nações têm as suas distinções, originalidades, grandezas e misérias. O Brasil é o país com a maior economia na periferia do capitalismo, tem uma dimensão continental e se estende da Amazônia até o Pampa, responde por metade da população da América do Sul, um pouco mais da metade do povo é negra, e uma imagem internacional simpática construída na segunda metade do século XX.
Mas, talvez, as três peculiaridades políticas sejam: (a) o grau, absurdamente, grande de desigualdade social que persiste quase intacto; (b) a capacidade histórica da classe dominante de procurar soluções para os conflitos sociais e políticos pela via de concertações negociadas; (c) a existência de uma classe trabalhadora gigantesca, e de uma das esquerdas mais influentes no mundo.
A “excepcionalidade” brasileira resulta destas peculiaridades e resulta em um paradoxo: a desconcertante lentidão de qualquer transformação social que diminua a terrível injustiça que oprime a nação. O que prevaleceu no Brasil, ao longo de muitas gerações, foram as transições pelo alto, ou concertações entre frações burguesas.
Os conflitos na classe dominante se resolvem por conchavos, longas e minuciosas negociações com mútuas concessões. Não conhecemos guerra civil, a não ser no Rio Grande do Sul, e há cem anos atrás. A única ruptura foi uma exceção: o golpe militar de 1964. Muitas razões explicam nossa excepcionalidade. Não é simples.
2.
Há fatores objetivos e subjetivos que ajudam a compreender esta excepcionalidade. Trata-se de um paradoxo porque a desigualdade social crônica no país que tem o maior PIB e, ao mesmo tempo, proporcionalmente, a maior e mais concentrada classe trabalhadora no mundo periférico, gigantescos centros urbanos, mais de 20 cidades com um milhão de pessoas, deveriam impulsionar um nível muito elevado de tensão social. O que favorece mudanças, por via de reformas ou de revolução.
Mas não é assim. Todos os principais países vizinhos do Brasil – Argentina (2001/02), Venezuela (2002), Chile (2019), além de Peru, Equador, e Bolívia – conheceram, neste século, situações pré-revolucionárias. O Brasil não. O que vingou no Brasil foi a experiência do lulismo. O PT venceu cinco eleições presidenciais desde 2002. E foi necessário um golpe institucional, ou seja, uma derrubada “a frio” do governo Dilma Rousseff para abrir o caminho a eleição de um neofascista como Jair Bolsonaro.
E pode ficar pior. Na principal cidade do país, um boçal neofascista histriônico, Pablo Marçal acabou de assumiu a liderança da corrente de extrema direita em dinâmica vertiginosa. Confirmando que o perigo é real e imediato. E que ninguém pode subestimar o perigo de que voltem ao poder nacional.
Surgiram diferentes hipóteses de explicação do paradoxo. Duas são as mais importantes e têm um “grão de verdade”: (i) a teoria ultra-objetivista remete, essencialmente, à força da burguesia; (ii) a teoria ultra-subjetivista remete, simetricamente, à fragilidade da consciência popular. Talvez, a síntese entre elas seja uma hipótese mais produtiva. Afinal, a gigantesca riqueza e poder, associados ao extremo reacionarismo da burguesia brasileira, só comparável com sua inteligência estratégica, teve muita importância para conter a pressão social por mudanças.
A debilidade subjetiva de uma classe trabalhadora muito heterogênea explica, também, os limites de sua capacidade de auto-organização e união, e a espantosa paciência política e ilusões renitentes em soluções concertadas. Mas não se deve esquecer a presença de um terceiro fator. O papel das camadas médias.
A classe média no Brasil sempre foi menor, em comparação, que a Argentina. Mas é, como em todo os países urbanizados, o colchão social que oferece estabilidade à dominação burguesa. A classe média arrasta, tradicionalmente, os setores mais elevados do mundo do trabalho assalariado que ascenderam pela escolaridade, e compartilham um modo de vida das camadas médias. Mas no Brasil, um país fraturado racialmente, não são negros, e a branquitude goza de um status de privilégio. Isso importa.
3.
O Brasil de hoje mudou comparado com o do final dos anos 1970. Ao longo deste ciclo histórico ocorreram muitas oscilações nas relações de forças entre as classes, umas favoráveis, outras desfavoráveis para os trabalhadores e seus aliados. Mas não se abriu uma única vez uma situação revolucionária. Eis um esboço de periodização do período até à primeira eleição de Lula.
O que deve nos interessar é que sempre que existiu a possibilidade de ruptura foi contornada: (a) tivemos uma ascensão de lutas proletárias e estudantis, entre 1978/81, seguido por uma estabilização frágil, depois da derrota da greve do ABC de 1981 até o final de 1983, quando o fracasso do plano “asiático” de Delfim Netto de impulsionar exportações, pela desvalorização cambial, fez disparar a inflação sem recuperar crescimento. (b) Em 1984 uma nova onda contagiou a nação com a campanha pelas Diretas Já, e selou o fim da ditadura militar, mas o governo de João Figueiredo não caiu; (c) uma nova estabilização entre 1985/86 com a posse de Tancredo/Sarney e o Plano Cruzado, e um novo auge de mobilizações populares contra a superinflação que culminou com a campanha eleitoral que levou Lula ao segundo turno de 1989.
(d) Uma nova estabilização breve, com as expectativas geradas pelo Plano Collor, e uma nova onda a partir de maio de 1992, potencializada pelo desemprego e, agora, da hiperinflação que culminou com a campanha pelo Fora Collor; (e) uma estabilização muito mais duradoura com a posse de Itamar e o Plano Real, uma inflexão desfavorável para uma situação defensiva a partir da derrota da greve dos petroleiros em 1995.
(f) Lutas de resistência entre 1995/99, e uma retomada da capacidade de mobilização que agigantou-se, em agosto daquele ano, com a manifestação dos cem mil pelo Fora FHC, interrompida pela expectativa da direção do PT e da CUT de que uma vitória no horizonte eleitoral de 2002 exigiria uma política de alianças, que não seria possível em um contexto de radicalização social.
A estabilização social prevaleceu ao longo dos dez anos de governos de Lula e Dilma, entre 2003 e junho de 2013, quando uma explosão de protesto popular acéfala levou milhões às ruas, um processo interrompido ainda no primeiro semestre de 2014. Mas o mais importante foi a inversão muito desfavorável com as mobilizações reacionárias gigantes da classe média insufladas pelas denúncias da Lava Jato, entre março de 2015 e março de 2016, quando alguns milhões ofereceram a sustentação para o golpe jurídico-parlamentar que derrubou Dilma Rousseff. Parecia que estava encerrado o ciclo histórico. Mas não. O Brasil é lento.
Este ciclo foi a última fase da tardia, porém, acelerada transformação do Brasil agrário em uma sociedade urbana; a transição da ditadura militar para um regime democrático-eleitoral; e a história da gênese, ascensão e apogeu da influência do petismo, depois transfigurado em lulismo, sobre os trabalhadores; ao longo destes três processos a classe dominante conseguiu, aos “trancos e barrancos”, evitar a abertura de uma situação revolucionária no Brasil como aquelas que a Argentina, Venezuela e Bolívia conheceram, embora, mais de uma vez, tivessem se aberto situações que podiam ter evoluído nessa direção, mas foram interrompidas.
A eleição em 2002 de um presidente operário em um país capitalista semiperiférico, como o Brasil, foi um acontecimento atípico. Do ponto de vista da burguesia uma anomalia, mas não foi uma surpresa. O PT já não preocupava a classe dominante, como em 1989. Um balanço destes treze anos parece irrefutável: o capitalismo brasileiro não esteve nunca ameaçado pelos governos do PT. Mas isso não impediu que toda a classe dominante tenha se unido, em 2016, para derrubar Dilma Rousseff com acusações estapafúrdias. Essa operação política, uma conspiração liderada pelo vice-presidente Michel Temer, nos revela algo de importância estratégica sobre o que é a classe dominante brasileira.
4.
Os governos do PT foram governos de colaboração de classes. Favoreceram algumas reformas progressivas, como a redução do desemprego, o aumento do salário mínimo, o Bolsa-Família, e a expansão das Universidades e Institutos Federais. Mas beneficiaram, sobretudo, os mais ricos, mantendo até 2011 o tripé macroeconômico liberal intacto: a garantia do superávit primário acima de 3% do PIB, o câmbio flutuante em torno dos R$2,00 por dólar e a meta de controle da inflação abaixo de 6,5% ao ano.
Não deveria surpreender o silêncio da oposição burguesa, e o apoio público indisfarçável de banqueiros, industriais, latifundiários e dos investidores estrangeiros, enquanto a situação externa foi favorável. Quando chegou, em 2011/12, o impacto da crise internacional aberta em 2008, o apoio incondicional da classe dominante desmoronou. Não houve qualquer hesitação depois da derrota de Aécio Neves em 2014. Foram para o golpe. A denúncia do “petrolão” pela Lava Jato foi somente uma bandeira instrumental.
Por isso, embora o Brasil seja menos pobre e ignorante que há quarenta anos, não é menos injusto. O balanço histórico é devastador. O país mudou muito pouco. Tudo é dramaticamente, lento. Pior, aquilo que não avança, recua. Porque a direção lulista se deixou transformar em presa da operação Lava Jato, desmoralizou-se diante de parcelas grandes da classe trabalhadora e da juventude, e entregou as classes médias exasperadas (pelas denúncias de corrupção, pela inflação nos serviços, pelo aumento dos impostos, etc.) nas mãos do poder da Avenida Paulista, abrindo o caminho para um governo Temer ultrarreacionário. E depois Michel Temer entregou nas mãos da extrema direita e de Jair Bolsonaro. Não foi para isso que uma geração lutou tanto.
Lula conquistou, entre 1978 e 1989, a confiança da imensa maioria da vanguarda operária e popular. A proeminência de Lula foi uma expressão da grandeza social do proletariado brasileiro e, paradoxalmente, de sua simplicidade ou inocência política. Uma classe trabalhadora jovem e com pouca instrução, recém-deslocada dos confins miseráveis das regiões mais pobres, sem experiência de luta sindical anterior, sem tradição de organização política independente, porém, concentrada em grandes regiões metropolitanas de norte a sul e, nos setores mais organizados, com uma indomável disposição de luta.
As ilusões reformistas de que seria possível mudar a sociedade sem um conflito de grandes proporções, sem uma ruptura com a classe dominante, eram majoritárias e a estratégia do “Lula lá” embalou as expectativas de uma geração. Essa experiência histórica ainda não foi superada. Mas o governo Lula III não pode se beneficiar da situação atípica de vinte anos atrás. São muitas as diferenças. Mas a principal é que há uma corrente de extrema-direita liderada por neofascistas que querem voltar ao poder. Além de lento, o Brasil é um país perigoso.
*Valerio Arcary é professor de história aposentado do IFSP. Autor, entre outros livros, de Ninguém disse que seria fácil (Boitempo). [https://amzn.to/3OWSRAc]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA