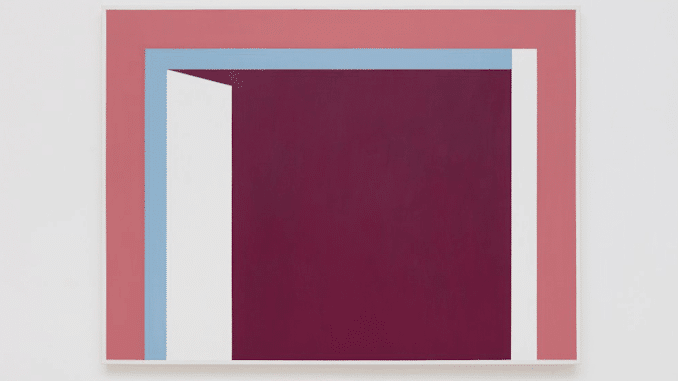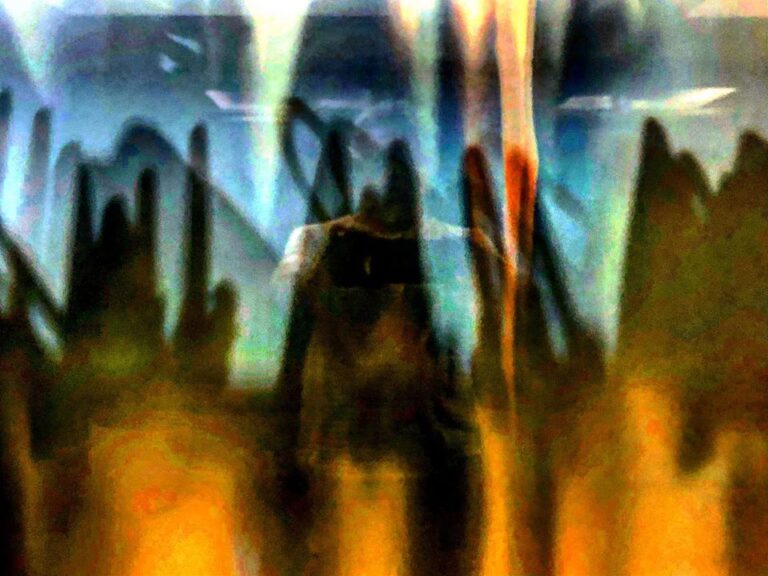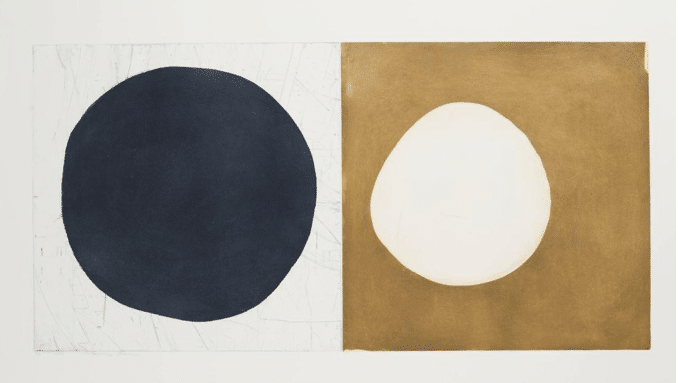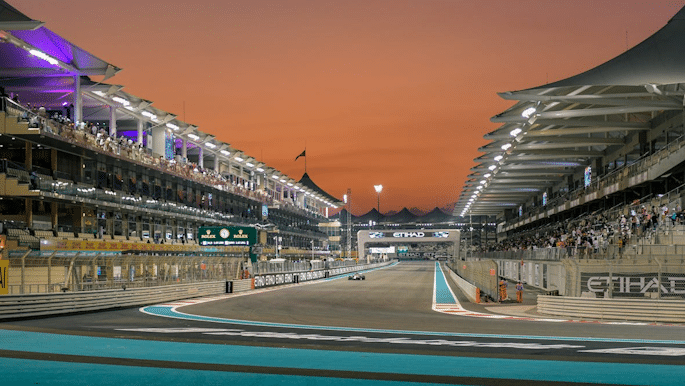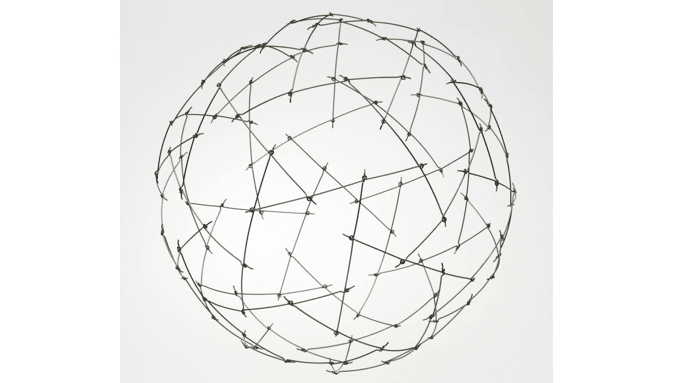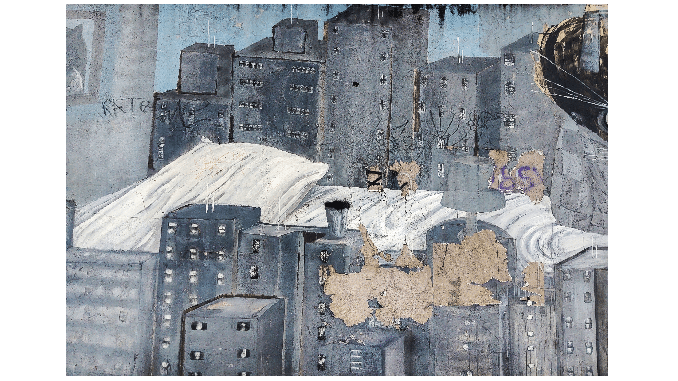Por VALERIO ARCARY*
A atual conjuntura expressa um desenlace parcial e temporário de uma luta política inconclusa
Marx comentou uma vez que a história podia ser, estupidamente, lenta. É bom lembrar que a ditadura militar tinha muito apoio popular no início dos anos 1970, mas depois mais de cinco milhões de pessoas foram às ruas nas Diretas Já em 1984; que o governo Sarney foi ultra-popular no ápice do Plano Cruzado, mas depois milhões aderiram à greve geral em 1989, e Lula chegou ao segundo turno; que o governo Collor era super-popular enquanto a inflação não disparou em 1991, mas depois outra vez, alguns milhões foram às ruas para derrubá-lo; que o governo FHC era mega popular em 1994, e foi reeleito em primeiro turno em 1998, mas depois em 1999 a campanha Fora FHC mobilizou centenas de milhares, e abriu caminho para a eleição de Lula em 2002.
Na verdade, a atual conjuntura expressa um desenlace parcial e temporário de uma luta política inconclusa. Vai passar, só não sabemos quando. Mesmo depois de cinco meses de pandemia, em um contexto de tragédia humanitária, e um inusitado desemprego superior, provavelmente, a 20% , a rejeição ao governo Bolsonaro diminuiu.
A esquerda é ainda mais influente entre os trabalhadores com contrato, celetistas do setor privado e funcionários públicos e na juventude, e a oposição a Bolsonaro majoritária entre as mulheres e negros, mas a confiança popular na força das mobilizações permanece baixa. Estamos há cinco anos em uma situação reacionária, e a oscilação na conjuntura do último mês foi desfavorável.
Estamos todos, em maior ou menor grau, um pouco perplexos. As pesquisas da últimas semanas confirmam que a resiliência do bolsonarismo tem se revelado poderosa. A influência da corrente neofascista é majoritária entre os empresários, se consideramos a burguesia brasileira de conjunto, ainda que haja divisões; ainda mantém maioria nas camadas médias, embora sofra desgaste; e avança entre os trabalhadores informais, aqueles que não não têm contrato de trabalho.
O paradoxo é que a experiência com o governo de extrema-direita, ainda que esteja em desenvolvimento, é lenta. Essa lentidão não deve ser exagerada, mas é real. Um bom momento para lembrar a máxima de Spinoza: “nem rir, nem chorar, compreender”. Não é um mistério. São variados e conhecidos os fatores objetivos e subjetivos que explicam estas flutuação: impacto da injeção dos R$ 200 bilhões do auxílio emergencial, elevação do consumo, adaptação fatalista à longa duração da pandemia, reativação parcial da atividade econômica, isolamento das esquerda ao espaço das redes, etc.
Queremos culpados. Mas compreender a realidade que nos cerca exige pensar em níveis diferentes de abstração. A culpa dos cem mil mortos é, evidentemente, de Bolsonaro, porque era possível evitar que a calamidade se transformasse em cataclismo. Mas de quem é a culpa, se em plena catástrofe, a rejeição ao governo diminuiu?
Existem três respostas simples, límpidas, óbvias, evidentes e erradas. Todas são parciais e, portanto, meias-verdades. Meias verdades são meias mentiras. A primeira é que não há culpados: Bolsonaro mantém posições porque venceu o debate público e nós perdemos. É um argumento circular: nós perdemos porque os neofascistas ganharam. Sim, há um grão de verdade. Mas, por que perdemos?
A segunda resposta é que a culpa é da parcela do povo pobre que não entende, e absolve a responsabilidade do governo. É um argumento injusto e perigoso. As massas não são politicamente, inocentes, porque ninguém é. Mas culpar as massas pelo seu destino é um argumento reacionário e cruel. É reacionário, porque a culpa pela preservação de Bolsonaro é da burguesia e da classe média que o apoiam. É cruel, porque as amplas massas estão consumidas em uma luta atroz pela sobrevivência.
A rigor, não deveríamos estar surpresos. Não é nada excepcional. Ao contrário, essa é uma das regularidades históricas mais freqüentes, e por isso mesmo é que a história tem um grau de incertidão e imprevisibilidade tão elevado. Os trabalhadores, como todas as classes sociais ascendentes no passado histórico, passaram pela cruel escola do aprendizado político-prático para construir uma experiência e uma consciência de onde estavam localizados os seus interesses de classe.
Como se não fosse comum as classes populares agirem contra os seus interesses. Não só o fazem, dentro de certos limites, e por um certo período de tempo, até que os acontecimentos mesmos demonstrem, pela força viva das suas conseqüências, quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado, como o fazem de forma recorrente.
Nesta perspectiva, as responsabilidades das organizações dirigentes e dos seus atos seria, politicamente, pouco relevante. Isso é falso. As responsabilidades dos sujeitos sociais não podem absolver as responsabilidades dos sujeitos políticos. Nas sociedades contemporâneas assistimos, de forma ininterrupta, uma defasagem entre as necessidades objetivas das classes, e o grau de consciência, ou seja, o estado de espírito, o humor, o ânimo que a classe trabalhadora tem sobre os seus interesses.
Em momentos de súbitas viradas do curso das situações políticas, como na pandemia, o fenômeno ocorre com mais intensidade. Essa defasagem é mais acentuada entre os trabalhadores do que entre as classes dominantes, pela razão arqui-conhecida de que os trabalhadores têm sempre que vencer uma enorme quantidade de obstáculos materiais, culturais, políticos e ideológicos para se afirmar e constituir como classe independente.
A terceira resposta é que a culpa é da direção dos partidos de esquerda que abraçaram a campanha Fora Bolsonaro, mas não conseguiram um desgaste mais acelerado do governo. Os partidos de esquerda de base operária são, historicamente, um instrumento de organização e resistência, são ou devem ser um ponto de apoio para que a classe possa se defender: essa seria a sua utilidade, e se fracassarem nesse elementar propósito, tendem a perder autoridade, audiência e respeito.
Existe uma intransferível responsabilidade moral e politica, em uma esfera diferente das responsabilidades das massas, que é própria das organizações políticas e suas direções. No caso dos partidos de esquerda essa responsabilidade parece ser, historicamente, ainda maior, dado a enorme dificuldade de uma classe ao mesmo tempo explorada materialmente, oprimida culturalmente e dominada politicamente construir a sua independência. Mas, se é verdade que uma parte da esquerda hesitou em subir o tom, e foi difícil, durante pelo menos dois meses construir uma Frente Única de Esquerda pelo Fora Bolsonaro, não é justo concluir que esta recuperação do governo repousa nas suas costas.
Como sempre, em uma avaliação em perspectiva histórica, é preciso considerar de onde viemos, para termos parâmetros de para onde vamos. Viemos do impasse das mobilizações de 2013; do giro do governo do PT com a nomeação de Joaquim Levy e o ajuste fiscal em 2015; da divisão e desmoralização entre os trabalhadores com o desemprego em massas; dos deslocamentos da classe média para uma oposição furiosa embalada pela narrativa contra a corrupção; do triunfo do golpe parlamentar; da incapacidade do PT de liderar a campanha pelo Fora Temer; da condenação e prisão de Lula; e da vitória eleitoral de uma liderança neofascista em 2018.
A democracia não é um regime político de luta entre os iguais: as classes proprietárias lutam para exercer e preservar um domínio e um controle sobre a vida material, e, também, sobre a vida cultural e politica dos trabalhadores, em condições de superioridade que são incomparáveis. A burguesia, em outras palavras, luta por uma hegemonia sobre toda a sociedade, sob a bandeira dos seus valores e seus interesses, que são sempre apresentados como os interesses de todos: ela não ambiciona somente dominar, ela quer dirigir. Mas tudo tem limites históricos. Vai passar.
*Valério Arcary é professor aposentado do IFSP. Autor, entre outros livros, de O encontro da revolução com a história (Xamã).