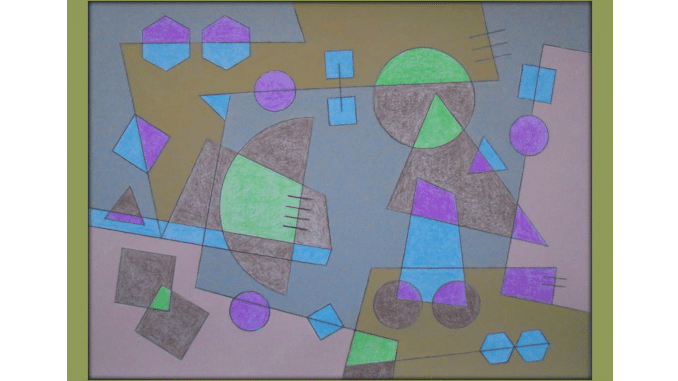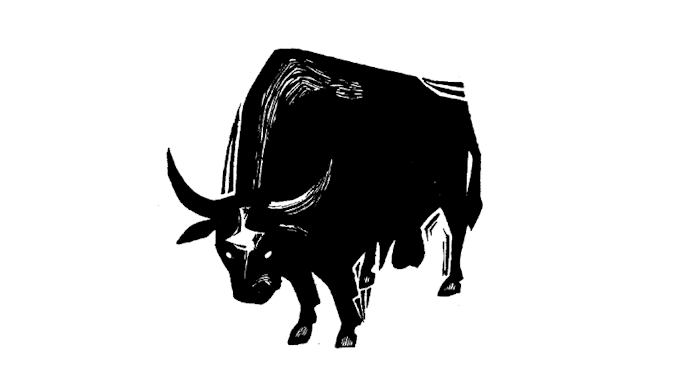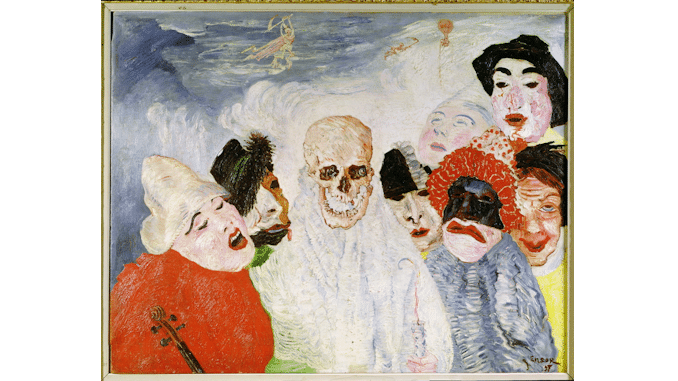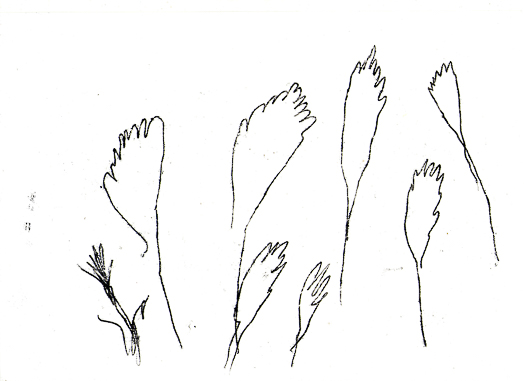Por DANIEL GORTE-DALMORO*
Comentário sobre a encenação da peça de Beckett pelo Teatro Oficina
Samuel Beckett, através de seu teatro – e toda sua literatura – do absurdo, leva ao paroxismo cenas que, no fundo, são o nosso mais banal quotidiano, mas que normalizamos – até como forma de suportar o sem sentido de ações em um mundo (socialmente construído) que reiteradamente nos nega a possibilidade de criar sentido à nossa existência. “A gente sempre inventa alguma coisa para ter a impressão que a gente existe”, diz Estragon, talvez numa frase já caduca para o século XXI, primeiro porque a gente não precisa ter a impressão de que existimos, precisamos passar essa impressão; e segundo porque estamos num tempo em que crianças são instadas a obedecer até mesmo em seus momentos de lazer, entretidas e devidamente caladas por parafernálias eletrônicas ou animadores de festas, que negam qualquer tempo vazio por onde a criatividade e a autonomia possam florescer – porque uma pessoa diante do vazio é uma pessoa que questiona e incomoda, uma pessoa que inventa e pode fugir do controle.
A não ser que seja a pessoa o próprio vazio: desprovido de qualquer relação com o tempo que não seja de tédio, como Estragon, a viver num eterno presente, em que sequer as marcas no corpo – a ferida da perna, do chute de Lucky (ou Felizardo, como na versão do Oficina), a necrosar – conseguem imprimir uma memória, e cujas lembranças são apenas as referências mais óbvias para estar no mundo – um mundo muito estreito, ainda por cima -, como sua amizade com Vladimir. Sim, talvez um avanço para o tipo ideal de sujeito que temos hoje: cidadãos de não-lugares, que não estabelecem mais que relações fugazes, rasas – líquidas – com tudo o que o rodeia (locais, coisas e pessoas), e se movimentam em meio a sinalizações publicitárias.
A montagem de Esperando Godot feita pelo Teatro Oficina, é de uma feliz sutileza ao atualizar a condição do sujeito de hoje à obra de 1952, sem deixar se seguir muito rente ao texto.
Há uma dinamicidade e vivacidade em Vladimir e Estragon que eu ainda não vira em nenhuma das montagens a que assisti – nem noto no texto. Um frescor de novidade e aventura naquele mais do mesmo sem sentido e sem graça que os dois personagens vivenciam. A insistência de Estragon de partirem aparece mais como inquietação e falta de memória, e não de tédio – ainda que, sim, aquela situação é tediosa o suficiente para não querer estar.
E quem mais deveria estar entediado, cansado de esperar – porque tem noção da espera –, Vladimir, é quem mais se mostra animado a preencher esse vazio de não acontecimentos, como se fosse o mais corriqueiro da vida e não coubesse qualquer negatividade – “good vibes only”, como dizem muitas pessoas hoje em dia, desesperadas em negar o mundo e sua própria condição.
Uma das sutilezas da montagem, presente pelo seu não aparecimento, é a ausência de toda pulsão sexual que habitualmente marca as peças do Oficina. A insinuação de cunho mais sexual – no nabo ou cenoura que Vladimir entrega para Estragon comer – soa brincadeira de quinta série (ou do presidente e seus adeptos), os beijos entre os dois tem um quê de demonstração de um afeto desesperado e dessexualizado. É como se Zé Celso nos avisasse: não há tesão possível sob a égide do fascismo, seja ele o fascismo aberto do bolsonarismo, seja o fascismo velado do liberalismo (Viagra, plásticas e Only Fans estão aí para servir de muletas a nossa incapacidade de ter prazer diante da obrigatoriedade de aparecer sempre prontos a gozar).
Outra mudança sutil está na cena em que Felizardo fala. Ao invés da verborragia ininterrupta e desvitalizada à qual eu estava acostumado em outras montagens, Felizardo atua em sua fala de modo “profissional”, sem maneirismos, sem faltas ou excessos nessa atuação – apenas alguns enroscos maquinais. Este ponto, assumo, me incomodou: está por normal demais para a reação dos dois protagonistas de quererem calá-lo a qualquer custo – normal no texto (nada próximo das absurdidades que ouvimos de bolsonaristas, Cantanhede, Sardenberg, Pedro Doria, Vera Magalhães, Oyama e outros jornalistas e “formadores de opinião”), normal na encenação (ou no trejeito espetacular que assimilamos como sendo a normalidade, mas é de uma artificialidade atroz). A fala ininterrupta e desvitalizada, ou uma declamação cheia de kitsch, de maneirismo de classe média forjada nas novelas da Globo me pareceriam mais apropriadas.
Os pontos onde Zé Celso descolou do texto estão no final de cada ato. Primeiro com o menino que vai avisar que Godot não irá naquele dia, mas sim no próximo. Ao invés de uma criança insegura e amedrontada, um aprendiz de malandro da velha guarda, com vocabulário devidamente atualizado, que parece recém saído de um terreiro. A amiga que me acompanhou – e que desconhecia a obra – se disse impressionada com o diálogo entre ele e Vladimir no fim do primeiro ato; eu apenas segurava o riso com o choque que esse personagem me trouxe – e lembrava de outra amiga, professora do ensino básico, comentando dos seus alunos mini-mano de sete anos.
A escolha desse menino fica evidenciada ao fim do segundo ato. Quando ele reaparece, e Vladimir segue o diálogo posto por Beckett, de conformismo com a vinda só no dia seguinte. O menino rompe o texto, de início sem ser ouvido por Vladimir. Godot se transmutou em outra entidade – Godot está morto. Não virá – como nunca veio e nunca viria. Não é mais necessário esperá-lo. Vladimir e Estragon estão livres para partir e construir seus caminhos, suas vidas, tentar ser ao invés de apenas dar a impressão.
Com esse final, Zé Celso nos instiga a agir, a sair da letargia, a parar de esperar. Ele repete isso, em sua fala, após o fim da peça: não esperemos por um Messias, não fiquemos parados esperando a eleição de Lula. Como ateu, faço uma leitura um pouco mais pessimista do final proposto pelo diretor: seguimos esperando. Se não é mais Godot, esperamos alguém que nos anuncie que não precisamos mais esperar. Seguimos passivos, dependentes do animador de festa, do menino recém saído do terreiro, do diretor de teatro, de alguém com alguma “autoridade” que nos diga: vão! Saiam! E saímos todos do teatro. Podemos mesmo sair da espera pela chegada de quem virá consertar tudo quase como em um passe de mágica, mas teremos saído da posição de quem não sabe agir com autonomia – política e eticamente -, conseguiremos construir nosso próprio caminho, um caminho que, por vivermos em sociedade, é ao mesmo tempo individual e compartilhado, coletivo?
*Daniel Gorte-Dalmoro é mestre em filosofia pela PUC-SP.
Publicado originalmente no Jornal GGN.