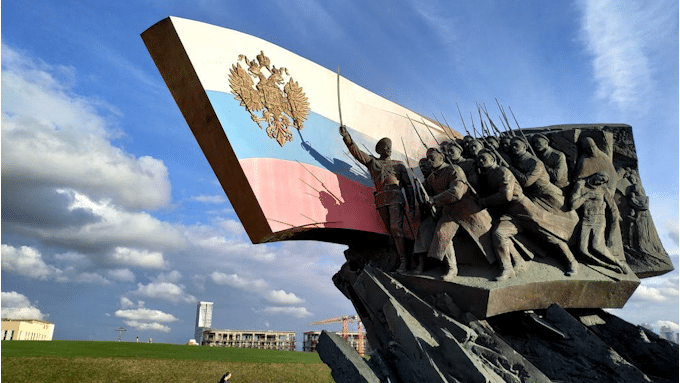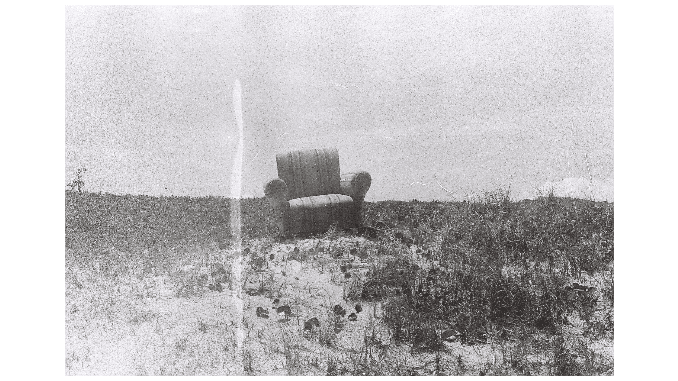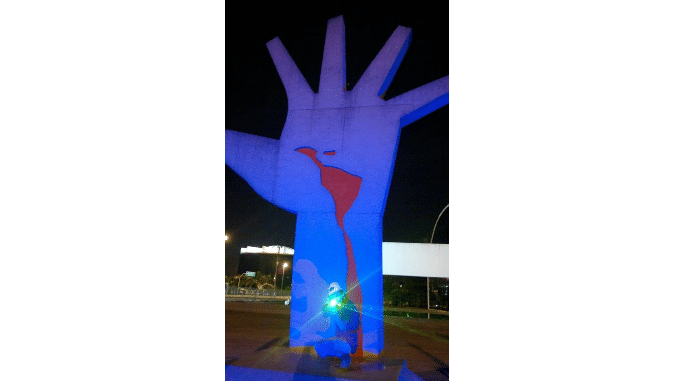Por ANSELM JAPPE*
Uma terra na Europa que poderia oferecer as condições para repetir, com todas as diferenças necessárias, a experiência zapatista
Se há uma terra na Itália que poderia experimentar formas novas e utópicas de vida autônoma, livre tanto da opressão do Estado quanto do Capital, é a Sardenha. Onde a falta de emprego e a mercantilização selvagem oprimem a vida das pessoas, mas onde os recursos, incluindo os históricos, os experimentos sociais do passado, bem como os naturais e humanos, permitem que a imaginação seja utilizada para não se resignar às humilhações da existência.
A cada início de verão, para boa parte da população da Sardenha começa a “temporada”: a esperança de encontrar um emprego no turismo, nos bares, restaurantes e hotéis, nas praias e nos resorts, nos barcos dos oligarcas russos e nas mansões dos muy machos italianos. Muitas vezes ilegalmente, e se estiver “regularizado”, com a obrigação implícita de acrescentar muitas horas de trabalho não remunerado. Três meses trabalhando setenta horas por semana em condições terríveis constituem, para muitos estudantes, o preço para poder continuar, bem ou mal, os estudos o restante do ano. Quando a temporada promete ser fraca, ou mesmo quase inexistente, como durante a pandemia de Covid, ou quando os clientes mais ricos não aparecem mais, é uma catástrofe para a ilha inteira. É necessário, então, esperar ser recrutado em um call center e receber alguns trocados para ser mandado para o inferno o dia inteiro por pessoas exasperadas com ligações indesejadas.
Mas ainda é preciso trabalhar! Correr quatorze horas seguidas, de uma mesa para a outra, entre clientes insatisfeitos, porque não foram atendidos com relativa rapidez, limpar os banheiros dos iates, divertir os filhos dos ricos, mesmo quando não se tem vontade de rir, arredondar o salário mostrando-se “simpático” com os senhores velhinhos, ou passar o verão sob a luz de neon na frente do caixa de um supermercado, e tudo isso esperando ser realmente pago no final… É sempre melhor do que não trabalhar, ou seja, ficar sem dinheiro!
Os sardos se dizem orgulhosos, com prazer. Mas o que é mais humilhante do que este tipo de “serviço”? É necessário, então, lamentar os tempos da industrialização? Quando havia trabalho “de verdade” na Sardenha, aquele nas fábricas, com direito a sindicatos e contrato nacional? Nem os mais loucos ou os mais “progressistas” poderiam, hoje, lamentar as tentativas de industrialização da Sardenha em Ottana ou Porto Torres. Em poucas partes da Europa, a indústria pesada mostrou sua cabeça de Górgona de maneira tão brutal e tão visível: empregos (e que empregos!) para poucas pessoas e por poucos anos em troca de destruições ambientais por séculos (e sequer as recuperações tecnicamente possíveis foram realizadas porque são “muito caras”) e de uma deterioração irreparável do tecido social (que estava, aliás, entre os objetivos declarados da abertura das fábricas: um sardo na linha de montagem não será mais um bandido, mas um sindicalista de carteirinha, dizia-se nos ministérios). E ficar na linha de montagem não constitui, depois da prisão, a condição mais grave à qual um ser humano pode ser condenado?
Será, então, melhor trabalhar nos serviços, ser funcionário, especialmente no setor público, com um emprego fixo – vitalício – que torna tão fácil obter um financiamento para comprar uma casa? Poderá parecer menos ruim em relação às alternativas mencionadas acima. Mas será que uma vida passada atrás de uma mesa diante de um monitor é uma vida feliz? Quantas vezes as pessoas se esforçam para fazer coisas absolutamente inúteis? Quantos empregos poderiam desaparecer sem que ninguém percebesse?
Como chegamos a essa alternativa, trabalhar a qualquer custo ou morrer? Como uma civilização que se autoproclama a mais rica que já existiu – a contemporânea – pode colocar os seres humanos diante da escolha entre “morrer de fome imediatamente” e “morrer de câncer daqui a vinte anos”, como acontece com os trabalhadores da Ilva em Taranto? No entanto, quão forte é essa chantagem constante, esse ataque incessante à dignidade humana, especialmente na Sardenha, onde o emprego é um animal tão raro e onde se considera sortudo qualquer pessoa que tenha apenas um “fiasco de trabalho”, então não é hora de ser exigente!
Claro, não é culpa do indivíduo. Enquanto as coisas continuarem como estão, a obrigação de fazer qualquer coisa para obter o dinheiro indispensável para sobreviver vale para todos. Ninguém consegue oferecer uma solução imediata. Mas uma coisa são as situações de curto prazo do indivíduo, outra é saber no que se deve concentrar no âmbito político e social.
É preciso, sobretudo, parar de reivindicar “crescimento econômico”, o “desenvolvimento” e os “postos de trabalho”. Vamos nos esquecer desses objetivos! Se ainda for necessário procurar trabalho no imediato, assim como o preso só pode reivindicar ração, por mais repugnante que seja, em termos coletivo, projetual, “político”, deve concentrar-se em objetivos bem diferentes.
Ok, mas quais?
Exigir a possibilidade de viver realizando atividades sensatas em vez de pedir emprego. Existe uma diferença fundamental entre atividade e trabalho. Isso raramente é levado em consideração, porém, é fácil explicá-la.
O que se chama de “trabalho” é uma atividade realizada – seja secundária, seja de forma remunerada e dependente, seja de forma (pseudo-)independente – com o único objetivo de obter uma quantia. Pode-se ser explorado ou explorador, fazer um trabalho mais ou menos pesado, e talvez, às vezes, até um trabalho agradável, mas o significado do trabalho nunca é primordial. A única coisa que importa é o sucesso no mercado. Pode haver indivíduos mais ou menos bem ou mal-intencionados nesta disputa, mas, em última análise, não é a vontade do indivíduo que importa, e sim o funcionamento automático de uma máquina gigantesca, ao mesmo tempo social e tecnológica, que avança de acordo com suas regras. O trabalho é indiferente ao conteúdo e, portanto, também às condições de trabalho e às consequências para o meio ambiente e para o homem. Ao mesmo tempo, grande parte do trabalho realizado é inútil, ou até mesmo prejudicial: serve apenas para manter a grande máquina social e reparar os danos que ela causa. Todos sabem disso, mas é conveniente falar sobre isso o menos possível.
O oposto seria partir das necessidades e desejos, decidindo coletivamente quais deles valem a pena ser satisfeitos e a que custo. Neste caso, o caráter árduo e desagradável de certas atividades não desapareceria completamente, mas, em geral, se reduziriam ao que é realmente necessário para uma boa vida das pessoas. E a soma dessas atividades, pode-se ter certeza, seria muito menor do que a dos trabalhos que precisam ser realizados hoje.
Um modo de vida e de produção que parta das necessidades verdadeiras e limite as atividades às necessárias será, evidentemente, muito mais compatível com as exigências de preservação das bases naturais da vida. Exige, igualmente, uma redução da complexidade, uma relocalização dos circuitos de produção e de consumo, uma forte reciclagem, uma valorização dos saber-fazer tradicionais e compreensíveis em vez de procedimentos complexos que só os “especialistas” podem gerir. Seria, portanto, muito mais democrática e igualitária do que as condições atuais.
Seria, da mesma maneira, uma forma de “autonomia”. Não daquela outra forma de servidão que hoje se chama “trabalho autônomo”, nem da mísera “autonomia” institucional de uma região do Estado. Tratar-se-ia de autonomia material: cada unidade territorial produz e consome, na medida do possível, em escala local pega de fora só aquilo que não pode produzir localmente. Isto significaria, em especial, um grande ganho em termos de liberdade e independência reais, quotidianas e materiais: não ter de sentir frio porque um distante senhor da guerra fecha a torneira do gás, não ter de sentir fome porque os sacos de produtos alimentares dobraram o preço do trigo, não tendo condições de pagar o financiamento porque um mercado de ações do outro lado do mundo entrou em colapso, não se ver na impossibilidade de ter o pão de cada dia porque o seu “empregador” decidiu transferir as atividades para um país onde os escravos são mais baratos.
Isto não é “autarquia”. Estas unidades não seriam fechadas entre si, não seriam autossuficientes. Trocarão, com o vizinho imediato ou com um país muito distante, o que não pode ser produzido localmente e que ainda pode ser de certo modo aspirado. Mas estas trocas seriam mínimas em comparação às atuais, que são ditadas apenas por razões econômicas (“vantagens comparadas”, cordeiros enviados da Nova Zelândia para a Sardenha, camisetas fabricadas em Bangladesh, livros impressos nos Balcãs etc., tudo isso apenas para sempre economizar alguns trocados).
Isto não significa necessariamente viver apenas da agricultura e do artesanato, embora essas atividades recuperem, sem dúvida, boa parte de sua antiga importância. E, sobretudo, não seriam atividades especializadas desenvolvidas como único horizonte da vida, mas constituiriam, em vez disso, uma contribuição para atividades comuns e, em parte, também um exercício agradável das próprias habilidades.
Envolveria também um reequilíbrio entre cidade e campo. Só a necessidade de encontrar “trabalho” explica o enorme afluxo às cidades, e especialmente aos subúrbios. Assim, o grave problema do despovoamento do interior e das pequenas cidades da Sardenha seria resolvido.
Este programa implica independência política? Esta afirmação é uma falsa questão. O importante é o que se faz em determinado território. A independência pode ser útil para um território mais avançado no caminho da autonomia material, para evitar a interferência de outros Estados. Mas então seria apenas, com razão, um meio para atingir um fim. A independência política como fim é uma armadilha. Deve-se transcender a existência de Estados enquanto tais e não aumentar o número deles, nem reagrupá-los em superestados (União Europeia etc.). Se de uma Sardenha como Estado independente acontecessem as mesmas coisas como hoje, qual seria a vantagem? Ser agredido por um policial, ou por um marido, que fala a mesma língua não representa grande progresso. Ter as mesmas instituições, a mesma classe política, as mesmas relações sociais e econômicas de agora, apenas com o rótulo “independente”, só pioraria as coisas. O objetivo certamente não é promover o governador a chefe de Estado.
Não se trata, portanto, de amar a Sardenha por aquilo que ela é hoje, mas por aquilo que poderia ser. A afirmação não deve ser confundida com discussões sobre origens, identidade, raízes. Pode-se ser sardo por vinte gerações e descender diretamente dos construtores de nuraghe e, no entanto, urbanizar costas, e pode-se vir do outro lado do mundo, acabar de sair de um bote e participar plenamente na construção da autonomia.
Se existe uma continuidade da memória histórica, esta é mais negativa do que positiva: é a lembrança dos abusos sofridos no passado e no presente. E se a Sardenha poderia ser uma terra de autonomia, não é porque a Sardenha é a Sardenha, ou porque lá se dança ballu tundu ou o pão é feito de uma certa maneira, mas porque faz parte daquelas áreas do mundo onde, talvez, ainda existam algumas bases – como a lembrança ou a prática das terras comunais – para uma futura reconstrução da humanidade. Se certas tradições, mentalidades, elementos históricos podem contribuir para a construção da autonomia na Sardenha, não são de jeito nenhum uma garantia e muito menos são automaticamente encontrados em cada um dos sardos.
Nos últimos tempos, tem havido um renovado interesse pela obra de William Morris (1834-1896) em vários países. Ele não foi apenas o inventor do movimento Arts and Crafts, e, portanto, indiretamente do design, e um prolífico escritor, mas também um vigoroso crítico da sociedade industrial e capitalista. Em numerosas conferências e escritos, Morris denunciava, com uma perspicácia sem precedentes em sua época, a destruição da vida pela produção industrial. Foi, também, um dos primeiros a criticar o capitalismo (mas não só) de um ponto de vista estético, insistindo, além disso, (o que na época era quase único) nos danos ecológicos. Ele também era um conhecido ativista socialista e anarquista. Em seu romance News from Nowhere (1890), Morris imagina uma futura sociedade sem Estado, nem mercado, nem dinheiro ou grandes cidades, onde a agricultura e o artesanato, praticados por prazer, constituem a atividade principal dos habitantes. A produção de peças artesanais substituiu a produção em massa feita apenas com fins lucrativos; as tecnologias estão em uso, mas apenas para evitar os trabalhos mais repetitivos. As guerras e a poluição, o poder político e a pobreza desapareceram. O resultado é uma sociedade frugal, mas alegre. A beleza desempenha um papel central nisso, assim como a liberdade e a igualdade sociais.
Com o naufrágio de muitas ideias de esquerda, do reformismo social-democrata ao leninismo, e com a difusão das ideias ecologistas e do “decrescimento”, William Morris voltou a ser atual.
Mas o que Morris tem a ver com a Sardenha (onde nunca pisou)?
Será que esta terra “atrasada” não poderia estar na vanguarda quando se trata de ir além da “megamáquina”, isto é, do entrelaçamento perverso entre a lógica do dinheiro e do trabalho, de um lado, e, de outro, de uma tecnologia que se tornou enlouquecida?
Diante da catástrofe ecológica e social, ocorrerão mudanças drásticas em todo o mundo; dependendo de serem controlados ou selvagens e eventualmente apocalípticos, saberemos que direção tomarão. Poderá haver iniciativas na Sardenha que vão na direção de superar a sociedade capitalista e industrial para substituí-la por um modo de vida que tenha alguma semelhança com o descrito por Morris?
Em 1969, o editor, bilionário e aspirante a guerrilheiro Giangiacomo Feltrinelli visitou brevemente a Sardenha, onde tentava – em vão, ao que parece – encontrar os líderes do banditismo sardo: o seu projeto era criar uma guerrilha na ilha para ali estabelecer um Estado comunista, no modelo de Cuba, como plataforma para futuras lutas contra o “imperialismo Americano”. Era o tempo do terceiro mundismo. Dez anos antes, Fidel Castro tinha tomado o poder em Cuba, depois de ter começado a luta armada na Sierra Maestra com um núcleo de apenas 19 guerrilheiros. A ideia de Feltrinelli era absurda e claramente não se concretizou, e o aspirante a Castro voltou rapidamente para Milão para cumprir seu destino.
Mas uma inspiração muito diferente poderia vir da mesma região do mundo, a América Latina. Há quase trinta anos existe uma experiência político-social que merece ser tomada como fonte de inspiração: o movimento zapatista no estado mexicano de Chiapas. Todo mundo já ouviu falar disso. Se a sua existência contínua é um milagre, é igualmente milagroso constatar que soube, em essência, evitar a regressão autoritária que tinha caracterizado até então quase todos os “movimentos de libertação nacional” no mundo. Renovando-se continuamente, soube integrar os elementos feministas, ecologistas, juvenis etc. sem os quais nenhuma forma de emancipação pode ser concebida hoje. Tudo isso com base de um esforço permanente – sem dúvida difícil e incerto – para garantir uma participação de todas e todos nas decisões comuns. Mas não se trata aqui de entrar nos detalhes desta experiência, certamente única, nem de elogiá-la incondicionalmente. Por enquanto, trata-se de manter firme aquilo que os próprios zapatistas consideram o seu ponto essencial: a construção da autonomia. Autonomia não só política, mas como construção permanente de uma nova forma de vida coletiva que deve o mínimo possível ao Estado e ao Capital enquanto estes ainda existirem, e que quer contribuir, dando o exemplo, para a sua superação em todos os lugares.
Se há uma terra na Europa que poderia oferecer as condições para repetir, com todas as diferenças necessárias, a experiência zapatista, se há também na Europa um canto esquecido pelo “desenvolvimento” e, justamente por isso, cheio de reservas humanas, poderia ser a Sardenha. Um processo de separação do mundo velho, mas não necessariamente em termos institucionais e territoriais, que resgata tradições pré-capitalistas, mas inclui também uma transformação da sociedade tradicional. Uma utopia? Melhor empenhar-se para uma utopia positiva do que contribuir para devastar o mundo.
*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de Roma, na Itália. Autor, entre outros livros, de Crédito à morte: A decomposição do capitalismo e suas críticas (Hedra). [https://amzn.to/496jjzf]
Traduzido por Juliana Haas.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA