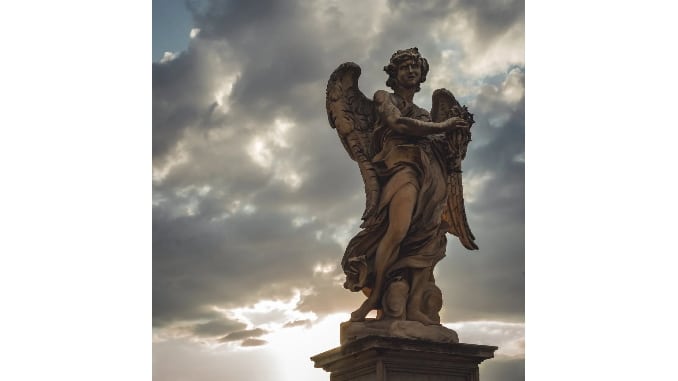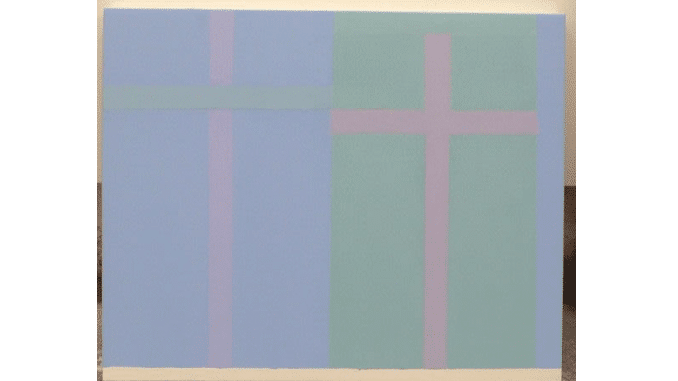Por HENRY BURNETT*
A grande vitória do nazismo não foi exterminar judeus, negros, deficientes e gays, mas reduzi-los a uma condição sub-humana. E de várias maneiras o nazi-fascismo venceu e continua vencendo
Como muitas pessoas no Brasil e no mundo, tomei um choque inicial com a frase de Lula sobre a ação israelense e sua similitude com a ação nazista. A reação previsível veio imediatamente, sobretudo através da chamada grande imprensa – até onde pude ler majoritariamente contrária à manifestação do presidente, como era de se esperar. Que tempo teriam para pensar? Algumas análises importantes, sem dúvidas, mas ainda assim não são elas os objetos deste comentário. Quero focar em outro ponto, que parece simplesmente desconhecido, embora presente de maneira ostensiva. Refiro-me, parafraseando Giorgio Agamben, ao “que resta de Auschwitz”.
Como muitos estudantes e professores do Brasil, especialmente da área de filosofia, passei os últimos 30 anos lendo e escrevendo sobre o nazi-fascismo, muitas vezes em detrimento de leituras sobre a escravização, por exemplo. Por isso mesmo, quando o bolsonarismo dava seus primeiros passos, fui um dos que hesitaram em apontar no movimento autoritário doméstico características fascistas.
Temia a banalização de um termo caro à história da humanidade, ao mesmo tempo que não queria emprestar ao extremismo brasileiro ares maiores do que ele efetivamente tinha, ou que duvidava que tivesse, ou seja, hesitei na esperança de estar errado, de querer no fundo que diversos colegas que jamais hesitaram no diagnóstico estivessem errados, me acovardei durante dois anos depois da posse, até mudar completamente minha compreensão daquele momento histórico.
Todos os elementos que movimentaram a ascensão do nazi-fascismo estavam claramente dados durante o fortalecimento do bolsonarismo, cito alguns: a patriotice, a religião, a economia, a família, a moral, a simbologia pátria, os valores, a propriedade, o anti-intelectualismo, o ódio pelas artes, a repulsa ao gozo sexual, a censura aos livros, o recrudescimento à visão “medieval” da Terra, a negação científica, mas, antes de qualquer coisa, o ódio profundo pelo outro, pelo desconhecido.
Os corpos pretos, os gays, os artistas, as pessoas trans, gordas, deformadas, velhas, todo e qualquer tipo humano que destoasse justamente da idealização da família tal como ela se constitui modernamente: na figura central do pai autoritário, da mãe submissa e dos filhos obedientes. Eis o motivo de parecer banal às pessoas “religiosas” e “patrióticas” que todo corpo vulnerável pudesse simplesmente desaparecer; neste sentido a pandemia e o bolsonarismo se irmanaram em uma aliança fraterna. Quanto mais mortos melhor, mas não qualquer morto, sobretudo aqueles que não “amavam o Brasil”, ou, para ficar no exemplo racista, aqueles que jamais entrariam no círculo familiar porque nele perseverava a “educação”.
Se matar corpos desviantes e inadequados sempre foi uma das ações mais eficazes do Império e da República (escravidão, Guerra de Canudos, Ditadura Militar…), a pandemia fazia isso sem custo. Não que a letalidade do Estado desse trégua. As forças de segurança seguiram seu caminho, exterminando sobretudo jovens negros, num programa de branqueamento que já foi defendido teoricamente na virada do século XIX para o XX e que hoje se mantém sob o manto da defesa da segurança, com a aquiescência e proteção do Estado e aplauso das elites, bolsonaristas ou não.
Não precisamos de um conceito atualizado de genocídio, precisamos admitir que calamos diante da sua eficiência programática, pois são variadas as formas de extermínio deliberado em atividade em diversos lugares do mundo, racial, político, étnico, parcial ou total de diversos grupos e/ou indivíduos.
Por que recolocar tudo isso, fatos ademais fartamente conhecidos e estudados nas ciências humanas, para defender Lula? Não. Para lembrar que a grande vitória do nazismo não foi exterminar judeus, negros, deficientes e gays, mas reduzi-los a uma condição sub-humana, indiscernível a partir de qualquer delimitação filosófica, transformando-os em “muçulmanos”, como aprendemos com Primo Levi; homens e mulheres incapazes de comer, pensar, reagir, ou sequer morrer – portanto, muitas formas de genocídio em andamento hoje vão direto ao ponto, embora o fundo racial e a violência extrema permaneçam, ainda que sem as “nuances” laboratoriais e experimentais da SS. Quem deve morrer? Todos aqueles que não se adequam ou que impedem o avanço incontrolável do progresso capitalista imoral, que conduz o mundo na direção aparentemente irreversível de sua autossupressão.
Lembro de tudo isso com vergonhosa brevidade porque o timing exige. Não devemos esquecer que a perenidade do ideal nazista não se manifesta somente em renovados campos de extermínio, prisões ilegais baseadas em estados de exceção “democráticos”, eliminação física de opositores, negligência internacional com os desvalidos, mas em toda e qualquer ação que pretenda eliminar pela força aqueles que impedem o triunfo total dos que pretender escrever a história.
De várias maneiras o nazi-fascismo venceu e continua vencendo, na medida em que suas formas de ação servem ainda hoje como paradigma dos opressores, que sempre devem vencer, sejam eles quem forem.
*Henry Burnett é professor de filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Espelho musical do mundo (Editora Phi).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA