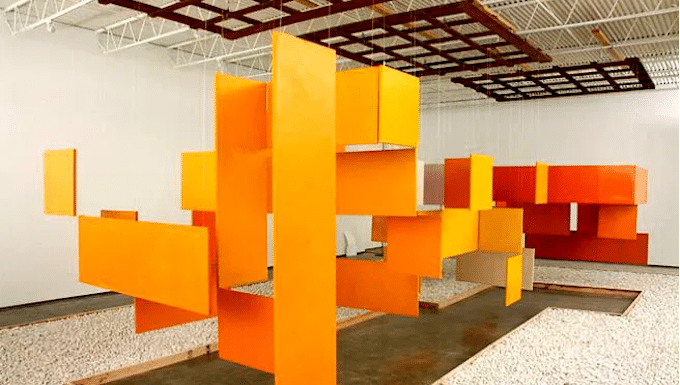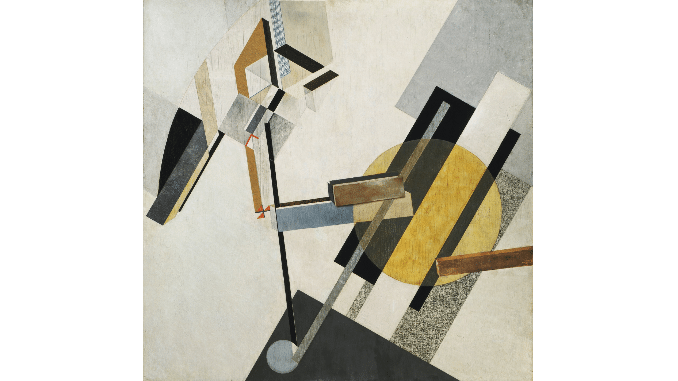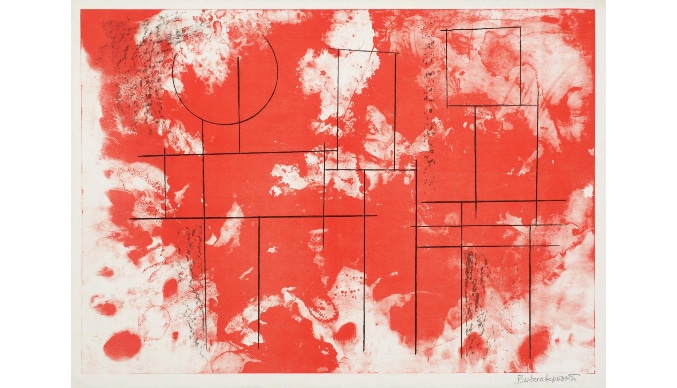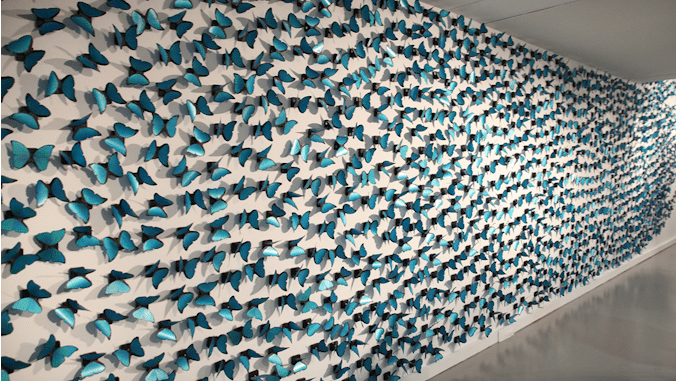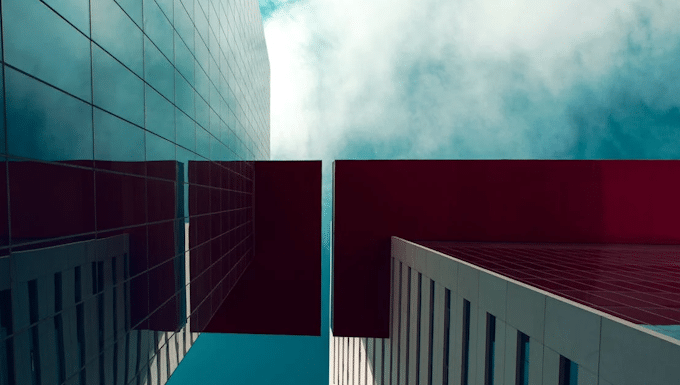Por DANIEL BRAZIL*
Considerações sobre as charges de Marcos Ravelli, o Quinho
As artes plásticas, historicamente, portam características narrativas muito específicas, como a capacidade de tocar de forma sensível corações e mentes. Por “mente” entenda-se a cultura, a inteligência, a capacidade de interpretar símbolos e mensagens ocultas. O antigo adágio de que uma imagem vale por mil palavras nada mais é que uma definição popular desta qualidade.
Mais velha que a palavra, a imagem está presente desde os primórdios da humanidade, como guardam testemunho cavernas e rochedos em todo o mundo. Mesmo após a revolução de Gutemberg, continuou tendo espaço em todo tipo de publicação, através de gravuras, desenhos e pinturas. Com o advento da fotografia, abriu um novo campo de atuação simbólica, que só se ampliou na era digital.
A velha charge, aquele desenho-comentário sobre situações ou pessoas, geralmente com conteúdo crítico ou irônico, surgida em meados do século XVIII e indispensável a partir da popularização da imprensa escrita, continua presente e forte em todas as redes sociais. E é sobre uma delas que me detenho, após um 7 de setembro de tantas expectativas e tanto fiasco.
Marcos Ravelli, que assina suas charges como Quinho, tem produzido peças antológicas. Aliando economia de traços com humor atento e refinado, é um artista com pleno domínio dos recursos narrativos da imagem. Atentem para a capacidade de síntese da ilustração acima, divulgada em vários veículos nos últimos dias.
Quinho coloca com central a figura da Justiça. Não uma justiça qualquer, mas aquela representada pela escultura de Alfredo Ceschiatti, que ornamenta o Ministério da Justiça, em Brasília, reconhecível pela cabeça singular, com a parte superior coberta pela tradicional venda (“A justiça é cega”). A estátua original está placidamente sentada, com a espada sobre as coxas. Na obra de Quinho, a estátua se levanta, empunhando a espada em atitude de defesa. No outro braço, segura umpano vermelho, que imediatamente nos remete à figura de um toureiro.
Completando a analogia, vemos a sombra de um enorme touro, reconhecível pelos chifres, projetar-se sobre a personagem central. Ao lado, várias outras sombras simbolizam o gado, a boiada que acompanha o líder, o chifrudo-mor.
É perfeita a representação do embate atual entre os poderes, no Brasil. De um lado a Justiça, poder absoluto – que não pode ser confundida com alguns de seus representantes terrenos, por vezes covardes e caricaturais -, de outro o ocupante do Executivo, insuflador de golpes e ataques à democracia.
Algum distraído poderá argumentar que falta nesse embate a presença do povo, das organizações sociais e populares que também estão na rua defendendo o Estado de Direito. Bem, voltemos ao pano vermelho. A cor da fraternidade, conforme os princípios da revolução francesa, pode também ser entendida como uma provocação a uma das frases favoritas dos ativistas de direita: “nossa bandeira jamais será vermelha”.
Mas quando a Justiça empunha uma bandeira vermelha para enfrentar os desvarios totalitaristas do presidente e seus sequazes, abre-se caminho para duas linhas de interpretação. Ou a Justiça usa o povo para defender seus próceres, ou, o que é mais provável, precisa do povo para enfrentar os ataques aos seus princípios. Partindo de um humanista como Quinho, optamos sem dúvida pela segunda hipótese, embora a ironia da primeira não possa ser totalmente descartada.
Nesse retrato sintético do momento convulso que vivemos, a bandeira precisa ser vermelha (também de forma simbólica, claro), uma vez que a boiada ameaçadora usurpou a tradicional verde-amarela. Tanto para preservar o que nos resta de Justiça, como para reforçar a necessidade da fraternité, driblando divergências políticas eventuais, é com ela que vamos superar a crise e restaurar a plena democracia, da qual experimentamos o gosto não faz tanto tempo assim.
*Daniel Brazil é escritor, autor do romance Terno de Reis (Penalux), roteirista e diretor de TV, crítico musical e literário.